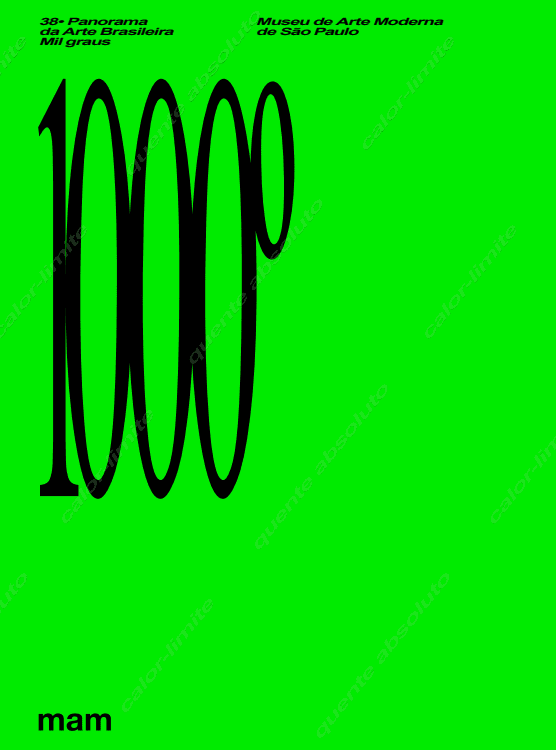

Sumário
- Curadoria.
- Viagens e visitas.
- Natividade, Tocantins.
- Lavras Novas, Minas Gerais.
- Matinha; Terra Indígena Taquaritiua, Maranhão.
- João Pessoa, Paraíba
- Arquitetura e projeto expográfico.
- Ambiente digital.
- Ensaios.
- O fogo, nosso avô – Sidarta Ribeiro.
- Sobre o calor – Denise Ferreira da Silva.
- meu tikum está muito alegre – edson barrus atikum
- Brotar das cinzas – Eliane Potiguara.
- A terra come – Walla Capelobo.
- Visões de interconectividade – Nina da Hora.
- O sexo no funk: a política que ninguém quer ver – Thiagson
- incendiar o Mundo com a água – abigail Campos Leal
- Puro fogo santo e poder – Jackson Augusto
- Dançando nas encruzilhadas – Sidnei Barreto Nogueira.
- Adriano Amaral.
- Ana Clara Tito.
- Antonio Tarsis.
- Davi Pontes.
- Dona Romana
- Frederico Filippi
- Gabriel Massan
- Ivan Campos
- Jayme Fygura
- Jonas Van & Juno B.
- José Adário dos Santos
- Joseca Mokahesi Yanomami
- Labō & Rafaela Kennedy
- Laís Amaral
- Lucas Arruda
- Marcus Deusdedit
- Maria Lira Marques
- Marina Woisky
- Marlene Almeida
- Melissa de Oliveira
- Mestre Nado
- MEXA
- Noara Quintana
- Paulo Nimer Pjota
- Paulo Pires
- Rafael RG
- Rebeca Carapiá
- Rop Cateh Alma pintada em Terra de Encantaria dos Akroá Gamella
- Sallisa Rosa
- Solange Pessoa
- Tropa do Gurilouko
- Zahỳ Tentehar
- Zimar
- Créditos
Apresentação MAM São Paulo.
Elizabeth Machado & Cauê Alves.
A série Panorama da Arte Brasileira é um marco na história das exposições. Iniciado em 1969 como uma mostra anual, a partir da iniciativa de Diná Lopes Coelho, o Panorama do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo) teve seu formato reformulado ao longo do tempo. Desde 1991 ele é realizado a cada dois anos, com exceção do período da pandemia da covid-19, em que a mostra foi adiada e passou a acontecer em anos pares, em vez de ímpares. As diferentes mostras do Panorama marcaram a história do museu e contribuíram para a formação de seu acervo de arte contemporânea. Cada uma das edições estabeleceu diálogos ou reflexões a partir de diferentes posturas sobre a produção artística brasileira e seus vínculos com a cultura e a sociedade.
O início do Panorama da Arte Brasileira coincide com a instalação do MAM em sua sede, na marquise do Parque Ibirapuera. Ele marca a volta do MAM São Paulo para o parque e a presença do museu na marquise projetada por Oscar Niemeyer, local onde ocorreu, em 1959, a exposição Bahia no Ibirapuera, organizada por Lina Bo Bardi que, na década de 1980, faria o projeto para reforma do prédio do museu.
Fechada há cerca de cinco anos, a marquise começou a ser reformada pela Prefeitura de São Paulo em março de 2024. O trecho do MAM, apesar do bom estado de conservação, será restaurado, para manter a integridade do projeto. O restauro está previsto para ocorrer entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, ou seja, durante o 38º Panorama da Arte Brasileira. Para a reforma, todo o acervo artístico do MAM foi retirado e armazenado em galpão especializado, com controle de temperatura e umidade, assim como as publicações da biblioteca, seu arquivo, equipamentos e mobiliários, que foram abrigados em espaços provisórios adequados.
O calendário e todas as atividades do MAM foram mantidos, graças ao apoio e acolhimento de instituições parceiras que possuem laços históricos com o museu, como a Fundação Bienal de São Paulo, que recebeu parte de sua equipe, e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) que, além de ceder espaço para os colaboradores, abriga o 38º Panorama da Arte Brasileira. As seis primeiras edições da Bienal de São Paulo, entre 1951 e 1961, foram realizadas pelo MAM. E o MAC USP nasceu em 1963, a partir da doação da coleção formada pelo MAM, inclusive com as obras adquiridas nas Bienais de São Paulo.
Faz alguns anos que o MAM tem estabelecido parcerias com as instituições do eixo cultural do Parque Ibirapuera. Realizar o 38º Panorama da Arte Brasileira do MAM no MAC, além de uma aproximação histórica entre as duas instituições, é um momento de integração e soma de esforços em benefício da arte.
A seleção do projeto do 38º Panorama da Arte Brasileira: Mil graus envolveu convites para diversos curadores e discussões na Comissão de Arte do MAM. Desenvolvido pelos curadores Germano Dushá, Thiago de Paula Souza e Ariana Nuala, o projeto escolhido para o 38º Panorama parte de uma expressão coloquial que possui múltiplos significados, a depender do contexto, mas sempre com o sentido de elevada intensidade. O recorte curatorial da mostra, que apresenta artistas de diversas regiões do país, indica condições marcadas pelo calor, pelo derretimento e por mudanças drásticas em qualquer matéria existente. Na presente edição, o mundo contemporâneo é observado a partir de condições extremas, tanto no sentido de questões históricas e sociopolíticas, como também em relação a discussões ecológicas e tecnológicas, promovendo iniciativas que estimulem a reflexão sobre arte na nossa sociedade.
Em toda a sua história, esta é a primeira vez que o Panorama da Arte Brasileira não acontece na sede do MAM, na marquise do Parque Ibirapuera. Ainda que a reforma tenha impactado profundamente o museu, certamente a reabertura desse espaço público trará muitos benefícios para todos. Além de ser um marco arquitetônico, a marquise é um local que sempre possibilitou o diálogo entre o MAM e os frequentadores do parque. Com o espaço restaurado, o MAM amplia as condições de cumprir sua missão e desempenhar seu papel na preservação da arte e na formação dos diversos públicos.
Elizabeth Machado – Presidente da Diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Cauê Alves – Curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Apresentação MAC USP.
Ana Magalhães & José Lira
É com enorme satisfação que o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) acolhe o 38º Panorama da Arte Brasileira, tradicionalmente realizado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo). Desde 2018, tem sido um traço fundamental da gestão do MAC USP estabelecer parcerias institucionais para a realização de exposições e eventos culturais em geral que, no caso do MAM, teve como resultado o compartilhamento de duas curadorias: a da mostra dos setenta anos do MAM, em 2018, e a da exposição Zona da Mata, em 2021/2022. O MAM foi também uma das instituições convidadas a participar do webinário “MAC USP Processos Curatoriais: rede São Paulo”, em 2020. Há, portanto, uma nova geração de curadores e diretores que estão revisitando a relação entre estas duas instituições.
Por ocasião da exposição dos setenta anos do MAM, a curadoria do MAC USP trabalhou conjuntamente com a curadoria do MAM para criar paralelos e relações entre os dois acervos. Encontramos pontos em comum entre os modos de colecionismo de ambos, que lançaram mão de exposições e editais de exposições para fazer crescer seus respectivos patrimônios artísticos. Aquilo que o MAM tinha inicialmente em seu DNA, por assim dizer, isto é, a premiação de aquisição das edições da Bienal de São Paulo, nos anos 1950, serviu de estratégia para que, nos anos 1960, tanto o MAC USP quanto o MAM (em seu reestabelecimento) criassem suas próprias mostras periódicas para fomentar a produção contemporânea – no caso do MAC USP, assinalam-se as edições da Jovem Arte Contemporânea (as famosas JAC) e, no caso do MAM, justamente as edições do Panorama da Arte Brasileira.
No caso de Zona da Mata, novamente as curadorias das duas instituições trabalharam em conjunto, desta vez, para tratar da questão da paisagem, da arquitetura e suas articulações com urgência ecológica, que está na pauta do MAC USP e do MAM, por sua localização – o Parque Ibirapuera, lugar que leva em seu nome a ancestralidade do nosso território e carrega os marcos da violência contra ela. Para acentuar nossa presença neste sítio partilhado, a exposição ocorreu em quatro etapas, dividida nos espaços dos dois museus, o que impelia o visitante a fazer a travessia da passarela Ciccillo Matarazzo, que conecta o prédio do MAC USP ao parque – ao mesmo tempo em que nos relembra que o complexo implica todo este conjunto.
Não se pode esquecer que o próprio MAC USP foi criado na Universidade para receber o acervo do antigo MAM, entre 1962 e 1963. Inúmeras pesquisas realizadas nas últimas duas décadas acerca da história dos dois museus demonstraram que a separação entre o MAM e seu acervo, reunido ao longo da década de 1950, foi uma decisão de comum acordo entre o Museu e a Universidade. Ainda que, à época, tenha gerado grande polêmica, a decisão está na origem de duas novas instituições, fundamentais para o amadurecimento do meio artístico local: o MAC USP e a Fundação Bienal de São Paulo. Hoje reunidas no complexo do Parque Ibirapuera, junto com sua instituição-mãe, as relações construídas entre elas vêm se mostrando extremamente frutíferas. Foi o caso da penúltima Bienal de São Paulo, em 2021, quando tanto o MAC USP quanto o MAM constituíram parcerias para a realização de exposições vinculadas ao seu projeto.
Por fim, para além dos projetos de exposições, vale lembrar o trânsito entre os profissionais que atuam e atuaram entre o MAC USP e o MAM, e o papel formador e pedagógico das duas instituições, que permitiu a elas partilhar curadores, educadores e especialistas em museus ao longo de quase oito décadas. Parte desse papel formador está, justamente, no apoio à produção artística contemporânea, que é a razão mesma da existência do Panorama da Arte Brasileira.
Ana Magalhães – Curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São PauloJosé Lira – Diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo
Curadoria.
Intitulado Mil graus, o 38º Panorama da Arte Brasileira elabora criticamente a realidade atual do país sob
a noção de calor-limite — uma temperatura em que tudo se transforma. O projeto busca traçar um horizonte
multidimensional da produção artística contemporânea brasileira, estabelecendo pontos de contato e contraste entre diversas pesquisas e práticas que, em comum, compartilham uma alta intensidade energética. Ao reunir artistas e outros agentes que abordam questões ecológicas, históricas, sociopolíticas, tecnológicas e espirituais, a exposição serve também como um ativador da memória e do debate público. Como conjunto, as obras driblam os limites da linguagem e seus sentidos preestabelecidos, revelando signos universais por meio de gestos e sotaques regionais. A ideia de uma temperatura oposta ao zero absoluto — ou seja, um quente
absoluto — aponta os interesses deste Panorama por experiências radicais, condições extremas — climáticas
ou metafísicas —, e estados transitórios — da matéria e da alma — que nos põem diante da transmutação como destino inevitável.
Eixos
Ao longo do processo de pesquisa que fundamentou a exposição, cinco linhas conceituais emergiram para aterrar o pensamento curatorial. Como bússolas que orientam questões fundamentais do projeto, os eixos ajudaram na criação do recorte da cena contemporânea brasileira que está registrada neste Panorama. No entanto, não foram usados para segmentar a mostra e nem se aplicam como categorias ou agrupadores. São fios condutores que instigam reflexões e leituras, e traçam possíveis relações entre os trabalhos a partir dessas perspectivas.
Ecologia geral
Noções ecológicas e práticas ambientais ampliadas que se orientam por uma visão de interconectividade total. Ao rejeitar dogmas antropocêntricos e dicotômicos que separam a cultura
da natureza, esses movimentos abraçam a pluralidade das formas de vida e seus jogos biológicos.
Sob um crescente senso de urgência, essas correntes de pensamento propõem outras concepções
sobre a condição humana e traçam novos caminhos para atuarmos e nos relacionarmos com o
planeta e seus muitos agentes.
Territórios originários
Narrativas e vivências de povos originários, quilombolas e outros modos de vida fora da matriz uniformizante do capital, capazes de refletir visões alternativas sobre a invenção e a atual conjuntura do Brasil. Nesse sentido, invocam energias ancestrais, mitologias configurantes e consciências expandidas para trazer à tona invenções estéticas, tecnologias socioambientais e articulações transpolíticas. Seja na luta pela demarcação de terras ou em estratégias diversas para fortalecer comunidades autônomas, o que está em jogo é a multiplicação das possibilidades vitais diante do agouro de um futuro incerto.
Chumbo tropical
Leituras críticas que subvertem imaginários e representações do Brasil, pondo em xeque aspectos
centrais da identidade nacional. Nesse sentido, contrastam — ou equacionam — os fetiches ligados à ideia de paraíso dos trópicos ao peso dos séculos de colonização escravocrata e extrativista, do colosso modernista, do ímpeto conservador e autoritário — e sua inevitável militarização —, e da eterna promessa de decolagem da economia. Essas propostas confrontam premissas funestas e incendeiam prisões históricas para desnaturalizar a devastação ambiental, a especulação financeira e a opressão racial.
Corpo-aparelhagem
Intervenções experimentais e reflexões sobre a contínua transmutação corpórea dos seres e das
coisas, com seus hibridismos e suas inter-relações. Este eixo abrange a cultura de reprodução
técnica, do sample e da apropriação; as relações entre tecnologia de ponta e gambiarra engenhosa; os efeitos da alta conectividade à internet; e as noções de biohacking e modificações corporais sob um imaginário ciborgue, transumano e pós-humano. Imagens e sonoridades são remixadas, distorcidas e, por vezes, desmanchadas, como modo de encarar frontalmente as consequências radicais de um mundo em transformação vertiginosa.
Transes e travessias
Conhecimentos transcendentais, práticas espirituais e experiências extáticas que canalizam os mistérios vitais. São rituais, instrumentos e espaços que conjuram alentos para alimentar a alma e pulsões para animar o corpo, alcançando proteções, fundamentando resistências e reelaborando condições opressivas e traumas confinantes. São embarcações que navegam por encruzilhadas e atravessamentos, indo além das fronteiras da matéria e das percepções terrenas para conectar com o etéreo e coexistir com o desconhecido.
Curadoria: Brasil mil graus: quente absoluto.
Germano Dushá
Começaremos pelo calor absoluto, pela chama primordial do universo, pelo núcleo incandescente que é a origem de tudo. Começaremos pelo calor total, sob o qual o tempo suspende e dilata, o vento se rende, e até o silêncio vira brasa. Começaremos pelo calor indomável, que faz com que cada partícula dance no limite do êxtase térmico; pelo fulgor do fogo fatal, depois do qual tudo se transforma e arde em infinito.
A ideia de uma temperatura máxima intransponível — cuja ocorrência resultaria numa agitação molecular tão intensa que toda e qualquer matéria se desintegraria — não é aplicável de forma prática e definitiva no campo da física. Ou pelo menos ainda está fora do alcance de nossa capacidade de análise. Contudo, o físico alemão Max Planck (1858-1947) — precursor da física quântica — propôs uma temperatura que seria um limite teórico. A chamada “temperatura de Planck” (algo como trilhões de trilhões de trilhões de graus Celsius) teria sido atingida alguns instantes após o Big Bang, quando o universo ainda era minúsculo e denso. Essa temperatura representa um regime de energia tão elevado que as leis da física colapsam, incidindo em um domínio totalmente novo para a nossa compreensão.
Nas palavras sagradas dos antigos, esse fogo essencial aparece como uma força que transita entre a criação e a dissolução, ecoando as potências que transcendem o entendimento material. No Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, o fogo é um símbolo dinâmico ligado à mente divina que molda o universo. É a emanação e o corpo do intelecto que dão forma e animam a criação. Nos Upanishads, o fogo é um dos elementos primários nascidos do eu cósmico. Associado às transformações vitais, personifica a energia que permeia o universo; e também é responsável por fazer a mediação entre o terreno e o divino. Não por acaso, é central em rituais de purificação espiritual. No Bhagavad Gita, Krishna revela o fogo como o meio pelo qual a força cósmica se manifesta, ardendo no interior dos seres e sustentando a vida. As imagens do fogo também simbolizam a transformação plena, com sua chama devoradora que consome multidões, engendrando infinitos ciclos de morte e renascimento, como motor da eterna renovação cósmica.
Trazendo a discussão para o que nos é tangível, a temperatura mais quente da Terra encontra-se no coração das erupções vulcânicas. A lava líquida que irrompe das profundezas da crosta, pulsando como o sangue ardente do planeta, pode ultrapassar os 1.000°C. Em algum ponto indizível entre o sólido e o líquido, essas correntes de rocha fundida fluem irascíveis. São rios de fogo que moldam a realidade em um ato de transformação incessante, carregando em si o encontro entre o passado remoto e o futuro mais longínquo, reluzindo como a memória terrena de um tempo total.
A noção de “calor-limite” serve ao 38º Panorama da Arte Brasileira como chave conceitual para falar de fenômenos com alta carga energética e de dinâmicas de transmutação. Como ficção científica, a ideia de um “quente absoluto” é acionada para evocar mudanças radicais, que podem ser da ordem da matéria e do corpo físico, mas também subjetivas, sociais, políticas e espirituais. Intitulada Mil graus, a exposição celebra uma expressão que energiza as ruas, muito comum em alguns contextos urbanos do Brasil. Essa gíria, que sintetiza com precisão o fundamento curatorial do 38º Panorama — criando, de bate-pronto, uma imagem forte —, contém uma ambiguidade afiada: conforme o contexto, pode indicar um alto nível de excelência ou uma situação de alta intensidade. Mil graus é, portanto, um conceito flexível e dilatável, que pode assumir diferentes sentidos, a depender de sua ativação, mas que, invariavelmente, se refere às experiências transformadoras.
Sob a vitalidade dessa expressão e seus muitos significados, o 38º Panorama traz à tona múltiplas abordagens e meios para se aproximar das poéticas do calor. A exposição reúne um grupo heterogêneo de participantes, que inclui diversas gerações, contextos, vivências e visões. Há artistas nascidos na década de 1940, e de várias outras gerações, até chegarmos no fim da década de 1990 e nos anos 2000. Há, também, gente de todas as regiões do Brasil e de dezesseis estados brasileiros, com pesquisas e práticas variadas que se conectam com diferentes matrizes culturais. Sendo assim, além de artistas propriamente ditos, participam outros agentes, como uma líder espiritual, uma comunidade e uma turma de carnaval.
Ao falar dessa metamorfose térmica, emergem, de imediato, representações e incorporações diretamente ligadas ao fogo e ao calor, suas visualidades, reações químicas e processos físicos. De igual modo, é incontornável que pensemos nas queimadas e no aquecimento global. Diante da atual hecatombe ambiental, que oprime o presente e se impõe como uma sombra densa sobre o futuro, não há como ser diferente. Enquanto este texto está sendo escrito, o Brasil tem sido atacado por uma epidemia de incêndios nos últimos dias, fechando o mês de agosto com um aumento vertiginoso, já que o número de focos mais que dobrou em comparação ao mesmo período de 2023. As imagens dessas queimadas assolam o noticiário tradicional e as mídias sociais, projetando o apocalipse em chamas, febril e irrefreável. Os efeitos imediatos desses fogaréus são visíveis nos céus das grandes cidades do país, assim como as intrincadas implicações da crise climática se fazem sentir cada dia um pouco mais. Todavia, ao assumir a alta intensidade e a transmutação como pontos centrais, o projeto trabalha com um espectro muito mais amplo de dinâmicas vitais.
A mostra articula visões e noções ecológicas expandidas que desfazem falsas dicotomias entre a humanidade e a natureza. Há artistas que trabalham com as intersecções e hibridismos, combinando elementos distintos para criar novas visualidades e significados a partir de relações interespécies e também da mistura entre o orgânico e o artificial. Muitas obras lidam com a alteração da matéria, estudando a ação do tempo e outros fenômenos naturais, e experimentam também com o manejo das mãos. Outras investigam — como assunto e como meio — novos materiais, ferramentas e processos, incorporando insumos e técnicas industriais, tateando as tecnologias e navegando pela esfera digital. São modos de pensar o ser humano e a massa antropocêntrica como partes indissociáveis do meio natural, de refletir as interconexões entre todos os seres vivos e de questionar a própria condição humana diante da grandeza assombrosa que nos cerca.
Os acaloramentos e a transfiguração do corpo também aparecem por diversos meios, e extrapolam a fisiologia para discutir as políticas da corporificação e as identidades em mutação. Seguindo adiante, surgem trabalhos que pensam as porosidades entre o individual e o coletivo, e a atuação do subjetivo na construção cultural e política, sobretudo em momentos de alta pressão e de efervescências sociais. Nesse contexto, o calor-limite simboliza não só as mudanças materiais, mas também a fervura das celebrações e as lutas que moldam nossa forma de coexistir no mundo. Por fim, há manifestações relacionadas com experiências da alma, simbologias místicas e práticas esotéricas. Para além dos espaços e objetos sagrados, essa espiritualidade está nos mistérios telúricos e na magia da mata, e também no cotidiano urbano, aparecendo sempre que certos fenômenos atingem um elevado grau de ascensão e permitem acessos extraterrenos e pontos de contato entre diferentes dimensões.
Mil graus invoca a ciência, mas também a poesia e a transcendência. Pode ensejar questões ligadas às variações físicas, relativas à matéria, mas também aos planos intangíveis, imateriais. Em meio à heterogeneidade de linguagens e aos ricos contrastes entre os participantes deste Panorama, é possível enxergar pontos comuns que atravessam culturas, estéticas e soluções formais. Há uma energia que flui conectando os fios, vibrando sempre em alta intensidade, e que muitas vezes escapa à apreensão humana.
Imaginar um ponto de inflexão em que o calor atinge sua intensidade máxima implica deslocar o ser humano do centro da discussão, invocando um campo comum que inclui outras formas de vida e reconhece múltiplas agências e propósitos. Aqui, o âmago do debate não é o cultural, mas o elemental. No lugar da visão antropocêntrica limitada, abre-se espaço para ampliarmos a compreensão das interações ecológicas, repensando conexões intrínsecas com uma infinidade de agentes e, portanto, o lugar do ser humano no mundo. Indo além, esse exercício de imaginação projeta uma realidade que ultrapassa os limites do mundo físico como o conhecemos, provocando questionamentos radicais e novos entendimentos a partir do confronto com o desconhecido.
Falar da cena de arte contemporânea brasileira por esse ponto de vista é sublinhar, também, a vocação dessa ficção acalorada que chamamos de “Brasil”, com suas potências e contradições. No contexto de um “Panorama da Arte Brasileira”, pode referir-se ainda à urgência, ao calor da hora, à quentura do momento ou àquilo que está no ponto e demanda uma atenção imediata, que está “pelando”. No entanto, como recorte panorâmico, a curadoria leva em conta as limitações materiais e subjetivas inerentes a qualquer projeto que pretende registrar uma cena tão ampla quanto a de um país com as dimensões e complexidades do Brasil. Nesse sentido, trata-se de um registro provisório e deliberadamente aberto, que não busca criar uma imagem fixa ou rígida. Ao abraçar a transformação e a transitoriedade como partidos, traça a imagem de um “Brasil mil graus” como uma grande massa de calor, um “quente absoluto” permeado por uma pluralidade de signos, discursos e narrativas em contínuo movimento.
Mil graus é pulsão de vida. É o que irradia. É fusão e calefação. É o que derrete ou evapora. É o suor que encharca. É a gota de água na chapa fervente. É gente que vira bicho e pedra que vira gente. É a combustão que devora. É ruptura e reinvenção. É o mistério da mata, é a linguagem do magma. É a forma sem nome. É a contorção do metal e o barro moldado. É a viagem no tempo e o salto no cosmos. É a dança dos astros e o resplendor do sol. Não tem fim nem começo. Está nos ícones imemoriais cravados na rocha. Nas ruas, é o furor das massas, o fervor dos corpos e o ronco do motor. É o transe, é o êxtase. É o avesso do avesso. É o calor dentro do calor.
Germano Dushá (Serra dos Carajás, PA, 1989) é curador, escritor e agente cultural. No cruzamento entre estética, crítica e tradições esotéricas, sua prática assume múltiplas formas — em experimentações curatoriais, literárias e hipermídias — para investigar imaginários sociais e a energia ligada às experiências subjetivas radicais e aos processos de transmutação. Bacharel em Direito (FGV-SP) e pós-graduado em Arte: Crítica e Curadoria (PUC-SP), tem colaborado com instituições, galerias e publicações em diferentes países. Entre suas exposições recentes estão: Cosmo/Chão (Oficina Francisco Brennand, Recife), em 2024; Esfíngico Frontal (Mendes Wood DM, São Paulo), em 2023; Calor Universal (Pace, East Hampton, EUA) e Semana sim, Semana não (Casa Zalszupin, São Paulo), em 2022; Terra e Temperatura (Almeida & Dale, São Paulo), em 2021; e A Hora Instável (Bruno Múrias, Lisboa, Portugal), em 2019. Cofundou o Observatório (2015-2016), espaço expositivo autônomo no Centro de São Paulo e o Coletor (2012-2016), campo itinerante de práticas artísticas contemporâneas. Atualmente, é coordenador do Fora, organização pluridisciplinar fundada em 2018 que trabalha com manifestações culturais e estratégias institucionais.
Curadoria: Mil grau¹
Thiago de Paula
citação 1. Nas ruas, a expressão é usada sem o plural, adotado no título
da exposição seguindo regras gramaticais do português.
Magnetic lights in the blue-high haze
A magnifying glass upon my face
It’s so hot I’ve been melting out here
I’m made out of plastic out here
You touch down in the base of my fears
Houston, can-can-can you hear?
And we both had to harness our pain
Close it and hope it decays
Oh, inhale and I’m up and away
Up and away².
citação.2 “Plastic 100°C” é uma música do artista britânico Sampha
em seu álbum de estreia Process (2017).
TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS
Luz magnética na névoa alta e azul
Uma lupa diante do meu rosto
Está tão quente que eu estou derretendo aqui fora
Eu sou feito de plástico aqui fora
Você tocou fundo na base dos meus medos
Houston, consegue-consegue-consegue me ouvir?
E nós dois tivemos que controlar a nossa dor
Fechá-la e torcer para que ela apodreça
Ó, inalo e estou indo para cima e para longe
Para cima e para longe.
Thiago de Paula Souza
Nota 1: Para a ciência calor é energia em trânsito, é a troca de energia entre elementos com temperaturas diferentes, estejam eles em estados físico, sólidos, líquido, gasoso ou plasma.
Nota 2: Não há calor no encontro entre dois ou mais corpos com a mesma temperatura.
I primeiro
Em “Sobre o calor”³, a filósofa Denise Ferreira da Silva defende que o aumento da temperatura do planeta seria um fenômeno exemplar para entendermos as conexões entre o legado colonial, o evento racial e o capitalismo. Enfeitiçados, não teríamos percebido que os três fazem parte da mesma teia que organiza a modernidade global. Em poucas linhas, ela sintetiza séculos de pensamento filosófico que conduziram a figura humana ao protagonismo do então emergente sistema planetário e sua consolidação como prisma para o entendimento de tudo que habita este planeta. Como tem feito há décadas, Silva critica o fato de a perspectiva linear do tempo e da experiência humana, herança das sociedades ocidentais, ter se consolidado em detrimento de outras percepções temporais. Ela propõe uma abordagem menos convencional e inventiva para deslocarmos o domínio do sujeito moderno do protagonismo terrestre e, ao mesmo tempo, restabelecer uma conexão menos hierárquica entre os diferentes elementos e espécies que compõem a Terra.
³ “Sobre o calor” é um dos textos que compõem esta publicação.
Como uma tarefa para driblarmos essa supremacia, ela resgata uma tradição clássica de estudos com elementos naturais e elege o calor como métrica capaz de desfocar essa lente universalizante. Assim, utiliza o elemento como uma ferramenta capaz de propor uma leitura entrelaçada do mundo que não tome como referência primordial nem a progressão linear ocidental, nem a figura humana. Para isso, ela recorre às diretrizes científicas de transferência e fluxo de energia de um mesmo sistema como uma matriz a partir da qual podemos entender que a energia, derivada da exploração irrestrita do capital — através de mão de obra humana, dos animais e de matéria-prima — resulta no calor dos gases poluentes que aceleram o aquecimento do planeta.
II
Quando começamos a trabalhar no projeto para o 38º Panorama da Arte Brasileira, pouco atentos às distinções estabelecidas pela física e pela química, eu seguia o senso comum, tratando calor e temperatura como se fossem grandezas idênticas. Em várias conversas sobre a proposta curatorial, tanto com artistas participantes quanto com colegas da curadoria, usei esses termos de forma intercambiável. Embora inicialmente não tenhamos sido rigorosos com as definições científicas das categorias, tampouco desconsiderávamos suas particularidades, mas nosso interesse recaía na tentativa de elaborar um conceito que articulasse o principal compromisso do Panorama ao longo das décadas: apresentar uma paisagem provisória da cena artística contemporânea do país. Nossa tarefa foi o desenvolvimento de um pensamento curatorial que, cercado por contradições e paradoxos, rejeita qualquer fantasia nacional-colonialista. Embora buscássemos abarcar diferentes práticas e regiões do Brasil, reconhecíamos que exclusões ocorreriam, simultaneamente. O caminho escolhido foi um método curatorial que, embora incapaz de resolver completamente o problema, partiu de interesses compartilhados e serviu como guia para interpretar e acessar as práticas contemporâneas ao nosso alcance.
O interesse por práticas envolvidas em processos de metabolização de matérias-primas, com a condutividade dos materiais e a decomposição deles em energia apresentou-se como um denominador comum para nossa pesquisa. Decidimos comprar totalmente a onda de que nosso método de trabalho se focaria no fenômeno da transmutação — de materiais, dos elementos naturais, das energias e, consequentemente, de ideias — como ponto de partida. Em seguida, elegemos o calor, em suas variadas formas, como gancho conceitual e direcionamos nosso imaginário para reflexões sobre como esse elemento, presente em inúmeros mitos de criação em diversas sociedades, que possibilitou novos entendimentos sobre o tempo e o espaço, foi capaz de reorganizar ciclos de vida e morte e transformou paradigmas científicos.
Também foi crucial investigar como o grupo de artistas com o qual já havíamos trabalhado se relaciona com esse elemento. Quais seriam seus interesses pelos efeitos do calor na matéria? Como suas práticas são influenciadas pela transformação de energia?
Com isso em mente, escolhemos “1000° / Mil graus” não apenas como título, mas também como uma imagem curatorial que orientou o “processo de projeção temporária de sentidos e significados”⁴ que foi a base de nossa pesquisa. A imagem-título sugere articulações conceituais e carrega a rica carga sensorial e visual que imaginamos para a exposição. Por meio dela, buscamos investigar as convergências entre arte, tecnologia, espiritualidade e crítica social, refletindo a diversidade das obras apresentadas e os múltiplos contextos que abordam.
Por evocar atributos de intensidade e emoção, a expressão “1000° / Mil graus” funciona para nós como uma metonímia do calor — seja ele metafísico, metafórico ou climático — e pode ser entendida sob duas perspectivas. Através dessa imagem, conseguimos pensar a exposição como um modelo onde os trabalhos se convertem em elementos de um mesmo sistema, porém, por pertencerem a diferentes contextos sociais e geográficos, por empregarem o uso de diferentes técnicas, em suma, por preservarem suas diferenças sem separabilidade, a energia interna irradia de um objeto para o outro.
A primeira das perspectivas, mais urbana, faz referência direta a uma gíria originária da periferia de São Paulo, que se disseminou e hoje é usada em diversas regiões e contextos do Brasil. Geralmente dita sem a concordância entre o numeral e o substantivo, seu significado pode parecer autoexplicativo, mas contém ambiguidades, sugerindo ora contextos positivos, ora situações de risco. Pode representar o ritmo acelerado das cidades, o auge de uma experiência, habilidades técnicas excepcionais, o prazer de um encontro, a euforia da pista de dança ou o súbito efeito do rush. Por outro lado, também pode remeter ao perigo iminente, como a violência de situações que refletem as disputas fundiárias e sociais no Brasil, seja a tensão e a truculência de uma batida policial em um baile de favela ou em uma ação de reintegração de posse. Tão ambígua quanto a primeira, a segunda noção está mais ligada à capacidade transformadora do calor, expandindo-se para contextos menos mundanos e mais próximos do espiritual, ou para o que está além da linguagem verbal. Não se trata de uma guinada mística em nossa curadoria de millennials, atordoados por crises existenciais e catástrofes, em busca do sublime. No entanto, foi fascinante observar também o nosso alinhamento com artistas cujas práticas, muitas delas envolvendo a matéria orgânica como ponto central, se inclinavam para o mistério e o não dito.
III
O calor está insuportável, e o ar, irrespirável. Observar imagens da imensa quantidade de fumaça das queimadas sobre a América do Sul — com a notícia de que, por dias consecutivos, São Paulo foi considerada a cidade mais poluída do mundo — trouxe-me de volta as lembranças do dia 19 de agosto de 2019. Naquele dia, uma frente fria encontrou-se com as nuvens de fumaça das queimadas na Amazônia, transformando a tarde na Grande São Paulo em noite. Lembro que, em 2023, quando começamos a desenvolver o projeto curatorial para o 38º Panorama da Arte Brasileira, essa imagem foi uma das referências que escolhemos como estudo. Com o passar do tempo, ela foi esquecida, à medida que percebemos que não buscávamos uma representação literal de eventos, mas sim desenvolver a exposição como uma plataforma para tangenciarmos questões contemporâneas por meio da prática artística. Se o calor é a imagem central do nosso pensamento, hoje, quem reina é sua faceta mais destrutiva.
Thiago de Paula Souza (São Paulo, SP, 1985) é curador e educador. Ele tem interesse em expandir e reconfigurar o formato de exposições, bem como na intersecção entre arte contemporânea e educação na produção de novos códigos éticos. Foi membro da equipe curatorial de “We Don’t Need Another Hero” — 10ª Bienal de Berlim (2018) e integra a equipe curatorial da 36ª Bienal de São Paulo. É pesquisador no programa de artes da HDK Valand — Universidade de Gotemburgo, na Suécia.
Curadoria: Atiço, queimo e transformo.
Ariana Nuala
A infinitude da vida revela-se nas trocas contínuas entre temperaturas e moléculas, gerando um infinito fluxo de energia. Manter uma ideia fixa em relação à morte como fim, porém, impede-nos de enxergar a verdadeira natureza da existência. Não devemos compreender o fim da vida como um ponto final, mas como o encerramento de um ciclo e a transição para novos estados existenciais. Longe de ser uma conclusão, a morte é apenas uma etapa de um processo maior, que dissolve a vida para que ela possa se recriar, transformando-se continuamente. Nesse sentido, morte e recriação são forças que coexistem, entrelaçando seus sopros numa dança que promove a constante renovação.
Sob a lente ocidental, o fogo, assim como a morte, é frequentemente enquadrado sob uma visão única, ligando-o apenas à violência e à destruição. Ao fogo também foi atribuída a imagem do pecado. “Queimar nas profundezas do inferno”, que se tornou um jargão comum, ou os atos de jogar hereges na fogueira refletem a constante presença cristã no vocabulário e no imaginário popular. O inflamando com uma ardência punitiva. Queimar seria, então, algo destinado aos demônios ou àqueles que acessam forças manifestantes fora dos cânones. No inferno retratado em A divina comédia, de Dante Alighieri (1265-1321), o fogo não é onipresente, mas surge em formas específicas para infligir dor correspondente à natureza dos pecados cometidos. Além disso, o fogo possui um simbolismo profundo, muitas vezes associado à purificação ou ao sofrimento intenso, sempre refletindo o pecado que o condenado cometeu em vida. Quando penso na demonização de elementos e entidades no Brasil, lembro-me de um grande amigo, o professor e escritor Alexandro de Jesus¹, que revisita os arquivos reveladores do mau encontro colonial² e da má interpretação do curupira nos relatos do jesuíta José de Anchieta (1534-1597). Nos textos oficiais, Anchieta descreve aparições noturnas que aterrorizavam os indígenas, referindo-se aos encantados, e especificamente ao curupira, como demônios. Aqui, a tradução transforma a encantaria em matéria paralisante: o que é desconhecido se converte rapidamente em mal, que ataca, por medo de ser atacado. A lógica cartesiana do “penso, logo existo” prevalece diante da diferença, resultando na obliteração de outras cosmovisões.
¹ Alexandro S. de Jesus.Corupira: mau encontro,tradução e dívida colonial.Recife: Titivillus, 2019.
² Segundo Alexandro de Jesus, no texto “Notas sobre a atualidade da ferida colonial” (2022), o mau encontro colonial é caracterizado por uma divisão radical do sensível, que se estabelece a partir de uma vantagem bélica. Essa divisão pré-política e econômica cria uma assimetria profunda entre os homens, manifestada principalmente no acesso desigual aos recursos energéticos. A vida, a partir desse momento, encontra-se sufocada e em processo de dissolução. No entanto, essa assimetria não impede que a energia continue a atravessar e acumular-se, como evidenciado pela capacidade de trabalho e de procriação dos escravizados, que vivenciam essa energia sob uma “dieta de excesso mínimo”— ou seja, uma condição em que, embora haja um acúmulo de energia, ele é rigidamente controlado e limitado.
Nestas e em outras memórias estão caminhos que distanciam o fogo e o calor do malévolo e do pecaminoso. Na cosmologia vodu haitiana, os loas³ Petwo e Rada, que simbolizam forças e elementos distintos, representam também polaridades complementares e igualmente vitais. Os Petwo, associados ao calor, à intensidade e à ação, são voláteis e temperamentais, manifestando uma energia ardente e impetuosa. Em contraste, os Rada, ligados a uma natureza mais doce e confiável, evocam uma sensação de calma e estabilidade, como uma brisa suave. Em vez de uma hierarquia, essas forças coexistem em equilíbrio, refletindo a dualidade necessária para o ciclo de vida e morte. Em rituais, ocupam lugares distintos, e suas evocações flecham diferentes propósitos. No entanto, ambas as energias são respeitadas em suas complementaridades, reconhecendo-se mutuamente como parte do universo.
³Termo que é usado para as entidades do vodu haitiano.
Apoiada no exemplo do vodu haitiano, profundamente ligado às revoluções que ocorreram no Haiti no século XVIII, vemos como o feitiço e o calor se integram à vitalidade do combate. Esses levantes refletem outras formas de auto-organização, uma rebelião que irradia e frequentemente ultrapassa fronteiras, moralidades e demonizações. Um corpo insubordinado, que desafia o fogo do inferno e abraça as chamas das paixões, como um magma que, ao explodir, transforma irremediavelmente os territórios. É com essa mesma verve que James Baldwin clama da próxima vez, fogo, em seu livro de 1963 que mobiliza ensinamentos e estratégias em torno dos direitos da população negra nos Estados Unidos.
A violência do fogo talvez esteja entrecruzada à sua própria existência, sendo essa uma leitura comum. Diferentemente dos outros elementos — a terra, a água e o ar —, que podemos tocar, manipular e sentir, mesmo em seus estados mais extremos, ele se distingue como o único que não podemos verdadeiramente manejar, sem risco. A terra pode ser moldada; a água, retida; e o ar, direcionado, mas o fogo traz consigo um poder destrutivo que escapa ao controle humano.
Desde tempos antigos, o fogo tem sido visto como uma força tanto criadora quanto devastadora — capaz de purificar, mas também de aniquilar. Característica brutal que se manifesta na rapidez da chama ao consumir, destruir e transformar. Ele é usado para moldar e temperar, mas também pode reduzir tudo a cinzas em questão de segundos. Essa dualidade faz com que o fogo seja reverenciado e temido, reconhecido como um elemento essencial, porém potencialmente letal.
Na cosmologia iorubá, o fogo revela o ferro. Ele faz borbulhar esse elemento a partir do seu encontro com a terra; o calor forja esse elemento tão imponente na reestruturação dos movimentos, seja de guerra, de caça ou de construção de caminhos. Há uma toada evocada pela Nação Nagô, dedicada ao orixá Ogum, divindade cultuada no candomblé, associada ao ferro e à metalurgia, em que encontramos as seguintes palavras, que expressam a iminência de uma batalha:
oluri oluri
Ogum já oluri
Ogum tapassi
é umbe omã⁴
que se traduz como: Ogum, a guerra começou.
A letra desta toada e sua tradução foram extraídas do encarte do álbum Sítio de Pai Adão: ritmos africanos no Xangô do Recife, gravado em janeiro de 2005, durante o projeto Turista Aprendiz, pelo grupo A Barca, no Maracá Estúdio, em Recife.
Mas não se trata apenas de celebrar uma batalha: é uma invocação da força transformadora que permeia tudo, das tecnologias e ferramentas às linhas traçadas na areia negra⁵, onde o ferro é forjado pelas chamas. Há uma sabedoria profunda neste ponto, que vai além do humano ou daquilo que foi definido como humano pela modernidade. As batalhas não nos endurecem, não nos aprisionam; ao contrário, elas geram uma vitalidade maleável, em harmonia com a justiça forjada pelo fogo de Xangô e seu oxê.⁶
5 Na mitologia iorubá, os Itans são narrativas sagradas que transmitem os feitos e ensinamentos dos orixás. No
livro Mitologia dos orixás, de Reginaldo Prandi, um dos Itans sobre Ogum, intitulado “Ogum cria a forja”, narra o momento em que o orixá descobre o processo de criação do ferro. Segundo o Itan, após realizar um ritual com areia negra fina, Ogum a coloca no fogo e, para sua surpresa, a areia se transforma em uma massa quente que, ao solidificar-se, resulta no ferro.
6 Ferramenta principal do orixá Xangô, o oxê é seu machado de duas lâminas.
É importante distinguir o conflito exercido como forma de autodefesa da violência hegemônica colonial. O primeiro emerge como uma resposta necessária à opressão e à despossessão, buscando preservar vidas e culturas ameaçadas. Moten e Harney⁷ nos relembram: “Nossa tarefa é a proteção do entorno em face das seletivas e repetidas despossessões direcionadas pela incursão armada dos assentadores”. Já a violência colonial é uma força que apaga, suprime e subtrai sistemas de crenças, impondo uma dominação que tenta dissolver a diversidade cultural e espiritual.
7 Fred Moten; Stefano Harney. Sobcomuns – Planejamento fugitivo e estudo negro. Tradução de Mariana Ruggieri, Raquel Parrine, Roger Melo, Viviane Nogueira. São Paulo: Ubu, 2024.
Elsa Dorlin⁸, em sua discussão sobre a defesa pessoal, apresenta a ideia de um “dispositivo defensivo”. Esse dispositivo opera em resposta a uma força ou movimento, orientado para a autoproteção, marcando a trajetória da vida de sujeitos e grupos. Ele pode legitimar ou impedir a efetivação desse ímpeto de defesa, fazendo com que a reação defensiva seja vista como habilidosa ou perigosa.
8 Elsa Dorlin. Autodefesa – uma filosofia da violência. Tradução de Jamille Pinheiro Dias, Raquel Camargo. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
O “dispositivo defensivo” cria uma linha de demarcação entre sujeitos considerados dignos de se proteger e corpos vulneráveis que só possuem suas subjetividades desarmadas. Ele nos remete a uma dinâmica paradoxal de resistência, em que o sujeito é formado pela necessidade de autodefesa diante da violência. Nessa linha de pensamento, a flor ‘canela-de-ema’, presente no Cerrado brasileiro, pode ser vista como uma metáfora viva desse processo. Assim como os corpos que se defendem desenvolvem táticas para sobreviver à violência, a canela-de-ema também manifesta uma força interna que, através da autocombustão, desafia seu próprio ambiente e revela novas possibilidades de vida, ao despertar sementes adormecidas. Tanto quem luta quanto a flor utilizam, de maneiras inventivas, suas capacidades de autodefesa para transcender o controle externo e se recriar.
Esses corpos desenvolvem táticas defensivas como estratégia de vida, constituindo o que Dorlin chama de autodefesa, em contraste com a legítima defesa jurídica. Na resistência defensiva, paradoxalmente, não há um sujeito preexistente à resistência; ele é formado no próprio ato de resistência à violência. Dorlin denomina essa formação de “éticas marciais de si”.
O fogo “violento”, ao manifestar em sua forma uma força natural que, apesar de sua utilidade e beleza, mantém um caráter imprevisível e perigoso, lembra-nos de sua capacidade de transcender qualquer tentativa de controle.
Em uma leitura bachelardiana⁹, encontramos a ideia de que: há uma explicação rápida para tudo aquilo que muda ferozmente: o fogo. Ele é talvez o estalo mais convincente de uma transformação árdua, um processo de hipervida ou hipermorte, se assim podemos chamar. Essa perspectiva nos leva a enxergar o fogo como mais que um simples elemento; ele se torna o símbolo de uma metamorfose radical, sob a qual vida e morte coexistem em uma dança de extremos. O fogo não só destrói, mas também recria, operando como o arquétipo da transição entre ser e não ser, em um ciclo contínuo de renovação e devastação. Sua forma branda também é remetida à necessidade de conforto, de lar. É possível acalentar-se com ele, com o calor que se assemelha ao aconchego, que permeia os corpos junto à umidade, abrigando-se em sua porosidade.
Posicionar o fogo dentro das relações alquímicas e do manejo das brincadeiras de rua, dos motins de madrugada, das ciências presentes nos terreiros de matrizes africanas e indígenas, é reconhecer o fogo como um agente de transformação que permeia tanto os ritos sagrados quanto as práticas cotidianas. No contexto alquímico, o fogo é o elemento purificador, o catalisador que desencadeia a transmutação dos materiais e do espírito. Nas ruas e nos ritos, o fogo assume novas formas: é a chama que desperta o coletivo, que inflama as almas e reacende tradições antigas. É o calor que anima as danças, as rodas de capoeira e os cantos que atravessam as noites. O fogo, portanto, não é apenas destruição, mas um meio de renascimento e regeneração, no qual cada faísca carrega consigo o poder de reconfigurar realidades.
Viagens e visitas.
Nos meses que antecederam a abertura do 38º Panorama da Arte Brasileira, a equipe curatorial realizou uma série de encontros com alguns dos participantes. As viagens realizadas percorreram diversas cidades de diferentes estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Maranhão. Este processo de pesquisa é aqui representado por relatos e fotografias de quatro dessas visitas: com a líder espiritual Dona Romana de Natividade; com os artistas Advânio Lessa, Zimar e Marlene Costa de Almeida; e com uma parte do povo Akroá Gamella. Os registros trazem contextos e experiências notadamente diversos, mas que, em comum, retratam agentes que trabalham, há muitas décadas, com práticas enraizadas nos territórios aos quais estão ligados. Suas criações, complexas e cheias de nuances, articulam aspectos geográficos e geológicos, dimensões sociopolíticas e camadas culturais — tradicionais e contemporâneas — para refletir ou incorporar as essências vitais desses lugares.
Esses encontros não só permitiram conhecer mais a fundo as conjunturas, influências e modos de fazer de alguns participantes, mas também se revelaram pontos de luz que, de muitas maneiras, orientaram o processo de elaboração da exposição e seus desdobramentos. Nesse sentido, o contato com a energia dessas pessoas e locais foi fundamental para irrigar — conceitual e espiritualmente — o projeto como um todo, possibilitando trocas diretas entre curadores e artistas sobre suas participações e formas de apresentação das obras na exposição. Entre paisagens naturais e dinâmicas sociais, foram incontáveis horas de escuta, conversas, práticas de ateliê, refeições e rituais em espaços sagrados e cotidianos. Essas vivências geraram emoções e aprendizados que marcaram profundamente a história deste Panorama.
Natividade, Tocantins.
Germano Dushá
Dona Romana
Na primeira viagem de pesquisa e interlocução, Germano Dushá visitou Dona Romana de Natividade para conhecê-la pessoalmente no sítio Jacuba — um espaço sagrado que é tanto sua morada quanto um templo voltado a práticas espirituais. É lá que está toda sua obra escultórica — espalhada numa enorme escala —, suas pinturas em paredes e seus desenhos sobre papel, que ela realizou durante vinte anos, entre 1990 e 2011. Dona Romana, ou Mãe Romana — como também é chamada —, foi uma referência fundamental durante o percurso de desenvolvimento do 38º Panorama. Entre ancestralidade e profecia, visão espiritual e legado material, o entrelace que perfaz sua história foi, desde o princípio, uma grande influência na elaboração conceitual e energética do projeto.
A aproximação com sua obra nos coloca diante das relações entre o nosso mundo e outros planos, provocando uma experiência arrebatadora na encruzilhada entre o esoterismo e o fazer artístico. Muito embora Dona Romana não se enxergue como artista, sua missão espiritual está ligada a demandas envolvendo a criação de peças que, além da profunda carga mística, apresentam qualidades estéticas notáveis, com poder formal e fascinante visualidade. Essa visita foi imprescindível, portanto, para entender aspectos técnicos envolvendo sua participação no Panorama — já que se pressentia que nenhuma escultura ou desenho poderia sair de seu sítio, o que acabou se confirmando. Por isso, o contato com as obras, com o local e com Dona Romana foi ainda mais definidor para imaginar como poderia ser sua presença na exposição. Ir ao Tocantins no processo de criação de um “panorama da arte brasileira” também é significativo e simbólico. Cravado no centro do país, o estado mais novo da federação é ainda um dos menos conhecidos, mas guarda, em seu território, uma história milenar.
Germano chegou em Tocantins pela capital, Palmas, no dia anterior ao encontro com Dona Romana. Na manhã do dia onze de março, partiu em direção a Natividade, numa viagem de automóvel tranquila, que durou pouco mais de três horas, por uma estrada plana que atravessa uma paisagem homogênea, árvores de porte baixo e vegetação rasteira, com montanhas ao fundo que vão se aproximando, ao chegar na pequena cidade. Tudo em meio ao contraste do verde com o amarronzado forte do solo e sob o céu azul estourado. Chegando lá, foi recebido por Simone de Natividade — agente cultural da região e a quem Dona Romana chama de “ponte com o mundo” —, que o levou até o sítio. A força do lugar impressiona já do lado de fora, onde se veem figuras emergindo por detrás do muro de meia altura e um pórtico antecedido por três enormes cruzes e outros elementos totêmicos. Quem adentra o portal se vê rodeado por um lugar único, sem igual. O mistério daquele espaço se manifesta em objetos, esculturas e pinturas de diferentes naturezas e nas mais diversas escalas, que povoam o lugar com uma infinita riqueza de detalhes. A atmosfera é, ao mesmo tempo, densa, carregada de energia, e brilhante, leve, iluminada. A paisagem mística é reforçada pelo sol intenso e pela ecologia do Cerrado brasileiro.
Dona Romana lhe deu boas-vindas cheia de disposição, embora reclamasse de algumas limitações físicas. Abriu um sorriso largo ao abraçar o visitante e se mostrou contente quando soube do motivo dessa visita, planejada há tanto tempo. Na primeira conversa com Dona Romana, que durou cerca de uma hora e meia, ela contou, com uma característica mistura de gravidade e humor, sua trajetória, discorrendo sobre sua obra e mostrando algumas esculturas e desenhos específicos, explicando suas criações. Falou de dimensões extraterrenas e entidades místicas, de tempos imemoriais e vindouros, da formação do planeta e da vinda de um cataclismo — “a grande hora” — que irá impor grandes desafios à humanidade e, enfim, revelará a verdadeira natureza de sua obra. Ainda que sempre sublinhe o fato de não saber muito bem o que são, deixa claro que sua obra ganhará vida e deverá cumprir funções específicas no auxílio e na reorganização do planeta. Suas esculturas estão ligadas, portanto, a equilíbrios energéticos no presente e a dinâmicas necessárias diante do que virá, colocando o Brasil e Tocantins no centro da potencial salvação do mundo.
Quando Germano saiu do sítio com Simone para dar uma volta pela vila e almoçar num restaurante, não podiam deixar de parar na ruína da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, um ponto de visitação incontornável da região. A igreja inacabada, de formas impressionantes e beleza dramática, foi construída pela população negra local com pedra e tijolos especiais da época e permanece como um grande acontecimento arquitetônico do período colonial. Dali, Germano voltou ao sítio Jucaba para conversar novamente com Dona Romana e passar mais algumas horas vendo as obras com cuidado, adentrando os galpões pintados e caminhando por todas as veredas do lugar. No fim da tarde, regressou a Palmas e pegou o voo de volta na madrugada do dia 12.
Lavras Novas, Minas Gerais.
Germano Dushá, Thiago de Paula Souza
Advânio Lessa
A viagem a Lavras Novas foi realizada pelos curadores Germano Dushá e Thiago de Paula Souza com o objetivo de visitar o artista Advânio Lessa, ampliando a compreensão sobre sua obra a partir do lugar em que nasceu, vive e de onde tira a matéria-prima e a inspiração que fundamenta seu trabalho. Chegaram em Minas Gerais pela capital, Belo Horizonte, e, no dia seguinte, tomaram a estrada rumo a Lavras Novas, no distrito de Ouro Preto. A viagem de aproximadamente duas horas desenrola-se como uma fita sinuosa, que serpenteia por entre as montanhas da região. Ao longo do trajeto, a vegetação vai se tornando mais densa, os vales ficam mais profundos, e as montanhas vão se revelando mais imponentes. A estrada, cada vez mais estreita, e o ar mais fresco e rarefeito prenunciam a chegada a essa pequena vila construída no entrelaçamento entre uma rica natureza e tradições que remontam aos séculos passados.
Germano e Thiago chegaram no meio da tarde e foram recebidos por Advânio — com seu sorriso contagioso — em seu ateliê, uma construção de pau a pique de um alaranjado vibrante, localizada ao lado da igreja da cidade. Como todas as construções em Lavras Novas, a fachada rebaixada e acolhedora esconde a dimensão do interior, que se amplia ao cruzar a porta. O galpão abriga incontáveis peças, a maior parte de grande escala, que dão a ver o potencial criativo do artista. Grandes troncos, galhos retorcidos e diversos tipos de tramas e acabamentos sublinham hibridismos e estados de transmutação. É como se uma mesma linguagem tivesse rodopiado por aí, transformando a natureza como a conhecemos, reelaborando o elemento vegetal para que ele possa desdobrar-se de outras formas no mundo.
Ali, o artista lhes apresentou seu acervo e seu material de trabalho, de modo que a conversa se estendeu até o cair da noite. Na ocasião, Advânio contou sobre as matrizes de sua prática artística, enraizadas no conhecimento recebido por parte da família de seu pai — de tropeiros — e da família de sua mãe, muito envolvida com a tradição da cestaria. O entrelaçamento entre o entendimento da mata e a prática de marcenaria artesanal é, portanto, o fundamento da sua arte. Em suas palavras, seu processo envolve saber sair e entrar na floresta, mexer na terra, pegar nas mãos e tratar os materiais, com a consciência de que somos parte integrante da natureza e que o equilíbrio espiritual e ético deve anteceder qualquer ação.
O momento também permitiu que curadores e artista trocassem ideias sobre o projeto para o 38º Panorama e a participação de Advânio. O artista revelou seu interesse em expandir a dimensão das esculturas em si, envolvendo ativações em diferentes polos — para além do museu — e ações com o educativo do MAM ao redor de uma das obras. Ficou clara sua visão sobre uma prática escultórica expandida. Primeiro, por afirmar suas peças como reatores energéticos, capazes de conectar-se entre si e seus contextos por vias imateriais. Depois, por entender que sua obra pode funcionar como um lugar de encontros, já que sua ideia foi realizar ações que tomassem sua obra como um espaço para conversas sobre educação, ecologia e espiritualidade.
No fim do dia, as trocas seguiram no jantar, em um restaurante num ponto alto da vila, com vista para um grande vale. Advânio aproveitou para contar sua trajetória biográfica, deixando claro como sempre teve o fazer artístico de algum modo entrelaçado com sua vida, mas que, apenas a partir de um determinado momento, teve uma espécie de chamado que se impôs como um “tudo ou nada”. A partir dali, sua prática se desenvolveu orientada puramente pelo tino espiritual e pela busca de uma carga estética. O artista também discorreu sobre a história de Lavras Novas, já que a cidade é indissociável de sua obra, seja pelas questões ecológicas, seja pelas questões socioculturais. Com um aspecto de pequeno vilarejo, a cidade de cerca de 1.500 habitantes tem suas origens ligadas à atividade mineradora do século 18, mas firmou sua identidade de fato após o esgotamento do ouro e o subsequente abandono pelos mineradores. Dada a forte tradição quilombola do lugar, Advânio cresceu num contexto de organização autônoma, baseada no senso de propriedade comunal da terra e na gestão comunitária e participativa.
No dia seguinte, os três tomaram café da manhã juntos, e os curadores puderam acompanhar alguns processos e técnicas que o artista desenvolve de modo singular. Em seu espaço de trabalho, é possível testemunhar a organização, a hidratação e diversos processamentos de fibras naturais, bem como a formulação de suas soluções escultóricas específicas. Advânio também levou Germano e Thiago a uma mata perto de seu ateliê, onde costuma caminhar e recolher sua matéria-prima. No fim da tarde, os curadores pegaram a estrada de volta para Belo Horizonte.
Matinha; Terra Indígena Taquaritiua, Maranhão.
Germano Dushá, Ariana Nuala
Zimar
Rop Cateh, Thiago Martins de Melo, Gê Viana
A viagem realizada por Germano Dushá e Ariana Nuala ao Maranhão, mais especificamente à região da Baixada Maranhense, foi tanto a visita mais intensa quanto a de maior duração. O intuito era visitar o artista Zimar, no município de Matinha, e o povo Akroá Gamella, na Terra Indígena Taquaritiua. Partindo da capital, São Luís, na primeira hora da manhã do dia 29 de abril, Germano e Ariana seguiram de carro por cerca de quatro horas numa estrada reta, mas repleta de buracos e inconstâncias que impõem grandes dificuldades de acesso, tornando a viagem exaustiva. Sob intensa umidade e altas temperaturas, a jornada até a região cruzou paisagens magnéticas, passando por campos cobertos pela Mata dos Cocais, a vegetação que faz transição entre três grandes biomas brasileiros — Floresta Amazônica, Cerrado e Caatinga. Nessa zona quente, as palmeiras — principalmente babaçus e carnaúbas — erguem-se em meio a grandes áreas, muitas vezes atravessadas por cursos de água e zonas alagadas, reforçando os aspectos místicos da região.
A primeira parada — em Matinha — foi a casa de Zimar, que é tanto sua morada quanto espaço de trabalho, e faz-se reconhecer pelas máscaras penduradas na parede. Ali, Zimar lhes recebeu com todas as suas nuances: entre o acanhamento e a receptividade, entre a doçura e a zoeira. Ele foi logo mostrando as peças de seu acervo, seus materiais e instrumentos de trabalho. Também revelou parte de seu processo criativo. Com uma espécie de carranca-suporte, o artista “limpou” um capacete de moto, de modo a prepará-lo para a queima. Mais tarde, a peça foi levada ao fogão, onde foi sendo derretida aos poucos, para depois ser moldada e ganhar novo formato. Após uma pausa para o almoço em um restaurante no centro da cidade, foram até um local importante da região: um deck às margens do lago de Viana, uma área fluvial imensa, de beleza fascinante, onde Zimar vestiu uma de suas máscaras e colocou seus trajes de brincante do Bumba meu boi, incorporando a figura mística do Cazumba com danças e trejeitos próprios, fazendo “graça de todo jeito”, como costuma dizer.
Na volta, conversaram sobre sua trajetória biográfica, quando Zimar contou sobre sua paixão por Matinha, a cidade em que cresceu, e sua longa e profunda relação com os grupos de Bumba meu boi da região. E, claro, de sua atração existencial com o Cazumba, personagem da festa do boi “com sotaque da baixada”, com o qual sempre se identificou e que é a razão de sua arte. Ao se aprofundar em sua prática artística, Zimar contou como passou a fazer suas próprias máscaras, ou “caretas”, após ter machucado o rosto com uma máscara alheia. No princípio, suas caretas eram feitas de madeira e, portanto, mais rígidas. Após um problema de saúde que lhe tirou a força e precisão necessária para trabalhar com a madeira, encontrou em capacetes de moto descartados a matéria-prima essencial para compor suas criações singulares, que também assimilam outros resíduos industriais e restos de matéria orgânica. Sobre suas obras, Zimar fala que podem remeter a bichos diversos, como jacaré, porco, cavalo, bode, mas é categórico ao dizer que o que importa é que nenhuma se parece com a outra, são sempre novas feições, únicas em suas formas e adereços. E conclui: “minhas caretas são mais feias que a morte”. Quanto mais assustadora, melhor, pois, para serem bonitas, elas têm que ser assombrosas. “Basta dizer o nome: careta!”
No fim da tarde, depois de se despedirem, os curadores seguiram para a aldeia Cajueiro Piraí, no Território Indígena Taquaritiua, que fica a cerca de trinta minutos de Matinha, para passar quatro dias e três noites com parte do povo Akroá Gamella. Estavam na companhia dos artistas maranhenses Thiago Martins de Melo e Gê Viana, convidados a colaborar com a participação da comunidade no Panorama, tanto pela sua relação pregressa com o território quanto pela afinidade entre suas práticas e os fundamentos do 38º Panorama. Nesse período, seria realizado o ápice do ritual de Bilibeu, celebrado pelos Akroá Gamella desde tempos ancestrais, simbolizando a vida, a morte e o renascimento desse santo padroeiro do povo, com origens sincréticas, e ligado à prosperidade e fertilidade do seu povo. Sua celebração, transferida do carnaval para 30 de abril, em memória aos que resistiram ao ataque orquestrado por ruralistas e políticos da região nesse dia em 2017, reflete a constante luta do povo Akroá Gamella perante a violência e dos apagamentos contra sua identidade e modos de vida. O ponto alto do ritual, a “corrida dos cachorros”, percorre diversas casas e aldeias do território em uma caminhada que perfaz mais de 30 km em cerca de doze horas. É da essência desse ritual que veio, por deliberação do conselho da comunidade, o título que representa sua participação no Panorama: Rop Cateh — Alma pintada em Terra de Encantaria dos Akroá Gamella.
Chegando lá, no fim da tarde, foram recebidos calorosamente por Kum’tum Akroá Gamella, importante liderança no território, que Thiago e Germano conhecem há muitos anos e com quem têm colaborado em outros projetos. Os repetidos abraços apertados marcaram a alegria esfuziante do encontro. Os visitantes foram hospedados em sua casa, onde mora com familiares, e que, na ocasião, estava cheia com parentes que vieram para o ritual. O espírito de comunhão, bom humor e trocas deu o tom de toda a experiência: a aldeia estava cheia de visitantes, com representantes de outros povos, como os Krikati e Tremembé, ajudando a compreender como se estendem as relações entre diferentes comunidades do território. Havia, naturalmente, uma grande expectativa e agitação em relação ao dia seguinte. À noite, todos se encontraram embaixo de uma tenda localizada na extremidade da aldeia, espécie de barracão onde fica a imagem de Bilibeu e acontecem conversas, rezas e ritos. Depois de uma reza e uma sucessão de hinos, Ariana, Germano, Gê e Thiago foram apresentados à comunidade, explicaram a razão de estarem ali e o projeto do Panorama. O ritual teve continuidade em outra tenda maior, no centro da aldeia, com cânticos repetidos por todos e seguidos por passos marcados de dança e pelo ressoar de tambores.
Já às quatro da manhã, começou a queima de fogos, criando uma antecipação e esquentando os preparativos para a corrida. A jornada mesmo começou por volta das cinco da manhã. Os “cachorros” logo aparecem, com os corpos e rostos pintados de urucum, jenipapo e fuligem, entoando gritos, fazendo algazarra e alguns movimentos em grupos. Baldes de água correram de um lado para o outro para banhar os corpos dos participantes, que logo se reuniram ao redor do mastro que centraliza todas as ações do ritual: um totem feito de oferendas, que geralmente são frutas — como cachos de bananas —, refrigerantes e outras comidas que são concedidas. Ali, uma primeira caça é oferecida. A galinha é atirada aos céus em direção aos cachorros, que logo a disputam, arrancando-lhe a cabeça e preservando o corpo para ser, mais tarde, cozinhado e comido em comunhão. As cabeças recolhidas vão sendo incorporadas como adereços nas cabeças e pescoços dos cachorros. Os cachorros, que são a maior parte do grupo, são guiados pelo cachorro-mestre e se relacionam também com a onça, bicho que, de certo modo, lidera toda a caminhada e suas ações, mas antagoniza com os cães, assim como o gato maracajá. Há, portanto, além dos gestos ritualizantes, performances espontâneas e uma forte carga de reencenação, que está presente em todo o rito-caminhada e que transcende os limites entre humanos, bichos e outros seres.
Ao longo do dia, a cena se repetiu inúmeras vezes — sempre com a mesma intensidade — por diferentes casas, onde pessoas estavam esperando para ofertar bichos e bebidas para os cachorros e, portanto, para Bilibeu. Porcos e galinhas, conhaques e cachaças foram, então, tornando-se oferendas. O trajeto, que muda todo ano, foi feito sob o sol forte e sob chuva, e percorreu estradas de terra e asfalto, matas, lamaçais, zonas alagadas e profundos cursos de água. Entre os momentos de oferendas das caças aos cachorros de Bilibeu, outras atividades vão sendo realizadas, como rodas, cantos e lutas corporais. A caminhada é realizada, fundamentalmente, para demarcar o território com os próprios pés, simbolizando uma mensagem muito clara e direta: o chão que pisam é o território originário Akroá Gamella, é o território sagrado de seus antepassados e de seus Encantados. A corrida acabou por volta das 17h, quando o grupo foi recebido com fogos de artifício, festa e entusiasmo. À noite, seguindo o ritual, Bilibeu adoece e morre. No dia seguinte, renasce. No fim da manhã, o mastro com oferendas é derrubado por machadadas desferidas individualmente por diferentes pessoas, entre a confraternização e a sacralização. Depois, o tronco é levado para os pés do santo, na tenda, e os atos finais são concretizados. Atualmente, as cerimônias e festividades de Bilibeu são essenciais para a retomada e afirmação da identidade Akroá Gamella: além de reafirmar sua existência, ancestralidade e crenças, o ritual fortalece os laços comunitários e a conexão com os Encantados, como modo de semear futuros mais prósperos.
Algumas horas mais tarde, houve uma conversa de congregação e balanço sobre o período do ritual e suas festividades, em que diferentes pessoas deram seus testemunhos sobre os dias passados e atividades futuras envolvendo o território. Em seguida, foi realizada uma importante reunião entre o grupo do Panorama e o recém-formado coletivo Pyhan, que pratica a visualidade e comunicação do território Akroá Gamella, atuando com narrativas textuais, audiovisuais e fotográficas. Foram discutidos a história e o contexto sociocultural do MAM e do Panorama, bem como os conceitos que fundamentam a exposição e suas questões formais. Dada a centralidade dessa celebração na participação dos Akroá Gamella e a complexidade de se pensar uma apresentação de um território numa exposição de arte, foi fundamental para os curadores e artistas estarem presentes juntos durante as festividades do ritual de Bilibeu, para viver toda a sua profundidade existencial e riqueza cultural, e ter uma reunião presencial com as lideranças do território, no intuito de explicar melhor o projeto do Panorama, desenvolver a conceituação da curadoria e pensar formalmente o que poderia representá-los na exposição.
Ali foi dado um pontapé inicial para elaborar, em termos conceituais e práticos, a apresentação da comunidade na mostra. Gê Viana desempenhou um papel fundamental na discussão, que se concentrou em temas como compartilhamento, educação e coletividade. A ocasião também serviu para definir os próximos passos, que incluiriam oficinas a ser conduzidas por ela e Thiago Martins de Melo nos meses seguintes, como modo de enriquecer o processo com discussões teóricas e conceituais, mas, sobretudo, com atividades práticas envolvendo colagem, desenho e pintura. No fim da tarde, voltaram de carro para São Luís, com o corpo exausto, mas a alma aquecida pela passagem breve, mas infinitamente marcante, daqueles dias.
João Pessoa, Paraíba
Ariana Nuala
Marlene Almeida
A última viagem foi realizada por Ariana Nuala para João Pessoa, com o intuito de visitar Marlene Almeida. Ariana saiu de Recife bem cedo, na manhã do dia 7 de junho, e fez o trajeto de carro pela BR-101 entre as capitais de Pernambuco (Recife) e da Paraíba (João Pessoa), em cerca de duas horas. A rota — conhecida entre recifenses e pessoenses — ainda é marcada pela monotonia das plantações de cana-de-açúcar, entre outros resquícios de um passado colonial. Ao se aproximar de João Pessoa, a paisagem rural gradualmente dá lugar a fábricas, postos de gasolina, grandes mercados e à Universidade Federal da Paraíba. Mais adiante, o centro histórico — com suas ruas de paralelepípedos, casarões antigos e igrejas coloniais — é um testemunho da rica herança cultural da cidade, onde o passado e o presente se entrelaçam em edifícios preservados e revitalizados, que hoje abrigam museus, galerias de arte e espaços de cultura.
É nesse contexto que se insere a casa ateliê de Marlene Almeida, em cujo endereço Ariana chegou no fim da manhã, sendo recebida calorosamente pela artista. Depois de oferecida e aceita uma cajuína gelada, Marlene levou sua visitante ao seu espaço de trabalho, um grande anexo à sua residência, com dois andares. Entrar nesse universo de Marlene é como descobrir um tesouro: uma vasta coleção de rochas e terras de todas as épocas, de várias regiões do Brasil e de alguns lugares do mundo cobrem quase todos os cantos, em prateleiras repletas de potes e outros recipientes. Em outras superfícies livres, livros, tecidos, rascunhos e experimentos completam o ambiente, atestando a curiosidade da artista pela vida e as diversas formas de senti-la e entendê-la. Nessa conversa inicial, em meio às centenas de amostras dos solos por onde passou — e que servem como memória e insumo —, Marlene explicou os processos de formação mineral e geológica, como a cristalização de magma, a sedimentação de partículas e a metamorfose de elementos. Esse “Museu das Terras Brasileiras” — como Marlene o chama, independentemente da informalidade institucional — reflete a dimensão de sua trajetória e de seu trabalho, tanto o realizado quanto o potencial. A artista, então, expressou o que já era evidente: que seu maior desejo é transformar sua coleção em acervo público, seja de uma universidade, seja de um centro cultural.
Conhecer pessoalmente Marlene é como reencontrar uma certa magia — uma mulher militante e poeta, cientista e artista, conectada à existência e à terra, não pela posse, mas pelo desejo de viver seus encantos e cores. Marlene vê as pedras como antigos contadores de histórias, e essa perspectiva se desdobra em uma escuta atenta às formações geológicas. Sobre sua própria história, a artista contou que, no início, suas ideias sobre ecologia eram pouco faladas, e menos ainda compreendidas. A dimensão política do seu interesse pelo telúrico ensina que o “ter” se distingue fundamentalmente do “sentir”. Para ela, o pensamento e a prática ecológica abrem caminhos para uma conexão entre o corpo humano e o mineral, na qual o fascínio não se limita à forma, à cor ou ao brilho, mas ao que esses elementos revelam sobre a história do mundo e a nossa própria existência. Apesar da densidade do tema, Marlene fez questão de resumir — com uma didática que lhe é característica — seus experimentos entre a terra e as cores com as quais compõe suas obras.
Enquanto mostrava para Ariana espaços de trabalho permeados por obras em processo no segundo andar de sua casa, Marlene reforçou que seu processo criativo, desenvolvido ao longo de cinquenta anos, envolve essencialmente a relação com a dimensão natural. Sua pesquisa e produção artística assimilam a prática científica e laboratorial, mas também podem envolver uma simples caminhada para sentir o cheiro da terra e pegar um pouco do chão com as mãos. No início de sua trajetória artística, ela combinava as cores naturais com tintas industriais, até que reuniu saberes de diferentes áreas para poder, com o tempo, trabalhar exclusivamente com pigmentos extraídos da terra. O tempo — sempre longo e contínuo — é outro elemento central que atravessa toda a produção de Marlene. Nas últimas décadas, esse envolvimento profundo com as bases do seu trabalho confluiu numa fidelidade que a artista sentia com a paisagem, que lhe proporcionava sua matéria-prima, em encontros únicos com os tons e as memórias incrustados em cada território. Por isso, ela diz que, ao preparar uma cor, muitas vezes pensa que a obra já estava pronta, mesmo antes de ser trabalhada e aplicada em qualquer suporte. No ateliê, porém, ela realiza experimentos com geotinta (elaborada com pigmentos naturais), que aplica em instalações e pinturas. Em cada composição que cria, Marlene revisita os lugares pelos quais passou, reconectando-se e reconfigurando-os.
Ao longo da visita, também ficou clara a sua força compartilhadora, que se revela em suas raízes nos espaços de discussão e luta pela reforma agrária, nas aulas, oficinas e cursos que fazem circular seu pensamento ou em suas profundas trocas interdisciplinares. Marlene é uma geóloga da arte, combinando conhecimentos literários, científicos e alquímicos para contar as histórias que ouviu das pedras que cruzaram seu caminho. Já passava da hora do almoço quando Ariana começou a se preparar para partir. Tinham conversado brevemente sobre seu projeto para o 38º Panorama, que Marlene definira pouco antes. A surpresa foi que, aos 82 anos, a artista se despediu afirmando que a possibilidade de apresentar uma síntese do seu trabalho em uma exposição como o Panorama é algo profundamente significativo para ela. Com a certeza de que também o era para o Brasil, Ariana se despediu com um abraço apertado, parando para comer no caminho de volta.
Arquitetura e projeto expográfico.
O 38º Panorama da Arte Brasileira é a primeira edição a acontecer fora do espaço do MAM, nos 55 anos de história dessa série de exposições. Neste ano, a mostra atravessa a passarela da 23 de Maio e é sediada pela instituição vizinha, MAC USP. O projeto, elaborado inicialmente para o espaço do MAM, teve que ser totalmente repensado para o MAC, faltando apenas quatro meses para a abertura da mostra.
O edifício que hoje abriga o MAC foi inaugurado em 1954, e integra o conjunto de edificações do Parque Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer. Originalmente intitulado Palácio da Agricultura, alguns anos depois, em 1959, virou sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo, que funcionou ali até 2008. Após negociações entre a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e a Reitoria da USP, concluídas em 2012, ficou definido que o prédio seria a nova sede do MAC USP.
Em sua essência, esse pavilhão reflete a simetria de uma grande forma retangular, que oferece vãos amplos e livres, e é marcado por seus pilotis em V no térreo, pela sequência de pilares estruturais nos pavimentos e pelo uso expressivo do concreto. A edificação também apresenta desafios próprios decorrentes da adaptação de sua função anterior ligada à administração pública para um espaço expositivo. Nesse sentido, ainda se fazem presentes os ruídos das sobreposições de tempo e as limitações técnicas estruturais que inevitavelmente marcaram os esforços de adaptação deste Panorama.
Para uma mostra interessada, conceitual e poeticamente, por situações extremas e seus consequentes processos de transformação, a mudança de local exigiu a incorporação, na prática, de discussões teóricas. Nesse sentido, a energia gerada por esse desafio certamente se impregnou na natureza da exposição. Apesar das mudanças radicais que o deslocamento ensejou, as equipes encararam a situação como uma oportunidade para reenergizar e consolidar ideias curatoriais e expográficas iniciais. Para guiar esse processo, partidos originais, como a visão site-specific do projeto expográfico e a criação de um vocabulário flexível para os mobiliários e suportes expositivos, foram fundamentais para reprogramar a exposição em seu novo espaço. Organizada em dois pavimentos do museu — parte do térreo e todo o terceiro andar —, o processo de adaptação partiu da problemática em conectar esses espaços não contíguos e das implicações materiais e visuais do espaço em relação à acomodação das obras, sobretudo aquelas de maior escala ou com demandas materiais específicas. É possível, portanto, falar em três eixos ou partidos expográficos principais adotados: a ocupação espelhada entre as alas A e B do edifício, com elementos que se equilibram em cada uma; o uso de painéis metálicos
padronizados como matriz gramatical, ativada por variações combinatórias e por uma seleção de materiais para suas superfícies; e a instalação de obras comissionadas em espaços apropriados para recebê-las no MAC, tanto sob a marquise de entrada quanto no térreo e no terceiro pavimento.
Os painéis metálicos desempenham um papel fundamental na criação das superfícies expositivas e no redesenho das perimetrais, uma vez que, em função de questões técnicas, não é permitida a fixação de obras nas paredes existentes. Salvo em alguns casos, os conjuntos de painéis foram alinhados próximos ao eixo das colunas, como meio de manter o vão do pavimento o mais livre possível. Essa decisão foi crucial para responder à imposição física e visual das fileiras de colunas e para minimizar os efeitos do pé-direito baixo.
A partir desse pensamento inicial, buscou-se explorar diferentes combinações dos painéis metálicos, criando um sistema modular e variável. Para ampliar suas formas de uso e flexionar as possibilidades de exibição das obras bidimensionais, foi definida uma cartela de materiais para as superfícies expositivas. Além disso, foram consideradas opções para estruturas complementares aos painéis principais, desempenhando a função de “próteses” que transformam sua configuração original. Por fim, há dispositivos expográficos e mobiliários feitos com metal e madeira desenhados para atender diversas demandas específicas.
Desse modo, o projeto expográfico assimilou tanto os conceitos curatoriais quanto às questões visuais e formais das obras em exposição. O resultado é um sistema dinâmico e aberto para incorporar variações previstas e exceções propositais dentro de uma mesma estrutura.

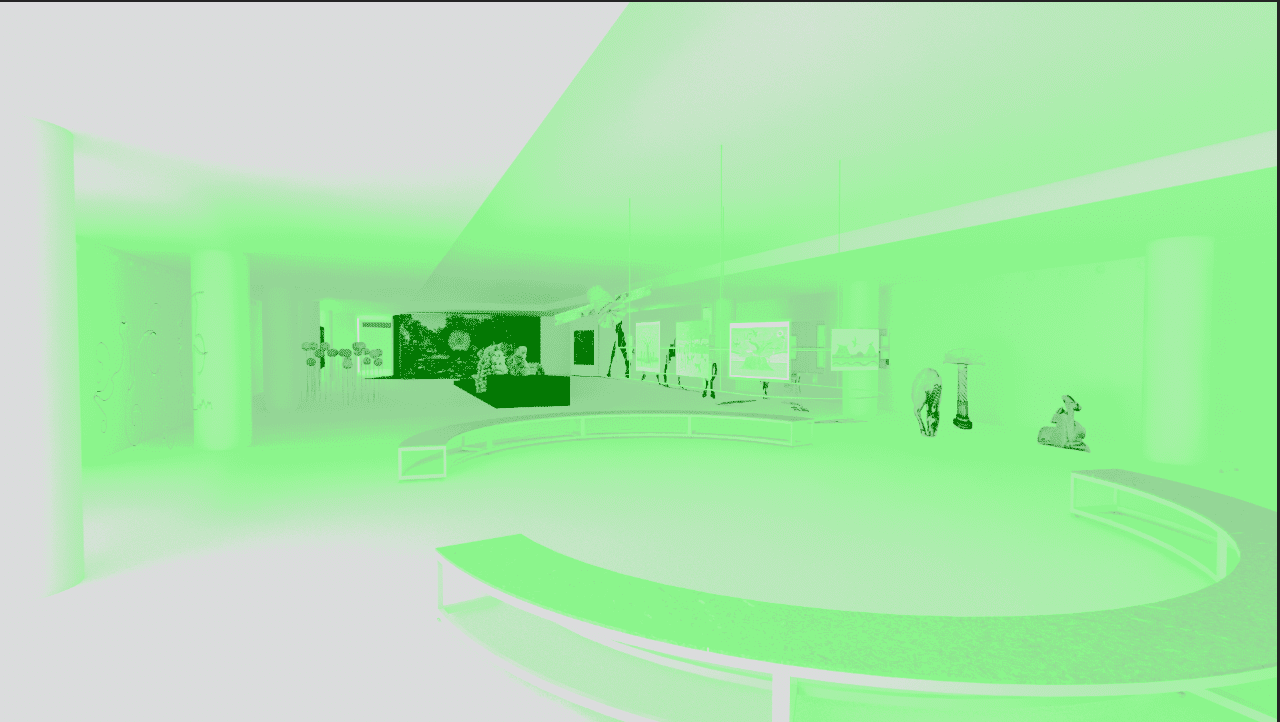
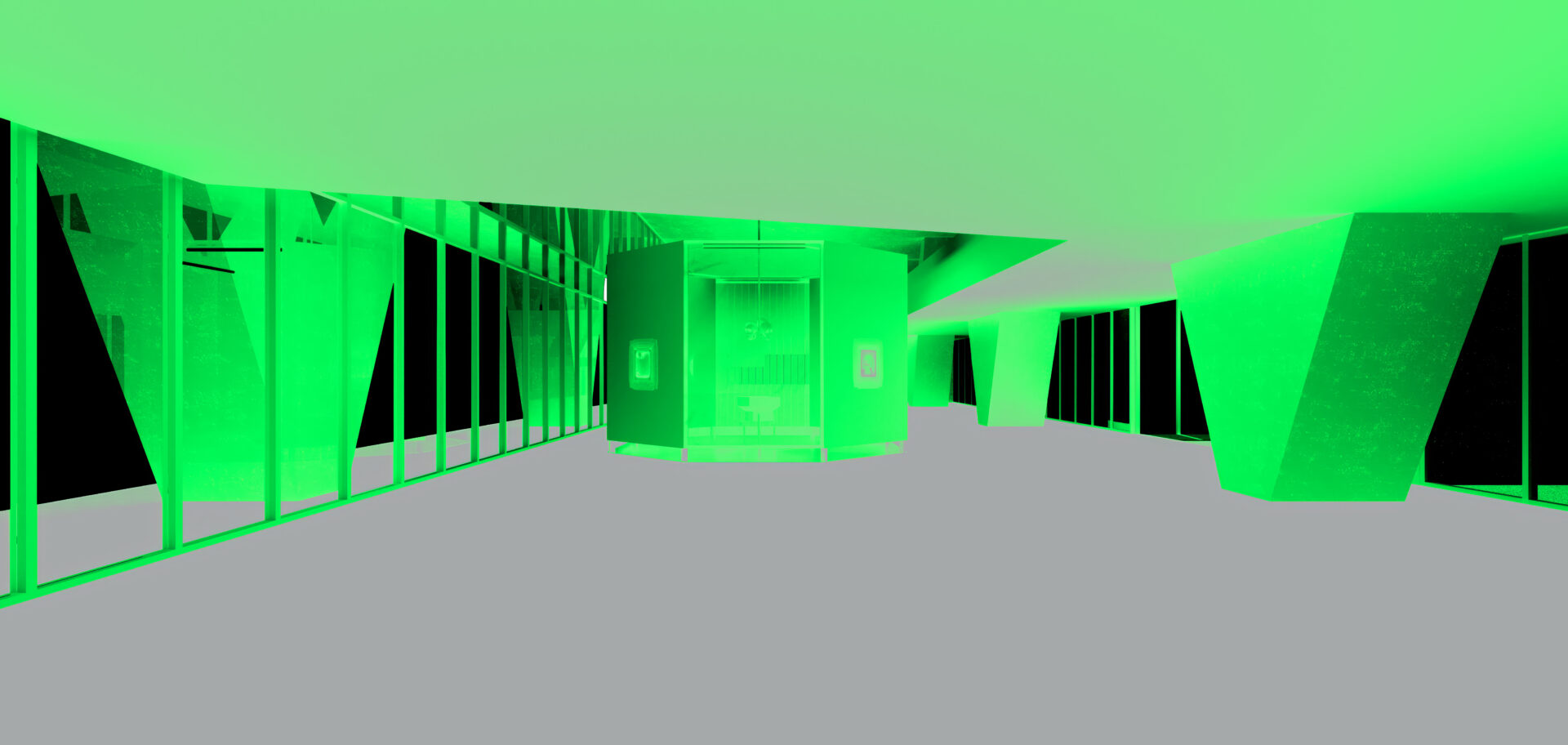
Amaral, installed on MAC USP’s ground floor]

works by Joseca Mokahesi Yanomami, installed on MAC USP’s third-floor]
Ambiente digital.
Um ambiente digital 3D completa a estrutura expositiva do 38º Panorama da Arte Brasileira, como extensão natural de um projeto que busca discutir questões fundamentais à vida contemporânea. Acessível de modo gratuito e irrestrito durante o período em que a mostra fica em cartaz, a plataforma imersiva expande o alcance da exposição e serve como um espaço de experimentação curatorial, tensionando nossa percepção da materialidade e pensando criticamente sobre o modo como infraestruturas e experiências digitais são parte indissociável daquilo que chamamos de “mundo real”.
Sua elaboração arquitetônica aproveita a infinita gama de possibilidades lógicas e visuais que as ferramentas digitais oferecem, criando um espaço que não responde às limitações materiais do mundo físico, muito menos pretende reproduzir o espaço expositivo de um museu. Em outro sentido, a plataforma tem o objetivo de oferecer uma situação envolvente para aprofundar e desdobrar livremente conceitos, imaginações e visualidades da curadoria, refletindo o cotidiano e o fervor criativo cibernético no Brasil.
Como campo expositivo, o ambiente é composto por obras criadas originalmente como mídias digitais e outras que são representações tridimensionais de obras físicas de alguns artistas participantes do 38o Panorama. Assim, o espaço é imbuído de novas camadas de significados que oferecem outras chaves de leitura da proposição curatorial. Com um conjunto de objetos 3D, vídeos e sons, o ambiente digital é uma forma de experimentar imaginários e conexões que desafiam convenções estabelecidas sobre como percebemos, produzimos e interpretamos imagens e narrativas no campo da arte.
Em um cenário de geologia pós-distópica, composto por cores e céus até então impossíveis, o usuário navega livremente em primeira pessoa, criando seus próprios caminhos por uma paisagem ilocalizável e de temporalidade expandida. Nessa nova ecologia, sob uma atmosfera densa e uma suspensão magnética, fenômenos, objetos e imagens revelam-se para evocar a memória e o mistério de processos transformadores, em que se cruzam experiências místicas, biológicas e tecnológicas.
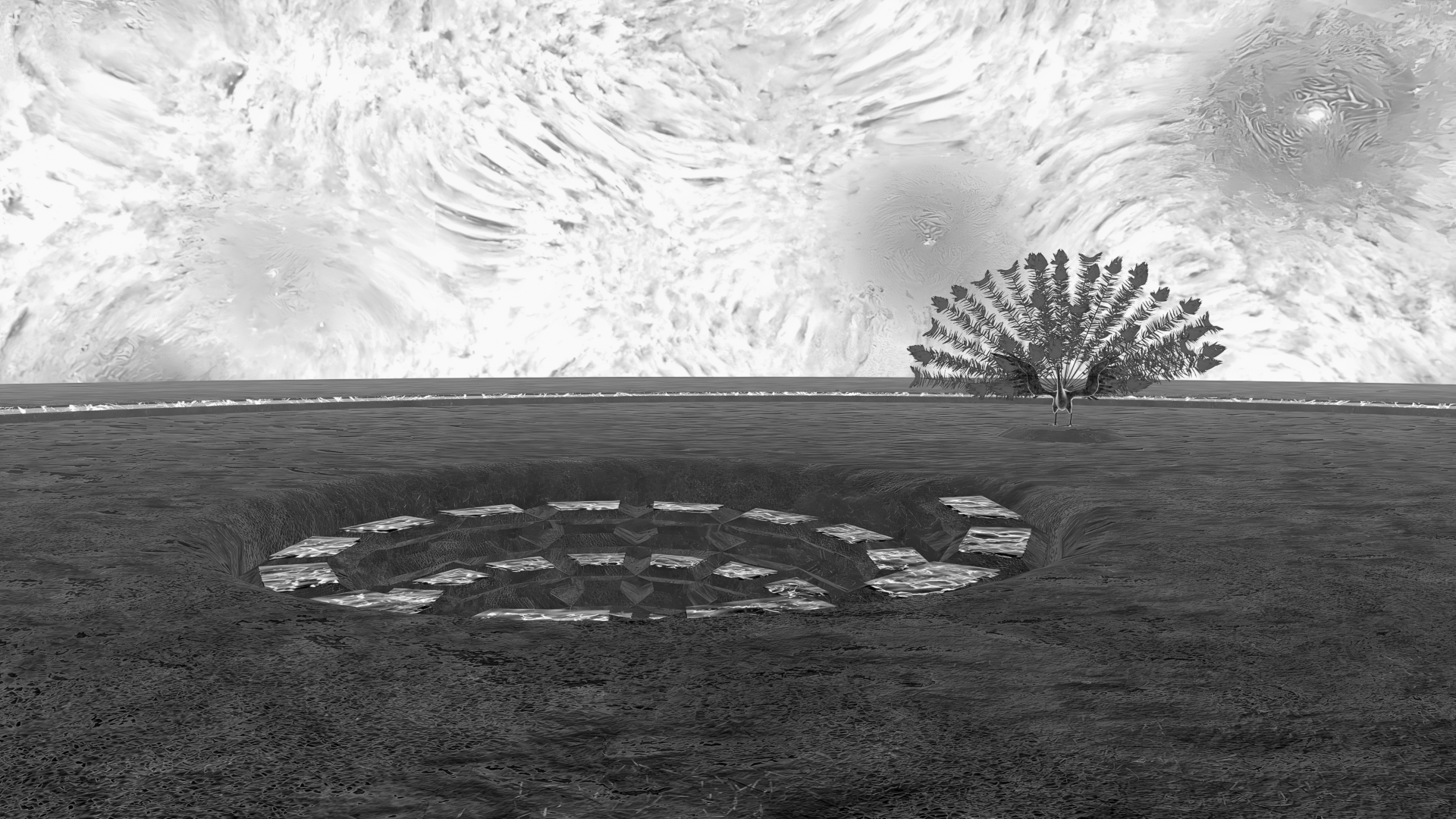

Ensaios.
Como modo de desdobrar conceitualmente a proposta curatorial do 38º Panorama da Arte Brasileira — tecendo seus sentidos a muitas mãos — onze autores foram convidados a elaborar visões, proposições e provocações na forma de ensaios curtos. São pensadores e articuladores de diferentes gerações e contextos que costuram temas entre a biologia e a filosofia, o funk e a tecnologia, as relações interespécies e a poesia das religiosidades. Emergem, assim, diálogos, experiências subjetivas, exercícios de imaginação e questionamentos políticos no cruzamento entre ciência, arte e espiritualidade. Em comum, os textos evocam a potência do calor como catalisador da transmutação — processo vital que amalgama passado e presente para forjar
o futuro, criando novas perspectivas existenciais. Como um campo prismático entre continuidades e mudanças, os ensaios propõem reflexões que atravessam as separações de tempo e espaço, conectando todos os seres em seus eternos estados de transformação.
O fogo, nosso avô – Sidarta Ribeiro.
A produção voluntária e ancestral da chama foi essencial para nos transformar em animais capazes de subjugar qualquer outro predador terrestre. Agora, o que precisamos resgatar para nos salvar dessa pulsão de Morte?
A produção voluntária e ancestral da chama foi essencial para nos transformar em animais capazes de subjugar qualquer outro predador terrestre. Agora, o que precisamos resgatar para nos salvar dessa pulsão de Morte?
Recebi por intermédio de meu amigo e editor Ricardo Teperman uma demanda do mestre Davi Kopenawa Yanomami sobre a origem do fogo. Como surgiu a relação profunda dos seres humanos com a chama colorida que encanta os olhos, aquece a noite e devasta florestas?
Embora a cosmovisão científica estime que existam entre 2 bilhões e 2 trilhões de galáxias no Universo, contendo por baixo 200 sextilhões de estrelas mais ou menos semelhantes ao Sol, o fogo é uma verdadeira raridade sideral, um fenômeno específico intimamente ligado à abundância de oxigênio e à propagação voluntária das chamas realizada pelos seres humanos. Ao contrário do que muita gente pensa, o Sol não brilha por estar queimando, e sim porque os gases hidrogênio e hélio, que compõem 99,9% dessa imensa esfera, passam incessantemente por fusão nuclear em seu centro, a uma temperatura que alcança 15 milhões de graus Celsius.
Em comparação com esse processo de aquecimento extremo, o fogo é um fenômeno relativamente frio, tipicamente em torno de 1 mil graus Celsius, mas podendo variar entre 600 e 5 mil graus Celsius com chama vermelha quando a temperatura é mais baixa, amarela quando é intermediária e azul quando é mais alta. Para a química estudada nas universidades e nos laboratórios de pesquisa, o Avô Fogo que afugenta as feras corresponde à reação súbita do oxigênio com diversos compostos combustíveis. Essa oxidação acelerada produz luz, calor e substâncias derivadas da combustão, como o dióxido de carbono.
Durante a maior parte do tempo transcorrido desde a origem da vida na Terra, há 3,7 bilhões de anos, o fogo foi escasso ou até inexistente, pois quase não havia oxigênio disponível na atmosfera. Foi apenas com o início da evolução do reino vegetal, há 470 milhões de anos, que o oxigênio passou a se acumular a ponto de causar a ocorrência do fogo. Mesmo assim, a irrupção dessa reação química só se tornou mais abundante a partir de 420 milhões de anos atrás, quando os níveis de oxigênio subiram a ponto de deflagrar grandes incêndios florestais, que aparecem desde então no registro fóssil como camadas bem definidas de plantas carbonizadas.
Entre 7 milhões e 6 milhões de anos atrás, o fogo tornou-se ainda mais comum, com a disseminação planetária das plantas altamente combustíveis que chamamos de gramíneas, vegetação herbácea que pode ser rasteira como a grama, ou mesmo mais alta que uma pessoa. Com o passar do tempo, a frequência, o tamanho e a duração dos incêndios foram aumentando, à medida que a temperatura na superfície da Terra subia e a umidade diminuía pela própria ação do fogo. Incêndios sazonais passaram a atuar em alterações periódicas da biodiversidade, tornando-se importantes para o equilíbrio dinâmico de biomas como as vegetações campestres e as Savanas – por exemplo, o Cerrado.
O capítulo mais recente da saga do fogo na Terra tem a marca indelével da ação humana. A utilização do fogo por nossos ancestrais não foi um evento singular tal como sugerido pelo mito grego de Prometeu, o titã que teria roubado o fogo dos deuses para dá-lo de presente aos seres humanos e assim mudar para sempre o curso de nossa história. Ao contrário, o fogo foi humanizado através de um longo processo de descobertas e invenções que permitiram o controle, a preservação e os múltiplos usos desse fenômeno transformador.
Acredita-se que nossos ancestrais descobriram o calor e a luz do fogo pelo encontro com incêndios provocados pelos raios solares, por relâmpagos ou por lava vulcânica. Inicialmente, o fogo só podia ser usado – para aquecer corpos, afugentar predadores ou cozinhar alimentos – quando era encontrado por pura sorte. Assim como ocorre hoje em dia com chimpanzés e outros primatas, nossos ancestrais provavelmente passaram a seguir os rastros dos incêndios para se alimentar dos animais e plantas mortos em sua passagem.
Mesmo ocasional, o consumo de alimentos assados aumentou muito a disponibilidade de nutrientes, e com o tempo nossas tataravós e tataravôs afinal compreenderam que o fogo podia ser cuidadosamente preservado pela manutenção contínua de suas chamas com mais madeira, gravetos, palha e folhas secas. Passamos a coevoluir com as gramíneas e muitas outras espécies em torno do fogo.
O filme Piripkura (2017), dirigido por Mariana Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge, documentou o emocionante esforço empreendido pelos dois últimos Indígenas remanescentes dessa etnia amazônica para manter acesa num oco de pau a única chama que possuíam, salvando com máximo zelo, de dia e de noite, mesmo debaixo de chuva, o incrível poder do fogo. As pesquisas demonstram que nossos ancestrais descobriram como produzi-lo entre 1,5 milhão e 400 mil anos atrás, a partir do uso da luz solar e da fricção de pedras sobre palha, gravetos e carvão. Porém, foi apenas no Paleolítico superior, a partir de 50 mil anos atrás, que o uso do fogo se tornou realmente generalizado, transformando para sempre nossas relações com outros animais e entre nossa própria espécie, pelo aumento da sociabilidade ao redor das fogueiras, o que impulsionou de forma explosiva a coesão grupal e o acúmulo cultural dos últimos milênios.
Nunca mais fomos os mesmos. A produção voluntária do fogo foi essencial para a inversão de perspectivas ecológicas que nos transformou nos animais mais temíveis do planeta, capazes de subjugar qualquer outro predador terrestre. É extremamente provável que entidades espirituais ligadas ao fogo tenham sido sonhadas a partir desse período, iniciando um longo processo de divinização do fogo que milênios depois daria origem a inúmeros deuses cultuados por diferentes povos do planeta, como Xiuhtecuhtli entre os astecas, Pele entre os havaianos, Kagu-tsuchi entre os japoneses, Agni entre os hindus, Hestia e Hefesto entre os gregos, Vesta e Vulcano entre os romanos, Brigid entre os celtas e Logi entre os nórdicos.
Após o final da última glaciação, há 11,5 mil anos, a enorme capacidade de transformação química do fogo tornou-se progressivamente mais importante para as sociedades humanas, pela invenção e desenvolvimento da cerâmica, da metalurgia e da agricultura. Queimadas bem controladas, com temperaturas reduzidas, começaram a ser usadas para disponibilizar nutrientes no solo e limpar terreno para o cultivo de espécies vegetais comestíveis. Entretanto, também se tornaram cada vez mais frequentes as queimadas descontroladas sob altas temperaturas, usadas como furiosas armas da guerra capitalista contra o solo, os fungos, as árvores, os animais não humanes e sobretudo outras pessoas.
A partir da Idade do Bronze, iniciada há cerca de 5,3 mil anos, o fogo tornou-se essencial em inúmeras atividades humanas, com destaque para nossa progressiva obsessão com a guerra. O fogo sagrado de nossos ancestrais passou a ser cada vez mais um instrumento para a opressão, tortura e execução de pessoas, da destruição de Tenochtitlán às fogueiras da Inquisição, das bombas incendiárias dos Estados Unidos que devastaram o Japão à chuva de Napalm do mesmo país sobre populações civis na guerra do Vietnã, dos incêndios criminosos iniciados pelos militares de Mianmar ao fósforo branco lançado pelo exército israelense sobre os pulmões das crianças de Gaza.
Sabemos que as guerras muitas vezes são motivadas pela intenção de espoliar recursos e fazer dinheiro. A profanação do Avô Fogo em ferramenta da Morte é sintoma claro da doença da mercadoria e da adoração do dinheiro das quais nos fala o xamã Kopenawa Yanomami:
Quando o ouro fica no frio das profundezas da terra, aí tudo está bem. Tudo está realmente bem. Ele não é perigoso. Quando os brancos tiram o ouro da terra, eles o queimam, mexem com ele em cima do fogo como se fosse farinha. Isto faz sair fumaça dele. Assim se cria a xawara, que é esta fumaça do ouro. Depois, esta xawara wakëxi, esta “epidemia-fumaça”, vai se alastrando na floresta, lá onde moram os Yanomami, mas também na terra dos brancos, em todo lugar. É por isso que estamos morrendo. (…) Quando esta fumaça chega no peito do céu, ele começa também a ficar muito doente, ele começa também a ser atingido pela xawara. A terra também fica doente.¹
¹ Carlos Alberto Ricardo (org.). “Xawara: o ouro canibal e a queda do céu”. In: Povos Indígenas no Brasil 1987-90. Série Aconteceu Especial, n. 18. São Paulo: CEDI, 1991, p. 169-171.
Hoje, no interior da floresta tropical, o fogo usado para abrir pastos e garimpar ouro acelera a crise socioambiental, catalisando a catástrofe dos rios esgotados e a redução da umidade que vão tornando a Amazônia cada vez mais seca e inflamável. Isso apenas reforça a tendência de aquecimento global e o aumento da variabilidade climática, por causa do dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa produzidos pelo gado criado em escala industrial e por nossa compulsão para queimar petróleo.
Nossa relação ancestral com o fogo é sagrada e precisa ser curada. O mesmo fogo que destrói a biodiversidade da Amazônia e do Pantanal é necessário para manter a biodiversidade do Cerrado. Entre os Yanomami o fogo é usado na parte final do rito funerário Reahu, para transformar ossos em cinzas e assim deixar a memória dos mortos descansar. O problema não é o fogo, mas sua frequência e intensidade excessivas em prol do lucro cobiçado pelos predadores à margem da lei, da ciência e da decência.
As mudanças climáticas atualmente em curso apontam para a desertificação progressiva de grande parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, enquanto a Região Sul deve receber cada vez mais chuvas intensas e destrutivas. No contundente romance Salvar o fogo, escrito por Itamar Vieira Júnior e publicado em 2023 pela editora Todavia, a protagonista Luzia do Paraguaçu tem ao mesmo tempo o dom e a desdita dos incêndios que tanto salvam quanto destroem. Qual fogo vital precisamos resgatar dentro de nós mesmos para salvar o Avô Fogo de nossa pulsão de Morte?
Publicado 22 novembro 2023 em sumauma.com/o-fogo-nosso-avo. Sidarta Ribeiro (Brasília, DF, 1971) é neurocientista, escritor e professor. É cofundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ICe-UFRN) e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz (CEEE-RJ). Escreve a coluna SementeAR, na plataforma SUMAÚMA: jornalismo do centro do mundo.
Sobre o calor – Denise Ferreira da Silva.
O aumento das temperaturas pode servir como uma guia para refletirmos sobre como o colonial, o racial e o capital estão profundamente — e materialmente — implicados e entrelaçados.
Como despensar o planeta? Como libertá-lo dos procedimentos e ferramentas que presumem que tudo o que existe ou acontece é uma expressão do humano? Quais descritores sustentarão relatos críticos sobre as mudanças climáticas que não reafirmam simplesmente o humano e seus atributos únicos, como as teses sobre o Antropoceno? Que relatos de mudança podem deslocar o Tempo Universal e afrouxar seu domínio sobre nossa imaginação?
Experimentar o Elemental como descritor metafísico expõe como a violência colonial e racial é vital para o acúmulo de capital em seus vários momentos (comercial, industrial e financeiro). A meu ver, pensar com o calor permite perceber que o Tempo Universal (o tempo do Humano) se desloca em direção a um relato não antropocêntrico daquilo que existe ou acontece. Com o calor, é possível conceber a mudança não como progressão, mas como transformação material.
Filósofos modernos, como Locke (1632-1704) e Hume (1711-1776), delimitaram o alcance da Ciência ao enquadrar o Homem como uma coisa do tempo. Esse gesto, que colocou o Homem na base dos programas epistêmicos e éticos modernos, tinha uma condição: o Homem não se tornaria objeto de conhecimento científico. Assim, a consolidação do Tempo Universal ocorreu apenas séculos depois, nos relatos de Hegel (1770-1831) sobre História e de Cuvier (1769-1832) sobre a Vida, que reconfiguraram o Homem como o Humano — isto é, tornaram-no a medida para conhecer tudo mais no mundo. Ambos os relatos — o histórico de Hegel e o orgânico de Cuvier — transmitem o tempo como universal, ao mesmo tempo finito e transcendente, ao representar História e Vida como desdobramentos progressivos que encontram seu ápice na condição humana, como existia na Europa pós-Iluminista. Através dessas noções — a histórica e a orgânica —, o Tempo Universal (Humano) ocuparia o Mundo, tornando-se a base para classificar tudo o que existe e acontece, desde a composição dos corpos e coletivos até (as camadas geológicas) do planeta que habitamos.
Como, então, interromper a pervasividade do Tempo Universal (Humano)? Ultimamente, tenho explorado a correspondência dos elementos clássicos com as quatro transições de fase típicas: sólido/terra, líquido/água, gás/ar, plasma/fogo.
A meu ver, o pensamento Elemental — em particular a noção de Empédocles de que tudo o que existe é apenas uma composição, recomposição ou decomposição dos quatro elementos clássicos (ar, fogo, água, terra) — inspira uma descrição daquilo que acontece que não remete à forma como o Tempo Universal apresenta a mudança como progressão temporal. Em vez disso, representa a mudança como transformação material, ou seja, como transição de fase.
Deixe-me ilustrar brevemente o que quero dizer com transformação material, usando o calor como guia para refletir sobre como o colonial, o racial e o capital estão profundamente — materialmente — implicados. O aquecimento do planeta é causado pela emissão excessiva e pelo acúmulo de gases de efeito estufa — dióxido de carbono, metano e óxido nitroso — que eleva a temperatura da troposfera, a camada inferior da atmosfera terrestre. Cinco coisas que sabemos serem relevantes para correlacionar o excesso com as mudanças climáticas: (1) a temperatura é uma medida do calor; (2) o calor é a transferência de energia cinética interna; (3) a energia total em um sistema, como o cosmos, permanece constante; (4) o gasto de uma certa forma de energia é basicamente sua transformação em outra forma de energia; e (5) matéria e energia são equivalentes.
O que estou propondo, portanto, é que o acúmulo de gases de efeito estufa na troposfera corresponde à (é uma transformação da) extração extensiva e intensiva de matéria da Terra, na forma de combustíveis fósseis, nutrientes do solo para alimentar culturas e gado, e o trabalho (humano e além do humano) que sustenta o capital. O acúmulo de gases atmosféricos expressa a (equivale à) extensão da expropriação e a intensidade da concentração de energia (cinética) interna expropriada de terras e do trabalho facilitadas pela colonialidade e racialidade. O que foi e está sendo extraído através de mecanismos jurídicos coloniais e ferramentas simbólicas raciais — os “meios de produção” ou as “matérias-primas” utilizadas para acumulação (a energia interna de africanos escravizados e de terras indígenas) — agora existe na forma de capital global.
Este é um artigo publicado na edição de outono de 2018, intitulada “Climates” [Climas], na seção “Features” [Destaques] da revista canadianart | 29 de outubro de 2018.
Denise Ferreira da Silva (Rio de Janeiro, RJ) é artista e filósofa. Ocupa atualmente a cátedra Samuel Rudin Professor em Humanidades no Departamento de Espanhol & Português na Universidade de Nova York. Foi também professora visitante na Universidade de Paris 8, Universidade da Pensilvânia, Universidade de Toronto e Universidade La Trobe.
meu tikum está muito alegre – edson barrus atikum
Em 27 de fevereiro de 2021, postei em instagram.com/tikum_:
final de fevereiro de 2020, a pandemia do coronavírus toma forma no Brasil. Lockdown, confinado e naquela de o que fazer como trabalho de arte na quarentena, que tivesse circulação no Instagram?
Um trabalho haver com a minha prática de cuidado, de manutenção cotidiana, de salvaguarda, de compromisso, assim como o projeto imburana, o Rés do chão, as quarentenas Açúcar invertido, Bcubico, e que também afirmasse a minha convicção de não pureza, que diluísse as narrativas puristas. Criar um cadelo foi a ideia. Não poderia ser comprado nos mil petshops da vizinhança, deveria ser adotado. Um vira-lata, um desqualificado sem raça definida, como o cão mulato.1
Começamos a procura, muitas ofertas de filhotes castrados não me interessavam. Procurei em Carnaubeira da Penha, em Petrolina, e o encontrei em 7 de setembro, no Posto São Luiz, na estrada de Riacho das Almas (PE).2 Chamaram-me para escolhê-lo em uma ninhada de sete, pedi que me fosse uma surpresa.
Ele chegou, a mim e yann, na palma da mão de meu sobrinho Etinho, parecia um mocó, a coisa mais linda! com a sugestão de nome “Ludwig” e com um mês de idade, aproximadamente, segundo o veterinário. Leonino.
Tikum pode ser pronunciado por qualquer pessoa em qualquer língua. Não significa nada, não remete a ninguém. Um nome-evento. Está perto de completar sete meses e demandando manutenção, cuidado cotidiano, carinho e produzindo imprevisíveis a cada momento. Dorme, corre, pula, come, passeia, brinca, nada, adoece, caga, mija, cresce, morde, destrói tudo que vê pela frente, dá e pede carinho. Vida de cão. Vive como uma obra de arte.
Que é ou quem poderia ser um criador? Criar
pode ser aquele que cria uma cria, um criador de
cachorros, por exemplo. Mas, pode um criador de
cachorro ser ‘o criador’? Talvez, por que não?3
de 10 de novembro de 2020 a 20 de julho de 2021, alimentamos o perfil tikum_
no instagram. paramos pelo excesso de exposição de nossa vida e também porque cansa. o cachorro/criação não representa nada, então, habitar com tikum é nos envolver nas nossas histórias; coabitarmos ativamente nossa história de coevolução e socialidade interespecífica, sem adestramentos e com liberdade de iniciativas.
cuidamos dele e ele nos cuida. depois que nos associamos com monsieur tikum, nossos modos de vida humanos estão visivelmente transformados nesse “jogo de flexibilidade e oportunismo para ambas as espécies”.4
yann5me massageia o pé esquerdo e tikum me lambe a perna direita. formamos uma família de dois humanos e um cachorro. um trisal homocanino de um cachorro sem raça definida, bicolor, inteiro de quase quatro anos + duas bixas na 3a idade, eu, indígena originária do sertão nordestino, vivendo no contexto urbano de recife, artista sessentona com o fígado gordo e 40% do pulmão destruído pelo cigarro, funcionando à base de medicamentos diários, vivendo há 22 anos com a bixa cineasta, parisiense, septuagenária transplantada do fígado e que funciona também com muitos medicamentos diários.
puxam os seus. as famílias lgbtqia+ que cruzamos na caminhada são tão reservadas que a relação não flui. mas compartilhar o passeio com tikum tirou-me da preguiça. e agrada-me ser levado pelo seu nariz por caminhos nos quais escolhe o mato que lhe faz bem, e cruzamos pessoas, cães, gatos e pombos. desviando das padarias ou apressando-me ao passar perto para não esperar parado enquanto compro pão. coça-se no meio da avenida quando apressadamente a estamos atravessando. _corre, tikum, corre! buzinas e barulho de carros e motos turbinadas, carroças de cavalos, burros sem rabo e bicicletas com caixas de som. prédios levantando-se e outros definhando embargados. hoje, ele se pôs em frente à porta da galeria marco zero, que automaticamente se abriu, ele entrou na exposição e foi simpaticamente recepcionado por uma moça. se necessariamente nos separamos, ele fica tristonho, mas logo se alegra passeando pela praia, cheirando e mijando as redondezas e seduzindo seus amigos, que até saem do mar para vir cumprimentá-lo na areia.
carnaubeira da penha>são paulo>lençóis maranhenses>governador valadares>belo horizonte>juiz de fora>mossoró>sobral>juazeiro do norte> jequié>teresina>timon>picos, petrolina – esquizogeolocalizações que juntes vivemos – sorocaba>floresta>aracaju>parnaíba>barreirinhas>santo amaro do maranhão. viajamos e nos hospedamos em lugares que nos aceitem todos dentro de casa. acomodações, às vezes precárias, mas bem felizes por nos aceitarem. quatro biches, duas humanas + tikum + carro. é importante ter garagem para proteger o carro cheio de pelos e ácaros. os 23,8 kg de tikum nos impedem de hospedagem em hotéis. também não podemos viajar em cabine de aviões, ainda. mas, viajamos juntos de Fiat 500 branco e conhecemos lugares diferentes e vivenciamos experiências na condição de humanobichocarro. em nossas idas a carnaubeira, tikum agita-se em alegria e ansiedade dentro do carro, latindo para cabras, bodes, cachorrxs, jumentxs e galinhas que vê na estrada. quando estacionamos no acesso ao projeto imburana,6 ele adentra a porteira do terreno e desaparece na carreira pelos dois hectares de caatinga com suas catingueiras, imburanas, abelhas, passarinhos, mandacarus, quipás, aroeiras, juazeiros, xique- xiques, lagartas-de-fogo, cobras-pretas, formigões, escorpiões e cogumelos e tantos outros seres nativos da mata branca que conservamos como arte place specific.
a co-vivência entre espécies na arte nos remete a eduardo kac, que encomendou ao instituto nacional de pesquisa agronômica da frança (inra)7 uma coelha de estimação fluorescente nomeada alba. uma coelha transgênica que, sob luz azul, emitia uma fluorescência esverdeada. a equipe que a produziu se negou a entregá-la ao artista, porém kac desejava conviver com alba em família, diferentemente de trabalhos que tiram significado do aniquilamento violento da espécie não humana, como o cachorro amarrado até a morte na galeria por guillermo habacuc vargas8 ou as galinhas incendiadas vivas por cildo meireles em um ritual no evento ‘do corpo à terra’.9
o artista francês pierre huyghe, em 2014, pintou de rosa a pata de uma cadela e a deixou perambulando pela exposição no museu ludwig, em colônia, com o subtítulo ‘seres vivos e coisas sem vida, feitos e não feitos’. o italiano-grego jannis kounellis, em 1969, também descontextualizou doze cavalos, fazendo da galeria um estábulo. em 2015 esse trabalho foi repetido na galerie new-yorkina gavin brown’s enterprise. entre a vida e a morte no cubo branco, ainda podemos encontrar os porcos tatuados pelo belga wim delvoye que, depois de mortos, terão a pele transformada em obra. delvoye tatua porcos desde os 90. na década seguinte, ele transferiu o projeto para uma fazenda na china, longe do olhar de reprovação de entidades de defesa dos animais. e os expõe embalsamados em museus.
o franco-algeriano adel abdessemed, que já soltou leão e javalis na rua em paris, para a produção de vídeos e fotos, em 2018, mostrou o vídeo primavera no museu de arte contemporânea de lyon, com galinhas penduradas pelas pernas em uma parede, queimando vivas. as imagens e os sons eram chocantes! e em função de protestos, uma semana depois, o vídeo foi retirado de exposição. mórbido, também, é o tubarão em aquário de formol de damien hirst.
na instalação soma, produzida em 2010 para o museu hamburger bahnhof, utilizando o hall central de uma estação abandonada de trens em berlim, o artista alemão carsten höller dividiu doze renas, 24 canários, oito camundongos e duas moscas em dois grupos iguais, para o público observar o comportamento dos animais que ingeriram cogumelos alucinógenos e comparar com o comportamento dos outros que não os ingeriram. a urina das renas, também alucinógena após o consumo dos cogumelos, foi misturada à comida de canários, camundongos e moscas, para que eventuais mudanças de comportamento nessas criaturas também fossem observadas. uma cama de hotel foi montada no meio da instalação-laboratório, permitindo a dois visitantes, por mil euros cada, dormir dentro da exposição e provar a urina das renas, armazenada em refrigeradores.
ainda em 2010, nuno ramos confinou três urubus em um viveiro com três grandes esculturas em formas geométricas. no alto de uma delas, caixas de som tocavam músicas, na instalação bandeira branca, na 29a bienal de são paulo.10 a obra já tinha sido exibida em 2008, no centro cultural banco do brasil de brasília. “liberte os urubu” pichado em uma das esculturas, protestos na internet, o ibama revogou a licença uma semana após a abertura da bienal e pediu a retirada das aves, por estarem em um ambiente fechado, sem incidência de sol e com excesso de barulho, vindo tanto das caixas de som quanto dos visitantes. os mesmos problemas causados por ramos em 2006 aos três burros carregando caixas de som exibidos em uma sala do instituto tomie ohtake, em que protestos de ambientalistas não surtiram efeito.
tikum nos distancia dessa frequente possessão perversa entre espécies na história da arte. o outrx bom é outrx morto ou dominado, em obras que restringem o bicho e influenciam o seu comportamento em posturas grosseiras que remetem a clichês da espécie humana. percebo nas ações registradas em fotografias e vídeos desses artistas, relações interespécies desequilibradas e constrangedoras ao não humano, que reverberam resquícios coloniais do exercício de poder e força sobre o outrx. coelha (eduardo kac), urubus e burros (nuno ramos), cobra, escorpiões e caramujos (aura), caranguejos e bodes (rodrigo braga), galinhas (victor de la rocque e cildo meireles), búfalos e jabutis (labö e juliana notari), peixes (jonathas de andrade), especiarias e cereais (denilson baniwa), vegetação nativa (daniel caballero). a legitimação pela arte de poéticas de comunidades periféricas, negras, quilombolas e indígenas amplia ainda mais esse espectro às relações interespécies características de modos de vida dessas comunidades. rodrigo braga, em fantasia de compensação (2004), incorporou em seu rosto partes do corpo de um cão rottweiler eutanasiado. nos vídeos da série tônus (2012), braga trava uma relação de dominação com bode e caranguejo, ambos amarrados nele, sem opção de não querer brincar. juliana notari, em 2014, amarrou-se a um búfalo e se deixou arrastar pela areia de uma praia de marajó em uma foto-performance que faz uma analogia catártica de violência em relações heterocisnormativas. no outro dia, comeu os testículos crus de mimoso.11 em marajó, também, labö usou um búfalo vivo para a construção da imagem em uma operação-selfie, assim como aura fez com caramujo vivo e, também, com escorpião e cobra mortos, situados no olho da artista.outra consciência da relacionalidade interespécie na arte contemporânea brasileira forma-se nas instalações/jardins de daniel lie. a artista usa matéria em decomposição, plantas em crescimento, fungos cogumelos, sementes, utensílios de cerâmica e tecido para criar ambientes vivos e interdependentes que se relacionam entre si e com o corpo do espectador, como o faz denilson baniwa com ervas medicinais e ornamentais, flores, especiarias e com milho. baniwa faz jardinagem temporária em trabalhos descontextualizados para o espaço de arte, que secam ao término do evento.12 a matéria seca retorna à terra. em atitude inversa, daniel caballero recupera na periferia e re-planta em praças e terrenos do centro, espécies nativas do cerrado, um bioma em risco de extinção, mas que também existem em são paulo. o trabalho enfatiza o papel educador da arte e o compromisso ecológico do artista. voltando ao ‘cão de pessoa’ que nos acompanha em vernissages, faz amizades, late como um trovão e nos estuda atenciosamente para criar dispositivos de nos-captura, tikum revela-se um parente estranho e gerativo desses que donna haraway sugere que façamos para descartarmos da noção dicotômica e antropocêntrica que opõe natureza e cultura.
“meu atikum está muito alegre.” é um dos toantes de toré mais bonitos e simbólicos do povo atikum. esse toante foi cantado perante as “autoridades da capital” para obter seu reconhecimento como povo indígena. humano e não humano embalados por um fake-toante de toré. “monsieur tikum está muito alegre”, eu adaptei o toante e canto para ninar/acalmar/fazer a festa com um desclassificado sem raça determinada e indigno de consideração social. _mas pode um criador de cachorro ser “o criador”? pergunta hélio oiticica e o mesmo responde: _talvez, por que não?, claro – depende como o faça, como se depare no lazer-prazer-fazer.
edson barrus atikum (Carnaubeira da Penha, PE, 1961) é artista multimídia, interessado em criar situações de fomento ao pensamento da arte. Autor do projeto Cão Mulato, criou o Espaço Experimental Rés do Chão no Rio de Janeiro, o Espaço Bcubico no Recife, as Quarentenas de Arte Açúcar Invertido, e o arTTrainee, agenciando processos de produção criativa. Dedica-se a salvaguardar uma árvore de imburana-de-cambão e cria estratégias de visibilidade para alcançar esse objetivo.
¹ há + de duas décadas, formulei o projeto cão mulato, como um dispositivo conceitual de mistura entre cães, que visava a produção do impuro, o mulato como contramodelo aos ideais de pureza e repetição do mesmo. formulei os cruzamentos entre seis raças fenotipicamente diferentes e de origens distintas para, na 4ª geração, um exemplar experimental servir de modelo vira-lata, tendo como ideia o mais diluído em sua informação hereditária. sobre este projeto, o artista abiniel nascimento escreveu, no catálogo da exposição imburaninha (2022), que “é uma análise social brasileira assinalada pela própria experiência do corpo-autor; expressando uma veracidade angustiante de um corpo coletivo que ora opera nas marginalidades pela sobrevivência de seus sonhos, ora supera diariamente seu próprio fim, ante uma negação do tempo colonial”. se na bula cão mulato, descarta-se uma quantidade de genomas em nome de um rigor “científico”, em teoria, o cão mulato é a produção da matriz mista, e cada cópia é o seu original. o que nos autoriza a pensar tikum como um cão mulato.
² PE-095, 2152 – Riacho das Almas, PE, 55120-000.
³ referência a Hélio Oiticica. “crelazer”. In: Aspiro ao grande Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
Brotar das cinzas – Eliane Potiguara.
Décadas atrás, redigi um texto que se intitulou “Florir no meio do lixo”. Na época em que o escrevi, fiz uma análise das consequências do racismo e da imigração indígena de suas terras originárias, que está no livro Metade cara, metade máscara. Hoje, eu perguntaria: “Como florir no meio do lixo?” e sobreviver às intempéries da colonização e neocolonização, como o racismo, a perda das terras, os desaldeamentos (deslocamentos), as violências, os assassinatos e genocídios, e reconstruir-se por si mesmo, tanto no plano individual/espiritual como socioeconômico/grupal.
Povos que sofreram migrações compulsórias passaram por situações vexatórias, indignas e humilhantes. E, hoje, como o leitor ou pensador imagina os resultados dessas práticas migratórias, das grandes transformações, e quais estratégias e ferramentas para novas reinvenções e formas de viver e sobreviver?
Esse é o foco deste texto. Como um povo, um território, um corpo podem se reinventar e, consequentemente, sobreviver e superar as consequências das destruições de corações, almas, espíritos e corpos e territórios em todas as áreas de vida? Como recuperar sua pele de foca, sair dos emaranhados dos ossos que ficaram presos às redes no fundo do mar, sair dos porões marcados pela dor e sofrimento, reintegrar, juntar suas carnes e vislumbrar o mais alto patamar da existência humana?
2. O AMOR
O elemento determinante para a resistência indígena é a própria família. Lutar pelos seus é o comando motivador por meio do amor, em primeiro lugar. Sem essa condição, não há progresso.
Houve muitas separações entre famílias nas décadas passadas, e mesmo no geral do povo brasileiro. E, até hoje, pessoas se procuram através das redes sociais e vemos nas TVs programas de reencontros que sobem o ibope de audiências. Nesse sentido, a internet tem sido um meio de reconstrução de amores.
O amor tem sucumbido e sido maltratado diante dos séculos pelas violências éticas, mas no caso de reencontros de famílias, parece que tem dado certo, ao contrário do amor entre cônjuges. O amor entre parceiros, em razão do cotidiano e das dificuldades diárias da vida, do capitalismo desenfreado, do ego, da falta de confiança, da competição, tem se desvairado. É preciso um sistema de reconstrução de vida entre casais amorosos. Mas o amor entre povos e famílias é o mais ardente, por incrível que pareça.
E a Terra se torna cinza pela falta da verdade… Os governantes brigam pela falta de coerência. Os seres humanos se bloqueiam pela falta de confiança. E os conflitos surgem. Ressurgem as competições, as guerras, o dilúvio, êxtase da desconfiança e destruição.
O viver, que é um estado real de impermanência, o tempo, as horas que passam cruelmente sem esperar um segundo sequer, sucumbe à falta do amor entre povos, entre nações, entre humanos, seres animais e inanimados. Os rochedos e cachoeiras choram. As tormentas destroem metrópoles, agrestes, florestas, campos e áreas rurais. Mesmo assim, a vida se reconstrói como as destruições dos países da Europa, como no caso da Segunda Guerra Mundial e demais guerras. Os maias, os astecas e incas, que sofreram genocídio nas Américas Central e do Sul, reconstruíram-se nas sociedades de hoje em dia. Ficam as memórias e as denúncias! O mundo se renova, o planeta tem a capacidade de se autorreconstruir. Assim são nossas passagens na vida. Só a transubstanciação nos faz finalizar nossas vidas a sete palmos de profundidade. Aí, outras gerações sobem ao palco. O que falam as novas gerações ou as outras etapas de vida depois do dilúvio?
3. COMO AS MULHERES INDÍGENAS RECRIAM SUA IDENTIDADE E SUA AUTOESTIMA
A palavra soa como algo que flui, algo que se move de maneira suave, doce, apaixonante, algo que corre pelos pastos, uma água que escorre entre os dedos, uma cascata que cai, um rio que corre. E quando chega ao seu destino, ela ressoa, incentiva, renova, espiritualiza, recria, sensibiliza a quem assiste ou ouve. A Palavra! Termo poético que viaja na simbologia da semântica dos corações apaixonados ou nas mentes evoluídas, como um verdadeiro diamante. E, se jogada ao vento, materializa-se imediatamente.
Essa imagem que se forma, que se contrapõe ao sistema em que vivemos, sistema opressor que sufoca a humanidade e a natureza. Esse é o quadro que denota a existência dos povos étnicos que sofrem diariamente a violência, o estigma, o racismo, a pobreza, a miséria, a escassez dos direitos constitucionais. E, em destaque, situamos a mulher indígena, a que dá a vida!
No entanto, um Estado que não oferece as condições necessárias para que a mulher se sinta amada em sua plenitude é um Estado que abandona suas filhas às margens das vidas. A mulher desamada tem sua alma esfacelada, sua dignidade interrompida, sua autoimagem deplorável. Ela grita, ela chora, ela retumba… E, nesse ato, ela se torna guerreira, combativa e atuante. É a mulher militante. Ela então busca a conexão com a natureza, para que seu discurso se transforme e seu povo se reconheça como as primeiras nações do planeta Terra. Nesse reconhecimento dá-se, então, a valorização de seu território ancestral. Seu corpo faz parte desse território, assim como sua cultura, língua, tradições, medicina natural, ancestralidade, educação das crianças e jovens, relações interpessoais, trabalho na terra, cultivo dos alimentos, caça, pesca, modus vivendi, desenvolvimento comunitário, entre outros atributos. Nesse instante, ela, glorificada, reconstrói sua essência de mulher guerreira. Isso se dá em ciclos, e um sonho em seus olhos brota diariamente, para que a força da sua natureza resista à violência, à matança, à destruição das famílias. Por que aguentamos tantas violências? Tempos são passados, e ela vê brotar a luz da esperança. Seus rebentos serão guerreiros e guerreiras. A mulher leva adiante, junto à comunidade, a pedagogia da natureza, cujos personagens principais são os rios, os mares, as matas, enfim, o meio ambiente de sua cultura: a Mãe Terra e sua ancestralidade. Nesse contexto se dá o fortalecimento da cultura indígena e, consequentemente, o fortalecimento da sua identidade como povo, como alma e espírito. Diante disso, ela clama a Oração à Natureza, porque reconhece que algo maior rege a vida de seu povo, de seu corpo, de sua luz…
Novas tecnologias, ciências, estratégias, uma nova educação, um leque de opções para o crescimento espiritual que, na realidade, é o crescimento da massa humana indígena. Assim também acontece com o homem intuitivo, o homem reconstrutor de novas formas de manifestação cultural – as novas formas de viver dissipando para sempre o mal.
E, NA PRÁTICA, COMO SE DÁ O PROCESSO DA REINVENÇÃO OU DA REDESCOBERTA?
Os indivíduos soerguidos com o novo vislumbrar partem para a tão almejada LIBERDADE!
E, em primeiro lugar, surge a autodenominação indígena enquanto cidadão, vitimizado pela imigração e racismo. A autodenominação é apoiada pela Convenção 169 da OIT.1 A retomada das terras indígenas, a ocupação em diferentes regiões do país acontecem. Prédios antigos ligados à questão indígena são ocupados. E o novo movimento reivindicatório toma força. As cotas indígenas nas universidades são conquistadas através de políticas públicas que, por si só, já haviam sido reivindicadas anteriormente. Diversos indígenas se formam em suas categorias profissionais e artísticas. E, nesse contexto, as tecnologias de informação e a própria ciência de fontes originárias tornam-se visíveis diante da sociedade. Recentemente, o CNPq nos convidou, ao lado de Raoni e diversas lideranças indígenas, para uma discussão nacional relativa à ciência étnica. Isso é uma vitória! Significa que os conhecimentos tradicionais dos povos originários estão sendo reconhecidos pelo mundo científico. Uma gama de conquistas políticas surge após a promulgação da Constituição de 1988. Isso é uma conquista nossa!
As escolas brasileiras são ocupadas por educadores e escritor/as indígenas. Mas ainda há muito que fazer para que professores/ as e crianças possam conscientizar-se da presença indígena no Brasil. A mídia brasileira, incluindo a televisão, é assombrada pela existência indígena. Mas isso é uma conquista nossa, nunca espaço ofertado. A própria sociedade brasileira sente-se na obrigação de realizar mudanças significativas. A literatura e as artes indígenas tomam espaços e transformam-se em instrumentos de luta e resistência. As mulheres indígenas, que outrora não contavam suas dores, tornam-se ministras, deputadas, diretoras da Funai e Funais regionais, juízas, advogadas, professoras, e convertem-se em grandes inventoras que soltam suas amarras do racismo institucional e promovem confiança e determinações acerca dos direitos dos povos indígenas. Internacionalmente, tornam-se protagonistas da história, articulando com instituições de cooperação técnica para promover o desenvolvimento das terras e vidas indígenas.
Ultimamente, tenho me surpreendido com o slam, o rap, a música, os cantos e a poesia indígena produzida pelos jovens, que levam os ouvintes ou o público em festivais ao delírio.
Teríamos centenas de reinvenções para categorizar, mas uma que considero da maior importância são as reflexões de pensadores indígenas sobre a preservação da natureza e suas críticas ao sistema político. Ailton Krenak e Davi Yanomami têm deixado heranças grandiosas sobre essa temática. Kaká Werá nos informa que hoje já temos mais de 160 escritores indígenas. Tenho orgulho de ser a primeira mulher indígena no Brasil a tornar-me uma escritora. O Jornal do GRUMIN (tabloide de 8 páginas, editado por mim), criado na década de 1980, tinha como slogan a seguinte frase: “Mulheres indígenas! Organizem-se mesmo dentro de suas casas”. Certamente ainda temos e teremos muitas reinvenções motivadas pelo genocídio tanto físico quanto político, sendo este último traçado à caneta pelos ruralistas e bancada religiosa retrógrada.
Mas como somos sementes e nossas terras e memórias são ancestrais, milhares de reinvenções teremos para combater a quem quer nos matar. Por isso, decidimos não morrer, mas sim lutar pela originalidade de nossos povos. Assim, desse jeito, somos povos resistentes no mundo inteiro.
Eliane Potiguara (Rio de Janeiro, RJ, 1950) é escritora, poeta, professora, ativista e empreendedora social. Possui o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por onde também é formada em Letras e Educação. É uma das fundadoras do GRUMIN (Grupo Mulher-Educação Indígena) e do Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Embaixadora da Paz pelo Círculo de Embaixadores da França e Suíça, trabalhou pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU. Foi premiada também pelo Pen Club da Inglaterra e pelo Fundo Livre de Expressão nos EUA por seu livro A Terra é a mãe do índio.
¹ A Convenção no 169 da OIT é um tratado internacional que protege os direitos dos povos indígenas e tribais. Ela estabelece a obrigação de consultar esses povos antes de tomar medidas que os afetem diretamente.
A terra come – Walla Capelobo.
Por meio da memória, revivemos em nós mesmas a continuidade das tecnologias fundamentais da vida quilombola. Acessamos conhecimentos. Neste texto, tentarei fazer o exercício imaginativo de conversar com o mestre, por meio da minha memória de tê-lo escutado em diferentes meios e lugares. Fabular com o senhor Nego Bispo (1959-2023) e seu legado epistêmico parece-me um desafio grandioso, meses depois que o mestre ancestralizou, o que me faz pensar em sua prematura partida e sua continuidade. Também é uma alegria de, na escrita, ser gesto capaz de perpetuar os saberes do intelectual orgânico que tanto contribuiu para a preservação e disseminação dos conhecimentos quilombolas. O mestre nos deixa pistas de como vivenciar seus conceitos em vida; destaco o contato com a terra, com o solo, lugar onde ele, como agricultor, percebeu e cunhou grande parte de seus conceitos. Preparar a terra, plantar maniva, vê-la crescer, olhar as estrelas, sentir o vento de chuva são algumas das maneiras de encantar-se e comprometer-se com a completude dos ciclos em que estamos implicadas, manifestar na vida a ancestralidade que nos trouxe até o agora.
A ancestralidade nos ensina que a morte não é o fim.
“começo, meio, começo”
Tenho acreditado na terra como uma máquina do tempo não linear, capaz de transpassar o binarismo morte e vida, em um jogo cósmico que nos permite reviver e profetizar, ao mesmo tempo, os caminhos ancestrais traçados por nossos mais velhos. Com o senhor, querido Nego Bispo, aprendi a me encantar com a terra e seu ciclo, eu me lembro de quando fiz minha primeira composteira, e seu saber encarnou em mim. O fazer da terra é talvez uma das maneiras mais simples e — simultaneamente — complexas de ver seu conhecimento; quando vi o composto virar terra, entendi o que era começo, meio e começo.
“Transformei as nossas mentes em roças e joguei uma cuia de semente.”
O mestre, sem dúvidas, adubou a terra fértil das nossas mentes com possibilidades até então adormecidas pela monocultura colonial. Por meio disso, um dos meus maiores desejos era conversar com o senhor sobre mandiocas e como plantá-las.
Quando me mudei por alguns meses a viver em Berlim, Alemanha, recebi um conselho dos búzios de sempre comer mandioca para não esquecer a minha terra, de onde vinha, e cultivar a sabedoria dos que plantavam a raiz que fundamenta a vida na América do Sul.
“E aí, é isso. O nosso livro é uma roça, porque a roça não é só onde você planta arroz, milho e feijão. A roça é um lugar onde você vive o envolvimento. O envolvimento com a diversidade, o envolvimento com a vida. Você planta na roça, você colhe, mas na roça também você vive afetos.”
Entendo, então, que entre palavras e roças, trocamos imaginários contracoloniais juntos. Conversando aqui, eu me sinto em uma roça, quintal, jardim, pedaço de terra que é capaz de germinar o por vir, o que virá a ser que, ao mesmo tempo, já o é. Para plantar uma mandioca, aipim ou macaxeira, é necessário preparar a terra, trabalhar no solo que seja capaz de gerar e regenerar constantemente a vida. O solo — entidade viva antiga do planeta — é um dos lugares onde a ancestralidade habita em si, ser de tempo espiralar que revela vida e sabedoria a partir da sua implicação com ele.
“Com o fogo que se prepara a terra para plantar.”
Cresci no Cerrado, mestre, e sempre me lembro do fogo em determinado momento do ano, acontecem do nada, queima tudo e, poucos dias depois, voltam os primeiros brotos na terra. O senhor comentou sobre o fogo para preparar a terra da Caatinga para a plantação. Técnica semelhante é utilizada no Cerrado, onde se queima parte da terra que logo se regenera para o plantio e colheita na próxima estação. O mestre falou também sobre o fogo ser um dos elementos mais difíceis de se relacionar e, ao mesmo tempo, essencial à vida, contrariando discursos ecológicos simplistas que propagam o fogo como inimigo natural dos ecossistemas vivos. Para preparar a terra, é preciso saber mover-se com o fogo, dançar com ele para que chama e solo confluam em um caminho de fertilidade. Escutar essas palavras me lembra de um episódio no qual Carmen Luz1 me contou sobre Xangô e o fogo da justiça. Carmen me contou sobre a perspectiva yoruba de a justiça se ligar a um sentimento explosivo e não a um sistema jurídico, aproximando-se muito mais das noções de amor e felicidade, sentimento vivido flamejante. Fogo e terra, como os vulcões, são caminhos de fertilidade caótica que muito me encantam; com esses mestres, tenho compreendido que a erupção é um caminho frutífero. Às vezes, uma grande explosão — regeneração radical — é necessária para que o novo possa emergir; uma transformação profunda que só o fogo pode iniciar.
“Escrever é como lavrar uma roça.”
Em uma de suas falas, o senhor comenta sobre a mandioca e seus derivados alimentícios como a farinha, tapioca, pão de queijo e biju; sobre o impacto da domesticação alimentar colonial e suas monoculturas, como o trigo, substituto imposto aos nossos hábitos alimentares aos saberes ancestrais enraizados na mandioca.
A soberania alimentar me parece ser um dos pilares do saber, onde o senhor nos invoca a notar o poder do comer, incorporar algo em nós, comendo. Ao incorporar a mandioca no lugar do trigo, estamos invocando — em nossas células — as lembranças profundas da terra em que pisamos, memórias essas de insubordinação, consciência e bem-viver.
“Eu fui adestrador de bois, eu sei que domesticar é dominar.”
Isso! É onde o mestre nos ensina sobre os efeitos da dominação por meio do adestramento e domesticação. Sem dúvidas, as grandes áreas de monocultura são responsáveis pela domesticação do nosso paladar, adestrando o que incorporamos em nosso dia a dia, aos poucos nos fazendo esquecer dos saberes implicados na alimentação diária. Tenho certeza de que foi com o senhor que aprendi o valor do comer, do botar a terra para dentro e que, desde aí, começa o fim da monocultura dos territórios. Quando comemos, incorporamos os valores nutricionais dos alimentos, mas não apenas isso, incorporamos também os saberes de quem o plantou, colheu, transportou e o cozinhou.
“A geração avó que me ensinou que palavras boas, horas algumas, e palavras ruins, horas nenhumas. A primeira coisa que nós precisamos é não falar palavras ruins. Por exemplo: quem leu o nosso livro Colonização, quilombos: modos e significações vai ver que, mesmo na hora que eu falo da morte, eu falo em poesia. Quando eu digo: Fogo! Queimaram Palmares! Surgiu o Canudos.
Fogo! Queimaram Canudos! Surgiu o Caldeirão. Fogo! Queimaram Caldeirão! Surgiu o Pau de Colher. Fogo! Queimaram Pau de Colher. Surgiram e surgirão tantas outras comunidades que eles vão cansar se continuarem queimando. Pois mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade, mesmo que queimem os símbolos, não queimarão o significado, mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade.”
Alimentar as nossas mentes com suas palavras e saberes nos ajuda a nos distanciar do sistema adestrador inaugurado na modernidade, no qual vidas humanas e não humanas perdem suas agências em prol do sistema do qual nós não tivemos a chance de escolher participar. O senhor nos traz a escuridão do mistério do que não pode ser finito, mesmo com as muitas investidas de epistemicídio que temos vivenciado nos territórios colonizados, a ancestralidade, o quilombo e seus modos e significações têm dançado, movimentado em direção do fazer, refazer, fazendo. O que quero dizer é que o senhor nos deixa pistas de como nos movimentar, apesar das adversidades coloniais, contracolonizá-las, criando o presente com fundamentos antigos. Gestos refeitos a partir do corpo dançante que o coreografou: a continuidade num fluxo espiralar infinito.
“Então, contracolonização é uma palavra germinante que hoje eu posso dizer sem sombra de dúvida que ela se transformou em um conceito. Contracolonialismo se transformou em um conceito, mas hoje é mais do que um conceito, já é, vamos dizer, um pensamento em movimento. É um pensamento hoje dos povos contracolonialistas, dos povos de comunidades tradicionais. E confluência é uma palavra que todo mundo já conhece, que todo mundo já falava, mas que ganhou uma nova conotação, uma nova evidência.”
A contracolonização talvez seja a regeneração radical exigida de todos os seres, humanos e não humanos, visíveis e invisíveis, ancestrais do passado e do futuro. Simultaneamente, a contracolonização expressa para o mundo sua perspectiva e oferece possíveis contribuições para a manutenção e sustentação das vidas planetárias. A contracolonização é a herança da radicalidade quilombola. Seguindo a tradição de imaginação radical negra de vida possível em um mundo antinegritude, a contracolonização não se submete a acordos estabelecidos no mundo como ele é. Não é simplesmente uma questão de binarismos entre mundo colonial e contracolonial, onde opostos em disputa reafirmam a si mesmos, mas sim uma posição ética, estética e ontológica, que privilegia a vida, e aqui reforço todas as vidas, em função da crise civilizatória, genocida e de caos climático a que fomos submetidas. A contracolonização reafirma a possibilidade encantada da vida, na qual, por meio de hábitos e gestos, se conjura a possibilidade de habitar o inabitável. Plantar e colher sua mandioca, no espaço que você possua, acredito ser um gesto de contracolonizar sua própria existência em nome da liberdade e da autonomia. Ao lembrar e perpetuar que nossas existências físicas, mentais e espirituais não dependem dos sistemas de mundo criados na colonização, acercamo-nos dos modos de existências que têm a prosperidade de todos os seres como propósito. A contracolonização não é uma teoria, mas sim uma prática, que depende diariamente do compromisso subjetivo de destruir o modo colonial de existir em si e no ambiente em que vive, uma trilha de desafios, compromissos e responsabilidades.
“É só lembrar do pessoal do quilombo do Kalunga (Goiás); lá eles têm em seu território dezesseis qualidades de mandiocas. Algumas mandiocas são pra fazer farinha, outras pro gado e outras pra terra.”
O senhor assinala algo essencial ao meu entendimento, quando se refere à diversidade de mandiocas em apenas um quilombo. Você nos alerta sobre a multiplicidade de seres e de formas de existências na qual não há hierarquia, mas sim o aumento das possibilidades de relacionamento com elas. Em um mundo colonizado, onde a monocultura de formas de existir e a hierarquização das vidas são sistematicamente impostas, uma das respostas deixadas pelo mestre é a de apostar na multiplicidade de seres na unicidade. Mesmo sendo todas mandiocas, elas, em si, apresentam formas e propósitos de existências diversos, onde o um nunca é um ser único, mas sim um múltiplo do por vir, do que virá a ser, em confluência com os propósitos cosmológicos de cada um no coletivo. A terra dá, mas ela também quer, na ginga da troca justa, ofertar e receber, confluir.
“Diálogos, compartilhamento de saberes, compartilhamento de afetos, é nisso que eu acredito.”
É nisso que eu acredito também, mestre, no poder da oralidade, do compartilhamento, dos encontros. Em uma dimensão onde o acaso não existe, mas sim a confluência, eu me faço ser que tenta diariamente ser a continuidade do senhor e de muitos outros e outras que, como você, fertilizaram nossos corações, mentes e espírito. Que nós que caminhamos por essas terras não nos esqueçamos do valor imensurável do compartilhar. A fartura vem do ato generoso de partilhar.
Walla Capelobo (Congonhas, MG, 1992) é pesquisadora e artista transfeminista. É mestra em Estudos Contemporâneos das Artes na Universidade Federal Fluminense (IACS/UFF), coordenadora pedagógica da plataforma Desculonizacion: acción y pensamiento (México-Brasil).
1 Carmen Luz é coreógrafa, diretora de cinema, curadora, docente e artista visual. É mestra em Arte e Cultura Contemporânea pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); pós-graduada em Teatro pela universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e pós-graduada em Cinema Documentário pela Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ). É bacharel e licenciada em Português/Literatura pela UFRJ. É fundadora e diretora artística da Cia. Étnica de Dança, tendo criado também o curso Danças Negras na Faculdade Angel Vianna, onde atua como professora titular. Entre seus trabalhos audiovisuais, escreveu, produziu e dirigiu filmes documentários de curta e longa metragem, como Um poema para Quenum (2008), Tia Lucia (2019), Um filme de dança (2013) e as obras Um preto (2010) e Panelaço (2020).
Sacralizar o Brasil, exorcizar o Haiti – Marcos Queiroz
No ano de 1821, às vésperas da Independência, João Severiano Maciel da Costa (1769-1833) escreveu sua Memória sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos africanos no Brasil. Preocupava-lhe a viabilidade do país diante do imenso contingente de negros que o habitava. “[…] veríamos, em breve, a África transplantada para o Brasil, e a classe escrava nos termos da mais decidida preponderância. Que faremos pois nós desta maioridade de população heterogênea, incompatível com os brancos, antes inimiga declarada?”.1 Diante de discursos de direitos humanos espalhados por “energúmenos filantropos […] vomitados pelo inferno” e aplaudidos pelo “povo ignorante”, somente “felizes circunstâncias” tinham afastado das “nossas raias a empestada atmosfera que derramou ideias contagiosas de liberdade e quimérica igualdade nas cabeças dos Africanos nas Colônias Francesas”.2
Era necessário pensar no Haiti para evitar o pior no Brasil. Maciel clamava para que os seus leitores olhassem para a “ilha de São Domingos, primor da cultura colonial, a jóia preciosa das Antilhas, fumando ainda com o sacrifício de vítimas humanas e inocentes”. Da América do Sul era possível ver os “os tronos levantados sobre os ossos de Senhores legítimos para servirem de recompensa aos Vingadores de Toussaint Louverture”.3
A visão do autor era influente. Homem de confiança de D. Pedro I (1798-1834), foi um dos “pais fundadores” da nação e uma das cabeças por trás da primeira Constituição brasileira (1824). Para ele, o exemplo do Caribe francês era didático: logo que “ali soou a declaração dos chamados direitos do homem, os espíritos aqueceram e os africanos serviram de instrumento aos maiores horrores que pode conceber a imaginação”.4 Sua solução para impedir um novo Haiti em terras brasileiras era direta: cabia ao Estado promover violência aberta e organizada contra os “indivíduos do baixo povo”, expressa pelos “corretivos poderosos” da “boa Polícia”; e pela negação da universalidade da cidadania, incompatível com as maiorias negras.
O medo da Revolução Haitiana entre a classe dominante brasileira era tão profundo que constituiu o seu projeto de Estado independente. Nos textos e nas falas de Maciel da Costa, esse temor e seu projeto resultante aparecem carregados com retratos e previsões catastróficas, lançando uma sombra sobre o futuro do Brasil à luz de um evento tão potencialmente influente. Esse horror à luta negra também informou as possibilidades de se imaginar a nação diante da história global. Para os filhos da casa-grande — que desejavam prolongar o mundo da escravidão para a eternidade —, a Independência do Haiti — com seus incêndios, fumaças, escuridão, horrores e demônios “vomitados pelo inferno” — era o Apocalipse. O fim do mundo a ser exorcizado para que o Brasil fosse viável, não só do ponto de vista econômico e político, mas também do imaginário. Como argumenta Marlene Daut no texto “Todos os demônios estão aqui”,5 a representação estética da Revolução Haitiana como uma hecatombe de violência irracional e desenfreada foi um tropo muito comum das elites atlânticas. Imagens dos revolucionários torturando, perseguindo e assassinando franceses eram uma forma de retratá-los como rebeldes indefensáveis, sedentos por sangue em detrimento de uma causa justa. A intenção era inverter o lugar de vítima, inviabilizar a empatia com os africanos e rechaçar a crítica da escravidão colonial encapsulada pela luta negra por liberdade. Neste quadro, eram comuns pinturas como Vue de l’incendie de la ville du Cap Français [Vista do Cabo francês] (1794) de J. L. Boquet. A tela retrata navios em debandada fugindo do fogo que, ao fundo, consome a ilha. As labaredas assemelham-se às patas de sátiros demoníacos caminhando sobre a cidade. Nuvens escuras tomam o céu, transformando o dia em noite. A Revolução Negra é o Dia do Juízo Final, o eclipse do mundo como até então era conhecido pelos senhores. Atravessadas por igual temor, as visões de J. L. Boquet e Maciel da Costa operavam como um alerta para a branquidade global: a identidade entre negros e direitos humanos é perigosa. Palavras de liberdade e igualdade em lugares de maiorias não brancas despertam o inferno na terra. Liberdade, representado por uma mulher negra. Na última tela, com crianças ao fundo, outra mulher negra, agora grávida, representa as esperanças e incertezas do dia depois do 13 de Maio, que ainda é hoje. Com o seu Incômodo, que profana nosso imaginário estético e moral, Sidney restitui o lugar de direito da população negra na história e na nação. Aquilo que transborda as tentativas de controle do negro no passado como forma de limitar seu futuro. Incômodo relembra fragmentos do arquivo da Abolição que chegam até nós, como a foto da missa campal do 17 de maio de 1888.11 Arquitetada milimetricamente para dar centralidade à princesa Isabel, a imagem traz uma multidão que escapa e toma conta da cena, reduzindo o séquito monárquico ao canto do retrato. Quando nos detemos sobre cada uma daquelas figuras que saíram às ruas para comemorar o final da escravidão, inevitavelmente somos levados a nos perguntar: o que passava na cabeça deles? Que tipo de sensação corria pelos seus corpos? Que alegria era aquela? Quantos mais estariam comemorando nos subúrbios, quintais, ranchos, botequins, batuques, cortiços, praças, ruelas e quebradas? E as festas em outras cidades? Como essa gente se via e se sentia parte daquele processo?
Em sua pesquisa documental sobre as comemorações da Abolição, a historiadora Wlamyra Albuquerque12 encontrou saltando dos arquivos mulheres negras festejando, bebendo e sambando. Ela menciona uma espécie de memorando que lhe tirou gargalhadas. Tratava-se de um delegado pedindo informações ao chefe de polícia: “agora que são todos libertos, que tipo de coisas eles podem fazer? O que é possível e permitido a eles?”. Wlamyra arremata: “ou seja, ele estava perguntando, até onde vai a liberdade dessa gente?”.13 A pergunta do delegado demonstra o temor e a ânsia por controle da cidadania negra, mas, à contraluz, também revela o excesso, aquilo que escapa ao quadro da imaginação nacional construído pelo racismo. Assim como os tambores da cerimônia de Bois Caïman14 anunciaram um futuro diferente do presente apocalíptico da escravidão, dando início à Revolução Haitiana, os sambas da
Abolição nos dizem que sempre existiram e existirão outros projetos de liberdade para além da nação sacralizada. Profanar o Brasil, imaginar o Haiti.
É aqui.
Marcos Queiroz (Brasília, DF, 1988) é jurista, escritor e historiador do Direito. É professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e editor da Revista Jacobina.
1 João Severiano Maciel da Costa. “Memória sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos africanos no Brasil: sobre o modo e condições com que esta abolição se deve fazer; e sobre os meios de remediar a falta de braços que ela pode ocasionar”. In: Memórias sobre a escravidão. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1988, p. 22.
2 Op. cit., p. 22-23. Lê-se: “Se felizes circunstâncias têm até agora afastado das nossas raias a empestada atmosfera que derramou ideias contagiosas de Liberdade e quimérica igualdade nas cabeças dos Africanos das Colônias Francesas, que as abrasaram e perderam, estaremos nós inteira e eficazmente preservados? Não. Os energúmenos filantropos não se extinguiram ainda; e uma récova [comitiva] de perdidos e insensatos, vomitados pelo Inferno, não acham outro meio de matar a fome senão vendendo blasfêmias em moral e política, desprezadas pelos homens de bem e instruídos, mas talvez aplaudidas pelo povo ignorante. Todavia não é isto o que por ora nos assusta mais. Um contágio de ideias falsas e perigosas não ganha tão rapidamente os indivíduos do baixo povo, que uma boa Polícia lhe não possa opor corretivos poderosos; mas o que parece de dificílimo remédio é uma insurreição súbita, assoprada por um inimigo estrangeiro e poderoso, estabelecido em nossas fronteiras”.
3 Op. cit., p. 23. Lê-se: “Recolha porém o Leitor todas as suas forças, e se é que pode encarar com tal espetáculo, contemple a ilha de São Domingos, primor da cultura colonial, a jóia preciosa das Antilhas, fumando ainda com o sacrifício de vítimas humanas e inocentes… Observe sem lágrimas, se pode, dois tronos levantados sobre os ossos de Senhores legítimos para servirem de recompensa aos Vingadores de Toussaint Louverture… Contemple a sangue frio, se pode, a aprazível Barbadas ainda coberta de luto e ensanguentada com a catástrofe excitada por escravos…”.
4 Assembleia Nacional Constituinte do Brasil (1823). Anais da Assembleia Nacional Constituinte – Tomo V. Rio de Janeiro: Tipografia do Imperial Instituto Artístico, 1874, p. 209.
5 Marlene Daut. “Todos os demônios estão aqui”. Tradução de Marcos Vinícius Lustosa Queiroz e Mariana Gazioli Leme. In: Arte & Ensaios: revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais EBA-UFRJ, v. 28, n. 43, jan-jun 2021, p. 340-358. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas-Artes.
6 Pouco se sabe sobre J. L. Boquet, com arquivos como o de Barry Lawrence Ruderman identificando o artista possivelmente como o pintor francês Pierre Jean Boquet (1751- 1817) ou um “J. L. Boqueta de Woisieri”, “John-Louis Boquet” ou “Boqueta de Woisieri” que trabalhou entre Nova Orleans e Filadélfia após 1803. Apesar do mistério, pelo menos três representações da Revolução Haitiana são atribuídas a um “J. L. Boquet”.
7 Joaquim Nabuco. O abolicionismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938, p. 26.
8 Obra pertence ao Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo (AACPG), do Governo de São Paulo.
9 Florestan Fernandes. Significado do protesto negro. São Paulo: Cortez, 1989, p. 7 e 13.
10 Obra pertence à Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas está atualmente emprestada ao Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, ambos na cidade de São Paulo (SP).
11 “Missa campal celebrada em ação de graças pela Abolição da escravatura no Brasil” (17/05/1888), de Antonio Luiz Ferreira. Acervo IMS.
12 Professora do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Junto com Walter Fraga, foi vencedora do 64o Prêmio Jabuti, na categoria de livro didático e paradidático, com a obra Uma história da cultura afro-brasileira (São Paulo: Moderna, 2009). É autora do livro O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil (São Paulo: Companhia das
Letras, 2009).
13 Entrevista em: A última abolição [documentário nacional]. Direção: Alice Gomes. Gávea Filmes e Esmeralda Produções, 2018, minuto 39:50.
14 Também referida como “Bwa Kayiman”, foi uma cerimônia realizada no dia 22 de agosto de 1791, nas imediações de uma das mais tradicionais fazendas de São Domingos, na floresta de Morne Rouge, localizada em montanha próxima à cidade de Le Cap. É tida como marco inaugural da Revolução Haitiana e foi conduzida por Zamba Boukman, líder político e sacerdote vodu. Orando em créole, Boukman sintetizou o chamado à luta revolucionária por liberdade: “O deus que criou o sol que nos dá a luz, que levanta as ondas e governa as tempestades, embora escondido nas nuvens, observa-nos. Ele vê tudo o que o branco vê. O deus do branco o inspira ao crime, mas o nosso deus nos pede para realizarmos boas obras. O nosso deus, que é bom para conosco, ordena-nos que nos vinguemos das afrontas sofridas por nós. Ele dirigirá nossos braços e nos ajudará. Deitai fora o símbolo do deus dos brancos que tantas vezes nos fez chorar, e escutai a voz da liberdade, que fala para os corações de todos nós”. C. L. R. James. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000, p. 93.
Visões de interconectividade – Nina da Hora.
Em um mundo não tão distante, tudo era regido por fórmulas invisíveis, com o poder de influenciar desde as melodias que encantavam nossos ouvidos até as decisões que moldavam nossos destinos. Muitos acreditavam que essas fórmulas eram justas e imparciais, como juízes celestiais pairando sobre nossas vidas. Mas a verdade era muito mais complexa e sombria, pois não se tratava de magia, mas sim de algoritmos desenvolvidos por mãos humanas.
Sob a ilusão da visibilidade instantânea e total, as vozes dos povos — sobretudo originários e quilombolas — eram reduzidas a zeros e uns, a segundos de tela, a bandeiras fungíveis, perdidas rapidamente no vento digital. Suas histórias, ricas em sabedoria ancestral, esvaziadas de sentido nas mãos dos grandes magos da tecnologia. Os algoritmos — criados em torres de cristal longe das florestas e quilombos — prometiam um novo mundo, mas perpetuavam as mesmas injustiças que há séculos assombram essas comunidades.
Antes que se levantem bandeiras pela derrubada dessas fórmulas invisíveis e seu aparato, é preciso considerar se é possível escapar à digitalização da vida. Com seus artefatos cada vez mais acoplados aos nossos corpos e suas maquinações intangíveis cada vez mais essenciais às relações que movem o mundo, qualquer proposta que queira deter o digital está fadada a aprofundar ainda mais a desigualdade no seu acesso e benefícios. Mas, e se pudéssemos reimaginar essa teia digital? E se os algoritmos pudessem dançar ao som dos tambores e germinar a sabedoria das ervas medicinais? Imagine um futuro no qual códigos binários se entrelaçam com as tranças afro e linhas de programação fluem como os rios sagrados das terras indígenas; no qual plataformas de mídia social são construídas para amplificar as vozes dos griôs digitais, compartilhando histórias que por muito tempo foram silenciadas.
Pense em inteligências artificiais que não se orientam por big data,1 mas pela sabedoria milenar guardada nas pinturas corporais e nos cantos sagrados. Visualize sistemas em que o reconhecimento facial celebra a infinitude de rostos e a beleza de todos os tons de pele, em vez de discriminá-los; nos quais as experiências se encontram para somar à ação, em vez de se dispersarem ou formarem nichos entrincheirados. Sistemas nos quais a linguagem dos códigos não é o inglês ou outro idioma específico, mas sim lógicas circulares e caracteres intuitivos, que reverberam a oralidade das cosmogonias indígenas e a rítmica vibrante dos dialetos africanos. Imagine um algoritmo que nos ajudasse a respeitar o tempo da natureza e nos ensinasse o valor do silêncio e da contemplação. Este outro mundo estaria numa nova Era de Descolonização Digital, na qual não só os benefícios, mas a racionalidade algorítmica foi transformada. Nela, as fórmulas invisíveis não são mais ferramentas de opressão, mas tecelãs de uma tapeçaria cultural, rica em diversidade e respeito. Neste novo mundo, as comunidades tradicionais não são mais objetos de estudo, mas cocriadoras de seu destino tecnológico. Elas não só usam as ferramentas digitais para se fortalecer, mas também as moldam de acordo com suas visões de mundo, suas necessidades e seus sonhos.
Aqui, a tecnologia não é mais uma força colonizadora, mas uma aliada na preservação e celebração da diversidade cultural. Os dados não são mais extraídos como recursos naturais, mas cuidadosamente cultivados e compartilhados como sementes preciosas de conhecimento, como bases para soluções conjuntas. Seria mesmo possível um mundo — ou mesmo um Brasil — onde cada clique, cada swipe, cada interação digital fosse um ato de afirmação cultural? Fosse um passo em direção a um futuro mais justo e inclusivo? Um futuro em que a tecnologia não apaga nossa história, mas a amplifica? Não homogeneiza nossas diferenças, mas as celebra?
Ora, mas por que esse seria apenas um sonho distante, se o mundo como ele é hoje — com seus satélites, algoritmos e outras tecnologias que antes pareciam impossíveis — foi todo inventado por nós? A descolonização digital é um convite à ação: um chamado para reimaginarmos nossa relação com a tecnologia, para questionarmos os algoritmos que moldam nossas vidas e para construirmos juntos um futuro digital verdadeiramente brasileiro — diverso, vibrante e justo. É preciso perguntar: alguém aqui deseja algoritmos frios, opacos e distantes? Quem mais prefere que essas fórmulas, tão profundamente arraigadas em nossas vidas, fossem expressões vivas de nossa cultura, nossa história e nossos sonhos coletivos? Cujo compasso seguisse o ritmo das pulsões vitais, respeitando a sabedoria de nossos ancestrais e abrindo caminhos para um futuro onde todos têm voz e vez no grande fluxo da existência? Este “sonho” — como um dia foram tantos direitos e invenções transformadoras — é, na verdade, uma suposição. Afinal, no mundo da tecnologia e para além dele, tudo começa com um simples “E se…?” Isso, sim, é mágica.
Nina da Hora (Duque de Caxias, RJ, 1995) é cientista da computação, pesquisadora e ativista. Mestranda em Ética em Visão Computacional pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é autora de diversos livros e artigos sobre cibersegurança, algoritmos e tecnologia. Além de fundar o Instituto da Hora em 2020, atua junto a diversas instituições, como a Bienal de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, o TikTok Brasil, o Governo Federal, entre outros órgãos nacionais e internacionais.
1 Big data refere-se a conjuntos de dados extremamente grandes e complexos que são difíceis de processar usando ferramentas tradicionais de gestão de dados. Envolve a programação para analisar grandes quantidades de informações de várias fontes, a fim de descobrir padrões, tendências e insights que podem orientar a tomada de decisões e impulsionar mudanças.
O sexo no funk: a política que ninguém quer ver – Thiagson
Licença pra chegar.
“Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci”
Com todo respeito à história, mas acho que está na hora de detestar essa música.
Este é um famoso verso do “Rap da felicidade”,1 música que se tornou um exemplo de funk socialmente aceitável, cantado por playboys e até por quem, no fundo, continua detestando pobre, preto e favelado. Os versos foram domesticados, tiveram seu significado político transformado em um enfeite sonoro.
“Rap da felicidade”, funk lançado em 1994, cantado pela dupla de MCs Cidinho e Doca. Apesar do nome, trata-se do gênero musical antes chamado funk carioca e hoje apenas funk. O nome rap foi usado como título de várias produções de funk porque, embora as bases rítmicas não fossem as mesmas do rap, ambos os gêneros são frutos musicais da cultura hip-hop2
e têm em comum o canto falado como característica.
A canção pertence ao subgênero chamado de Funk Consciente. São funks reflexivos, com letras relativamente longas, que tratam das dificuldades da vida marginalizada, da vida preta e favelada. Isso faz o Funk Consciente ser sempre visto como “mais politizado”.
A história dos compositores foi apagada e não se comenta nem em grandes reportagens e artigos acadêmicos que uma mulher que teve uma morte trágica foi uma das compositoras.
Cidinho e Doca foram, na verdade, os intérpretes responsáveis pela popularização da canção, mas os compositores foram Julio Cesar Seia Ferreira, conhecido como Julinho Rasta, e Katia Sileia Ribeiro de Oliveira, ambos falecidos. Porém, Katia foi assassinada de modo brutal, sendo esquartejada e queimada.
Escutar o “Rap da felicidade” hoje é ouvir esvaziamento político e apagamento de uma morte trágica.
A grande contradição que o funk nos ensina na atualidade é que quanto mais explícita for a crítica política das letras, menos impacto político parece haver.
A maior rebeldia da crítica política não está no Funk Consciente, mas no Funk Putaria que, ironicamente, é acusado de despolitizado e alienante.
Enquanto o Consciente é aceitável, a Putaria parece politicamente indomável, além de ser a grande geradora de debates públicos, principalmente nas redes sociais.
No capítulo sobre o hip-hop contemporâneo do recente livro História da música popular brasileira: sem preconceitos (vol. 2),3 Rodrigo Faour afirmou:
“É impressionante como, ao contrário de outras épocas, houve
uma ausência praticamente total de canções politizadas nas
paradas de rádio e TV nos primeiros 20 anos do século XXI.”
Será? pretendo mostrar o contrário, ao menos em relação ao funk!
Funk Putaria é um termo genérico para se referir aos vários tipos de funk que têm como tema principal a descrição das dinâmicas em torno das relações sexuais. Normalmente são produções destinadas a festas e bailes, com letras curtas e diversas gradações de explicitude. Esse subgênero é o tema principal da minha pesquisa de doutorado,4 feita no departamento de música da USP.
Divulgar minhas pesquisas acadêmicas nas redes sociais tem alcançado um público considerável, o que tem me trazido crescentes convites para dar aulas, palestras e cursos sobre funk em diversos espaços de aprendizagem: centros culturais, universidades, escolas públicas, Fundações Casa e, mais raramente, empresas privadas.
Fico muito feliz em ver a musicologia pulando os muros da universidade, sou grato e sigo cheio de esperança a cada oportunidade. Mas parece que quanto mais convite eu aceito para dar aulas e palestras, mais aversão ao funk eu encontro. É muito comum que alguns funks que eu queira mostrar e discutir em aulas e palestras sejam educadamente censurados ou simplesmente não permitidos. Isso é um ótimo sintoma do potencial politicamente questionador do funk, afinal, escolas e universidades são espaços conservadores de formação.5 Em uma palestra em uma Universidade Federal, fui impedido de tocar a música “Me Fode Fdp X 700 Por Hora”, da MC carioca Rose da Treta, tocada mais de cinco milhões de vezes em apenas uma das principais plataformas de áudio atualmente disponíveis.6 Rose canta:
bate com o pau na minha cara, dá tapa na minha bunda, fodendo a noite inteira. Me fode, filho da puta! […] a 700 por hora sem parar e nem pensar […] sem eu pedir tu me enforca que essa é a minha tara
O sexo cantado de modo explícito incomoda os espaços brancos e embranquecidos, incomoda as instituições de ensino, a moralidade e o meio intelectualizado.
“Até onde nos suportam?”, eu penso. Qual é o limite da aceitação da existência do funk como ele é? Até onde aceitam a arte periférica do jeito que ela acontece nas periferias?
As salas de aula e espaços de aprendizagem são (ou deveriam ser) lugares para se olhar e analisar a realidade, mas muitas vezes funcionam como espaços moralizantes que separam o que é do que não é conteúdo moralmente apropriado para estudo. Em abril de 2024, a Câmara de Campinas aprovou um projeto de lei “antifunk” para a educação pública e privada.7 Costumo dizer que políticas assim criam uma educação esquizofrênica.
A palavra “esquizofrenia” significa, na sua origem, algo como “mente e emoção dividida”. Uma junção das palavras gregas skhizein (dividir) + phrēn (mente, coração).
Estudo e vida são desconectados em nosso projeto educacional esquizofrênico. A consequência dessa cisão de mundos (sala de aula/realidade) é uma juventude periférica que se afasta da escola e dos espaços de aprendizagem,8 e com certa razão!
É provável que o espanto que meu trabalho ainda causa seja consequência da nossa educação moralizante: “como assim um doutorado em funk?” Tanto na universidade quanto no público geral que tem acesso a minha pesquisa, percebi que meu trabalho é visto como “exótico”.9 Mas, em minha área de conhecimento, nenhum trabalho sobre Mozart ou Beethoven é visto com estranheza.
Por outro lado, o moralismo das instituições de ensino sempre dá espaço para funks como o “Rap da felicidade” e para o Funk Consciente, sem palavrões e de protesto.
Sabemos que o passar do tempo vai legitimando práticas artísticas que sofreram preconceitos e perseguições, como mostra a história da capoeira e do samba, por exemplo. O “Rap da felicidade” completa, em 2024, trinta anos, o que contribui para uma maior aceitação do hit. Mas não é só pelo tempo que passou. A canção é um funk “bonitinho”, sem linguagem explícita, que pode ser tocado em qualquer ocasião sem causar constrangimento.
Espaços brancos, instituições de ensino e universidades aceitam mais facilmente o Funk Consciente, assim como o rap, de modo geral. Suspeito, em um olhar psicanalítico, que o inconsciente branco gosta do sofrimento cantado em letras de rap e funk. Pobre, preto e favelado está autorizado a sofrer, mas não pode gozar.
Moral da história: um grupo de rap que denuncia a discriminação social passou a ser usado em um processo de discriminação social. Historicamente, vestibulares selecionam, discriminam quem é mais branco e endinheirado. Ao mesmo tempo, policiais ouvem e aprovam letras de funk de um MC que lamenta a perda de amigos que já morreram, provavelmente por violência policial! “Esse funk, sim, é bom!” Oi?
Na aparência de mudança social e maior inclusão da periferia, o que se vê é uma espécie de sadismo que conserva as velhas estruturas sociais e desfaz a crítica política das letras de uma juventude periférica, aceitando somente o que é considerado adequado, o que não causa constrangimentos morais, ou seja, calando a rebeldia.
É como se a aceitação da cultura periférica estivesse aliada a um processo de esvaziamento político.
A putaria sempre rebelde
Costumo dizer que a putaria é a arte de falar de política, dando a ilusão de que o assunto é sexo e drogas.
“Como é bom foder uma puta profissional”, cantou MC Pedrinho quando criança, sendo depois impedido de fazer shows pelo Ministério Público.11
Isso nos conta que ser criança não significa que exista infância, afinal, infância é uma construção social relacionada à realidade material. E que muitas vezes não há o direito à infância (burguesa) nas periferias.
A maneira nada infantilizada como o MC Vitinho cantou sobre o crime, o estado e a política na música “Bala na Dilma Sapatão”,12 por ocasião da invasão das UPPs, em 2010, é um exemplo da adultização que ocorre em muitas favelas do Brasil. Exemplos de outros tipos de conflitos políticos contidos na putaria estão nos versos seguintes:
Escureci sua família, vai vim bebezin pretão13
Se o histórico racista da nossa sociedade abertamente pregava o embranquecimento, os versos de MC Frog provocam trazendo explicitamente o empretecimento. Inverte a lógica racista que enxerga no preto o mal e busca o branco como símbolo de elevação moral e intelectual.
Vai ter doce, vai ter lança, vai ter todo tipo de droga, mas no final tu solta a xoxota14
Enquanto ainda é um tabu falar do uso da maconha, MC D20 canta sobre drogas sintéticas. É discutindo “todo tipo de droga” que os debates sobre legalização se aprofundam. Enquanto a esquerda intelectualizada ainda costuma acusar os funkeiros de ser machistas e de “objetificar” as mulheres, MC K.K canta que enquanto tem “vários MC brigando” a única polêmica dele é ser “espancador de buceta”, fama essa que dá nome ao funk.15 Contudo, a música começa com um famoso áudio viral em que uma mulher manda mensagem a um homem dizendo, com voz de satisfação:
Eu tô transando, idiota. Para de mandar mensageeeeeeeem.
Esse áudio usado como introdução da música parece desconexo ao que será cantado, mas, ao trazer o gozo da mulher, acaba ressignificando o “espancador”.
O “espancador” não é aquele que fere à revelia, mas o que necessita do gozo e do desejo alheio, ou seja, está em um contexto de CONSENTIMENTO SEXUAL e fantasia erótica sadomasoquista: a mulher está gozando e não quer ser interrompida com mensagens de algum homem chato.
Como apontou o pesquisador GG Albuquerque,16 a música “Baile de favela”, do MC João,17 hoje mundialmente famosa, já foi usada pela classe média branca intelectualizada como exemplo de letra que promove “apologia do estupro” ou “ostentação do estupro coletivo”, ignorando, de propósito, o verso que mostra o consentimento sexual como premissa da relação sexual descrita na letra — “ela veio quente”.
Então, mesmo quando as mulheres cantam o que desejam, o consentimento feminino é deslegitimado, como se não fosse um real querer, mas sim fruto de uma alienação. A maneira como as funkeiras já foram vistas por feministas acadêmicas é uma prova desse desempoderamento de um desejo consentido que se manifesta nas letras.
Em sua tese de doutorado, publicada como livro com o título Funk-se quem quiser (2011), a pesquisadora Adriana Carvalho Lopes18 escreveu: Não vejo no funk feminino um tipo de funk feminista. […] É problemático reconhecer que essa sexualidade cantada pelas funkeiras seria uma espécie de resistência.
Naquele momento, a classe média branca acadêmica dizia que o funk não poderia ser feminista, pois tudo o que era cantado pelas mulheres se alinhava com os ditames da indústria pornográfica, machista em sua base. Era comum também que as próprias funkeiras não se vissem como feministas, afinal, o feminismo era, até então, coisa de outro mundo, um mundo não periferizado, nem negro. “Não me considero feminista. Mas se ser feminista é dizer o que quer, então todas nós somos.”19
Foi preciso um feminismo periférico e negro para contra- -argumentar que falar sobre sexo, rebolar e usar a roupa que quiser não é sobre agradar o macho, mas sobre as próprias mulheres, como mostra o trabalho de Mariana Gomes Caetano.20 A pesquisadora Bárbara Cazumbá,21 nessa mesma linha, mostra que foi graças a mulheres que a putaria se tornou mais explícita no funk.
A ideia de consentimento sexual parece uma base para as
criações de funk, mas esse consentimento é ardilosamente ignorado.
“A vítima é o herói do nosso tempo”, constatou o pensador italiano Daniele Giglioli,22 que fala das vítimas imaginárias que se colocam nessa posição para ganhar comoção social e capital político, como Trump e Bolsonaro, por exemplo.23 Ora, se ser vítima é ser herói, quem faz vítimas é o vilão! E essa é a regra do jogo da censura no mundo contemporâneo: coloca funkeiros na posição de vilões, usando grandes consensos morais (como proteção à infância, às mulheres, oposição aos abusos sexuais e excessos de drogas), para, no fundo, impedir que o funk exista.
No fundo, quem quer cancelar o funk não está preocupado com causas sociais.
E quem disse que o funk é esse vilão?
Muito antes do funk, Norbert Elias (1897-1990) já havia explicado a política do rompimento de tabus morais:
As pessoas “inferiores” tendem a romper tabus que as “superiores” são treinadas a respeitar desde a infância. O desrespeito a esses tabus, portanto, é um sinal de inferioridade social. Com frequência, fere profundamente o sentimento de bom gosto, decência e moral das pessoas “superiores” (…). Desperta nos grupos “superiores” (…) raiva, hostilidade, repulsa ou desdém.24
Existe um automatismo em nossa sociedade que condiciona pessoas inferiorizadas a romper padrões. Sendo um pesquisador nordestino, de origem periférica e não branca que canta Funk Putaria, reconheço isso em mim.
O choque moral que essas letras causam é consequência da organização política entre as classes sociais. Letras assim parecem à prova de qualquer aprovação policial ou institucional. Os funkeiros sabem disso e usam esses ingredientes moralmente inaceitáveis como elemento principal de criação estética. Portanto, o Funk Putaria dialoga com a moralidade. Para que exista o choque estético, necessita do conhecimento dos valores morais a serem questionados.
Letras consideradas machistas por uma intelectualidade majoritariamente branca são ouvidas por uma multidão de funkeiras majoritariamente negras nos bailes de favela sem grandes incômodos morais. Esse fato revela que jovens mulheres racializadas das periferias recebem as letras de funk de forma menos condenatória. Uma forma que vejo que não é alienada ou passiva, mas com-passiva.25 Elas conhecem o baile, muitas vezes conhecem quem canta e sabem que a realidade é um pouco diferente do que mostram as letras.
É preciso olhar de dentro antes de julgar de fora, aprendi com “as mina” do funk.26
A putaria, a música de baile, é tão rebelde que os MCs de maior sucesso já não costumam fazer música para os fluxos de rua: MC Ryan SP, MC Ig, MC Hariel, por exemplo. Outros MCs que se dedicam às músicas de baile podem ser tão conhecidos quanto o trio citado, mas parecem ter menos ganhos financeiros. Há também muitos casos em que putaria serve como o início da carreira do MC. “É mais fácil estourar na putaria”, como muitos MCs me dizem. Contudo, parece mais difícil se manter na putaria. Os casos do MC GW e do MC Saci são duas raras exceções.
Outro fato relevante é que muitos jovens que vivem e produzem funk enxergam menos valor artístico na putaria. Concepção que é fruto de uma forte moralidade religiosa que crescentemente habita as favelas.27
“A arte faz política antes que os artistas o façam” 28
É comum que se vejam opiniões bem conservadoras em artistas que cantam putaria, tornando necessário entender melhor como a prática artística questionadora coexiste com concepções políticas conservadoras.
É certo que enxergamos a grandeza — e a profundeza — dos fenômenos do mundo a partir do nosso próprio repertório. Nessa ótica, o desmerecimento musical, poético e estético dado à putaria reflete nosso próprio empobrecimento nessas dimensões da vida. Empobrecimento de mentes que é, por sua vez, muito bem planejado por instituições de ensino.29
A putaria expõe questões políticas que só nos afetam profundamente porque a aceitação de si mesmo parece ser a nossa grande e verdadeira dificuldade. Voltando ao “Rap da felicidade”, o que a letra não questiona é se algum dia será possível que o pobre, preto e favelado seja “feliz”, goze e ostente30 sem ser problematizado pela intelectualidade branca.
Obrigado pela leitura!
Thiagson (Uauá, BA, 1989) — como é mais conhecido Thiago de Souza — é bacharel em Música pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), mestre em Processos Artísticos pela mesma universidade e doutorando em Música pela Universidade de São Paulo (USP). Musicólogo, funkeiro, compositor, escritor e influenciador digital.
1 MCs Cidinho e Doca, “Rap da Felicidade” (1994), 5’11”. Compositores Julio Cesar Seia Ferreira (“Julinho Rasta”) e Katia Sileia Ribeiro de Oliveira. “Cidinho” é o nome artístico de Sidney da Silva, enquanto “Doca” é Marcos Paulo de Jesus Peixoto. A dupla de intérpretes ainda está ativa.
2 Um dos pioneiros da história do funk no Brasil, o DJ Nazz (inicialmente conhecido como DJ Nazista), afirmou que, no início, tudo era chamado de rap e que o nome funk carioca foi “nome dado pelos paulistas”. Ocorre que, de modo geral, as bases musicais norte-americanas que influenciaram o funk aqui no Brasil vieram das produções musicais dançantes do hip-hop. Por causa dessa relação com a dança, as bases são mais aceleradas, compostas em aproximadamente 120 ou 130 BPM (batidas por minuto). Já as bases musicais do rap costumavam ser mais lentas, compostas em aproximadamente 80 ou 90 BPM. Renan Moutinho Ribeiro abordou em detalhes essas diferenças no seu doutorado “Bota o tambor pra tocar/geral no embalo, esse batuque é funk: processos afrodiaspóricos de organização sonora no funk carioca” (2020), p. 145 e 247.
7 As proibições políticas da circulação de determinadas músicas são um ato que parte da ideia de que a música tem o poder de influenciar a ação e a consciência humana. Essa ideia está presente em muitas culturas, períodos históricos e discursos religiosos, filosóficos, científicos. No livro After Adorno: Rethinking Music and Modernity [Depois de Adorno: Repensando Música e Modernidade] (2018), a pesquisadora Tina DeNero investiga como a crença no poder de influência da música é algo presente em reflexões de diversos pensadores desde Platão, analisando fenômenos como a emergência da cultura pop até as proibições musicais no Oriente Médio.
8 A professora carioca Ludmylla Gonçalves aborda formas de usar o funk em sala de aula e é autora do livro Funk na escola (2022). Em seu perfil do Instagram, @ludmyllaprof, ela também aborda o tema em vídeos didáticos.
9 Em 2023, uma palestra que ministrei na Unesp Bauru recebeu o título “Um exótico doutorado sobre Funk e Redes Sociais”. Esse evento pode ser visto no YouTube, disponível em: https://www.youtu-be.com/watch?v=tCwqiFH4F4w. Acesso em 19 de julho de 2024.
10 “Álbum do Racionais MC’s vira obra obrigatória em vestibular da Unicamp.” Nota de imprensa publicada em 24 de maio de 2018 no site oficial da universidade. Acessado em 19 de julho de 2024. Disponível em: https:// www.unicamp.br/unicamp/index.php/clipping/2018/05/28/album-do-racionais-mcs-vira-obra-obrigatoria-em-vestibular-da-unicamp.
11 De acordo com a decisão publicada no site do Ministério Público em 25 de agosto de 2015, “MC Pedrinho somente poderá apresentar conteúdos artísticos próprios às faixas etárias de crianças e adolescentes, ficando proibido qualquer conteúdo obsceno ou pornográfico ou que explore qualquer tipo de violência, sob pena de multa de R$ 50 mil por show ou exibição na mídia em que isso ocorra e de R$ 5 mil por dia de atraso na retirada do conteúdo indevido, inclusive das redes sociais”. Ver “MC Pedrinho faz acordo com o MP para adequar músicas ao público infanto-juvenil”. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/w/-mc-pedrinho-faz-acordo-com-o-mp-para-adequar-músicas-ao-públicoinfanto-juvenil . Acesso em 19 de julho de 2024.
12 MC Vitinho. “Bala na Dilma Sapatão” (2010/2011), 2’47”. Disponível no YouTube em: https://www.youtube.com/watch?v=D49W5PHOYXg. Acessado em 6 de agosto de 2024.
13 MC Frog e Markin WF. “Escureci sua família” (2021), 2’45”. Disponível no YouTube em: https://www.youtube.com/watch?v=9lGKmQd9sl8. Acesso em 6 de agosto de 2024
14 CYPHER DJ mandrake – DJ mandrake, MC D20, MC LDM, MC vinhas e MC menor LK (DJ mandrake) (2020), 3’29”. Publicado pelo canal DJ Mandrake 100% Original. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rXjXYt8kfmo . Acesso em: 10 de agosto de 2024. 20 Mariana Gomes Caetano. My pussy é o poder: Representação feminina através do funk: identidade, feminismo e indústria cultural. Niterói: UFF, 2015.
21 Bárbara de Brito Cazumbá. “Elas estão descontroladas: um estudo das estratégias linguístico-discursivas de (re)afirmação do machismo nas letras de funk masculinas nas décadas de 1990, 2000 e 2010”. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
22 Daniele Giglioli (2014). Crítica da vítima. Tradução de Pedro Fonseca. Belo Horizonte: Editora Âiné, 2016.
23 Donald J. Trump e Jair Messias Bolsonaro são dois políticos de direita que foram, respectivamente, presidentes dos Estados Unidos da América (2017- 2021) e do Brasil (2019-2022). Nenhum dos dois foi reeleito para seus segundos mandatos, rompendo com as tradições eleitorais de ambos os países.
24 Norbert Elias e John L. Scotson (1965). Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 171.
28 Jacques Rancière (2005). “Política da arte”. Tradução de Mônica Costa Netto. Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênicas, vol. 2, no 15, outubro 2010, p. 45-59, Trata-se de uma conferência realizada pelo autor em abril de 2005, no seminário Práticas estéticas, sociais e políticas em debate. São Paulo: Sesc Belenzinho. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/329603322_Politica_da_arte.
29 Ver as críticas ao “novo Ensino Médio” no artigo “Orfandade instituída e legalmente amparada: reflexões críticas sobre o ‘novo’ Ensino Médio brasileiro”, das autoras Jenerton Arlan Schütz e Vânia Lisa Fischer Cossetin. Educação Unisinos, vol. 23, n. 2, abril-junho 2019.
30 Referência ao Funk Ostentação, subgênero que é frequentemente problematizado pela classe média branca, sendo acusado de “consumista” e alienante. Um exemplo musical dessa crítica arrogante à ostentação no funk é a música “Resposta ao Funk Ostentação”, do artista Edu Krieger.
incendiar o Mundo com a água – abigail Campos Leal
talvez tudo tenha começado com o sonho/estudar com o calor indo direto ao ponto, os estudos salvaram minha vida mais de uma vez. durante a Pandemia de covid-19, um acontecimento brutal cuja magnitude ainda não saiu do nosso imaginário nem de nossa imunidade, eu precisei estudar para não morrer. comecei a estudar com o Sol todos os dias de manhã. a energia foi minha maior lição. é preciso acumular energia para trabalhar, isto é, para transformar energia em criação. é preciso também gastar energia excedente. de um lado a outro, a ancestralidade me esperava pacientemente: o banho, o suor, o choro
numa dessas manhãs de estudos molhados, o fogo se apresentou de uma maneira surpreendente. eu acabava de pegar em mãos uma edição do chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito (Kemet), que havia chegado, y me dirigia para o quintal onde, ao lado das gatas y debaixo do sol, comecei a ler. eu lia como quem tem fome, não porque eu devorava o livro, mas porque eu saboreava o nosso encontro. logo nas primeiras páginas, eis que Osíris se apresenta diante de mim. “não, não é possível!”, lembro de ter especulado comigo mesma, silenciosamente. meus olhos se encheram de lágrimas, meu coração estava disparado y eu era atravessada por um arrepio cuja extensão parecia exceder os contornos da minha pele. li a nota sobre Osíris y fiz uma pesquisa rápida: filho da terra (Geb) y do céu (Nut), irmão de Ísis, que depois viria a ser sua esposa, y de Set y Néftis, que depois também se casariam. Osíris é assassinado por Set, que o esquarteja em inúmeros pedaços, espalhando-os por todo o Vale do Nilo. Ísis y Néftis, juntas, recuperam os pedaços mortais de Osíris, rejuntam seu corpo y realizam um ritual de ressurreição. Osíris renasce dos mortos, pleno y triunfante. ele é retratado como um faraó cuja pele pode ser verde ou preto-carvão, repleto de indumentárias reais, geralmente sentado num trono dentro de um santuário cuja forma é uma urna funerária. Senhor da Eternidade, Neter (Deus) da Vegetação y do Renascimento, eis minha presença diante de minha avó. ligo para minha mãe para falar sobre meu recente encontro, entre minha vó Ozíres, mãe de minha mãe, dona de casa y poeta, neta de escrava, y Osíris, um dos maiores Neter’s do panteão kemita. ela já sabia algo sobre esse encontro, não revelou surpresa, apenas quando eu mencionei que Osíris era um Faraó-Deus preto retinto y quando descrevi as características dos seus mistérios depois de encontrar com Osíris, o escriba Ani, protagonista do papiro, segue sua saga no Duat (submundo). Ani y seu Ba (sua alma na forma de um falcão com cabeça humana) encontram-se diante de Anúbis (Neter dos mortos, humano com cabeça de chacal) y Toth (Neter da escrita, música y magia, humanos com cabeça de íbis). na sua frente há uma balança, na qual Anúbis coloca o Ib (coração) de Ani ao lado de uma pena; caso o coração seja mais leve que a pena, o morto pode entrar no Duat. alguém poderia descrever essa cena como uma cena ética, pois o Ib, lugar ambivalente, entre a razão y emoção, alma y corpo, é o arquivo da vida das mortas: quem teve uma vida justa possui um coração leve; quem teve uma vida vil, possui um coração grave. alguém também poderia dizer que essa cena é ontológica, pois ela gira em torno dos processos de transmutação do ser. entretanto, diante da complexidade dos Mistérios kemitas, os instrumentais analíticos da metafísica ocidental y as ferramentas do pensamento moderno não desvelam nada. que eles nunca me firam com suas balas, que eu nunca caia indefesa, como uma fudida, no fundo dos seus tumbeiros
o nascimento da água
entre 2020-2024 eu realizei o estudo a transição é uma fuga: as poéticas do infinito y o fim da Ontologia, que foi minha tese de doutoramento em Filosofia. ela partiu de uma intuição: a ontologia não funciona para pessoas trans, nem para pessoas pretas. o maior fundamento da ontologia é a diferença ontológica, a diferença entre ser y ente. eu havia acabado de começar a me hormonizar quando ouvi essa formulação pela primeira vez. estava sentindo as alterações da minha carne em função da terapia hormonal, um fenômeno meramente ôntico (ente) de acordo com a tradição ontológica; mas, junto da minha carne, era o meu espírito que se transformava radicalmente: choro descontrolado, acessos de raiva, um desejo latente y inédito por feminilidades, erotização dos meus seios, raiva de ocós, raiva de tudo, mudança de nome; todo o s/er atravessado por uma transmutação selvagem, que na maior parte das vezes apresentava-se apenas como crise. intuía, ali, que para pessoas trans, não apenas as que se hormonizam, a ontologia simplesmente não funciona, pois nossa complexidade não obedece ao princípio da separação ontológica. no mesmo processo da transição, eu me reconectava com minha ancestralidade preta y indígena. deixei pela primeira vez na vida, aos 24 anos, todo meu cabelo crescer. de acordo com a metafísica branca, aquele era um fenômeno meramente ôntico (o cabelo crescendo), no entanto, sinto que ele também foi desde o início uma erupção ontológica, pois com ele tive encontros ancestrais (de Salvador a New York), fui capaz de cultivar a beleza y o poder de uma nova existência, forjando um ser completamente novo. aí também a onto/logia estava debaixo dos meus pés; de um lado, a carcaça do ser, do outro, os pedaços do ente
nesse estudo, através do relato autobiográfico y da criação artística (entendidas de forma inseparável), investiguei como outras fugitivas do Binarismo de Gênero y do Evento Racial também abalavam os fundamentos da Ontologia y, aí mesmo, o Mundo como o conhecemos, já que a Ontologia é o fundamento não apenas da Metafísica, mas da Physis, isto é, da Natureza ou mesmo do Universo. nesse sentido, parte desse estudo passa a ser uma investigação sobre os modos através dos quais as poéticas do infinito abalam o Mundo como o conhecemos, cujo fundamento é a expropriação de terras nativas y a exploração do corpo escravo por parte dos europeus y seus descendentes, como afirma Denise Ferreira da Silva, mas também, como eu argumento, o espírito da colonização dos gregos, em especial dos atenienses, inscritos na sua metafísica totalitária y na sua geopolítica despótica. a partir dessas poéticas, eu começo a me questionar sobre as estratégias construídas pelas escravizadas y expropriadas y seus descendentes para transformar radicalmente o Mundo como o conhecemos
ela continua bombando direto no coração
a arte, entendida em seu sentido mais vasto, tem tido um papel muito importante y contraditório na transformação do Mundo como o conhecemos, num alcance geográfico y histórico que excede a linearidade temporal y a determinabilidade espacial. quem tem focinho que fareje. penso nas artistas pop pretas influenciando, não sem contradições, o imaginário de todos os mundos sobre o Evento Racial. mas também vou mais longe y bem antes. penso nos quilombos cujas estratégias de autodefesa, que foram fundamentais tanto para desgastar o regime escravista colonial quanto para manter vivas suas descendentes, se encontravam na encruzilhada da guerra com a arte: imagine um preto velho sentado num toco de árvore numa clareira, talhando madeiras y fundindo ferro para fazer lanças; nele, metalurgia y escultura são apenas palavras desconhecidas para aquilo que ele faz de melhor
existe uma espécie de aposta generalizada em grande parte dos grupos historicamente expropriados y explorados pelos europeus (y seus descendentes) y sua ordenação colonial do Mundo, explícita, mas inconfessável, de que o regime da racionalidade discursiva é o meio mais eficiente para efetuar uma transformação radical do presente global. aí se inscreve uma espécie de guerra discursiva. a razão é mobilizada para convencer as mentes da necessidade de transformação radical do Mundo. disputa de mentes. a Justiça, a Ciência (História, Antropologia, Geografia…), a Política são os meios privilegiados de atuação dessa guerra cognitiva, dessa economia retórica
durante meu estudo, uma intuição muito antiga começou a aumentar sua órbita y se expandir. no começo era um incômodo. depois ela virou um sonho. o que eu tenho sentido, a partir da minha experiência, é que as maiores transformações que eu vivi não foram promovidas a partir de discursos lógico-racionais com os quais eu, eventualmente, me deparei. foram, ao contrário, os sentimentos, as emoções y os afetos que mais me fizeram sair do prumo, alterar a órbita, desviar y derivar. lembro que Revolução é uma palavra usada primeiramente por físicos, para nomear o giro, y mais amplamente, movimento, movimentação. muito da retomada da minha ancestralidade preta tem a ver não tanto com os textos que li, mas com a emoção que senti vendo a alegria de uma amiga preta que passava, depois de anos de sofrimento, por uma transição capilar em 2010. o primeiro livro que eu li de Glissant foi La Cohée du Lamentin y o que mais me marcou nele não foram necessariamente as ideias, mas o sentimento fulminante que eu tive de jogá-lo na parede já nas primeiras páginas. esse é um os livros que mais amodengo. quando eu penso em 4 Waters / Deep Implicancy (2018), filme de Denise Ferreira da Silva y Arjuna Newman, a primeira coisa que me vem em mente é que, terminada a sessão, no meio daquela pequena multidão, eu olhei aquela estrela y mesmo sem nunca termos nos encontrado antes, eu sabia precisamente que ela era minha mais velha
assim, o que tenho sentido é que a arte, como um campo de criação, mesmo dentro dos limites modernos, é, talvez, a área mais receptível ao trabalho radical das emoções. mais ainda, sinto que muitos artistas também têm essa intuição, que isso não seja consciente ou discursivo pouco importa, y têm buscado fazer do seu trabalho artístico uma ferramenta de transformação do Mundo através da vereda afetiva. são, precisamente, essas criações que têm me instigado, me fertilizado. me interessam aquelas obras que me despertam um incômodo ativo, que, por conta do mistério, me instigam a imaginação, aqueles textos que me deixam ofegante, que me fazem chorar ou que me deixam molhada, aquela performance que te faz querer dançar ou aquela música que te faz querer tacar fogo num Banco ou numa Delegacia, ou aquele livro que te faz imaginar virar um golfinho para roubar um baú com ouro roubado no fundo do mar, ou aquela performance que te instiga diferentes formas de saquear um Museu. eu tenho chamado essa prática de incendiar os corações. especulo y invento o coração no lastro de Ib, mistério kemita entre carne y espírito, emoção y razão, y também na trilha de Ọkàn, palavra yorubá tanto para coração quanto para alma
crio minha arte com intenção! na maior parte das vezes, nela está inscrito o desejo radical de botar abaixo o Mundo como o conhecemos, do nível ontológico ao quântico, acabar com cada molécula dele, em mim inclusive. um feitiço para acabar com tudo! por outro lado, nos meus trabalhos está também sempre inscrito o sonho de imaginar y rememorar formas radicalmente outras de respirar o infinito. sinto tanto a tarefa de destruir o Mundo quanto a de imaginar/ rememorar o infinito, como momentos de frutificação, isto é, penso em formas de destruir y imaginar/rememorar que sejam férteis, prósperas y abundantes, buscando me distanciar da lógica cristã do sacrifício, presente nos movimentos sociais, mesmo os mais radicais, que reatualizam o imaginário colonial de que a transmutação demanda sempre privação (da felicidade, do descanso, da alegria, do gozo, do prazer, da abundância, da fartura…). assim, me interessa sobretudo que minha arte provoque esse efeito: chacoalhar, rachar y inseminar emoções, sentimentos y afetos de transformação. para isso, busco emanar em todos os processos essa magia radical, porque sinto que em cada um deles reside a força latente capaz de marcar especialmente alguém. a propósito de algumas performances minhas, talvez alguém se instigue porque em esplendor, poder y triunfo (2023), eu risquei as inscrições nas fotos com pedras de poder, ou porque em nós estávamos esperando por vocês (2022), as esculturas/paramentos surgiram de brincos feitos do lixo que eu comprava de uma senhora preta retinta no centro de São Paulo, ou porque tento desenhar secretamente o mapa do nosso lugar (2022) foi motivada pelo meu desejo de sair do aluguel y desse Mundo. meu feitiço, então, é para incendiar os corações com esses desejos de transformações radicais. é uma forma de fazer as coisas acontecerem, de mudar algo em nós. é também um desejo de despertar outras artes uma arte contra a Arte. pois também sinto que a arte, mesmo as mais radicais, é também parte da arquitetura da nossa servidão. não me dou ao luxo de nutrir a ficção ontológica de que a arte, qualquer arte, sobretudo as que são feitas dentro desse Mundo, ainda que contra ele, seja essencialmente subversiva. recentemente, temos testemunhado o movimento do Sistema de Arte, do Mercado Editorial, do Mercado Fonográfico abrindo-se à produção de mundos historicamente expropriados pela ordenação eurocolonial do Mundo. ainda que esse movimento, especificamente um arrombamento, seja fruto da luta radical y incansável desses outros mundos, y deva ser celebrado, já é também bastante perceptível que, por um lado, essa entrada tem servido como uma forma de constituir novas maneiras de nos explorar/roubar y de recentrar o branco/europeu na cena geopolítica global, agora como aliado da descolonização, antirracismo, dissidência de gênero etc. e, por outro, por conta de negociações y outras magias, existe também o efeito que essa entrada no Sistema da Arte provoca em certos artistas de outros mundos, seja cedendo ou reproduzindo dinâmicas institucionais, seja reencenando a fábula do sucesso, que acaba, por fim, exaurindo, drenando ou erodindo a sua força radical de transformação prefiro criar outras ficções
como as emoções têm sido um caminho que eu y outras pessoas que transitam pela arte temos tomado para criar mudanças, tenho imaginado formas de incendiar o Mundo com a água. a ebulição, assim, talvez seja o caminho mais rápido até a Abolição
abigail Campos Leal (Campos dos Goytacazes, RJ, 1988) transita entre a Arte e a Filosofia. É doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professora da pós-graduação Ciências Humanas e Pensamento Decolonial (PUC-SP). É fundadora do Slam Marginália e autora de ex/orbitâncias: os caminhos da deserção de gênero (São Paulo: Glac, 2021) e Textes à lire à voix haute (Paris: Brook, 2022). É também curadora do Read My World Festival (Amsterdã, 2024).
Puro fogo santo e poder – Jackson Augusto
No Brasil de 2024, parece que vivemos uma distopia; uma religiosidade que respira morte nos afetou. Também, não tinha como ser diferente: somos uma nação fundada no sangue de povos inteiros. O espírito que encarnou nos demônios do norte forjou esta terra de tanta injustiça… mas acredito que todos já sabemos essa história, de tantas faces e lados, de um Brasil terrivelmente fundamentalista, cristão, branco e, agora, evangélico!
Por isso, estou aqui para contar outra história, trazer para o centro a visão dos que estão nas margens. Quero discorrer sobre os saberes e formas dos que foram apagados, desvalidados e desconsiderados; neste país, os negros exemplificam plenamente essa realidade. Construir uma religiosidade negra não é só uma questão de epiderme, mas, principalmente, da experiência de que fomos forjados. Discutir uma perspectiva marginal da espiritualidade cristã é, antes de mais nada, um processo de exorcismo dos anseios e expectativas preestabelecidos por aqueles que perpetuam o racismo. O esquecimento é não só a negação de quem somos, mas também uma proposta de construir um outro corpo, que vai ter como encarnação o desejo dos que são senhores das nossas memórias, ou seja, de quem nós somos.
Nesse contexto, trago um trecho do Manifesto por uma Música Pentecostal Brasileira (MPB) que diz “é preciso colocar-se na brecha para inventar formas de vida que anunciem a paz e a alegria”.1
Relatar uma experiência negra evangélica é começar pelo transe e mistério. Enquanto o pandeiro toca e o culto de mais de três horas não acaba, somos deslocados para as brechas de nossa existência. O culto pentecostal é a imagem de um outro Brasil; quem o dirige e sustenta é uma mulher negra. A teologia feita pelas mulheres de coque passa por orações de vida que impõem mãos sobre corpos destinados à morte, refletindo nos sobrinhos que estão presos, nos filhos que estão na criminalidade ou nas netas que, a qualquer momento, podem aparecer grávidas. É nesse contexto que essas mesmas mãos se erguem aos céus, que as músicas entoam os corações, enquanto pessoas clamam para que o racismo e suas mais diversas faces não alcancem suas famílias, para que a ressurreição seja uma realidade e para que aqueles corpos que já tinham o destino da crucificação traçado vençam a morte.
“Para fugir da condição colonial, talvez seja útil mobilizar as ‘línguas estranhas’ e não capturáveis pelo Império”, afirma o manifesto.2 Sonhar um Brasil antirracista, que tenta escapar de sua herança colonial, só é possível considerando um levante que também seja pentecostal, feminino e negro. Segundo Martins, é preciso produzir outras possibilidades, outras maneiras de cantar, dançar ou confessar a fé. Ser um negro evangélico é quase nascer de novo para a sua religiosidade, já que, muitas vezes, ser cristão, neste país, significa ser branco, vestir-se como branco, orar como branco, dançar como branco ou até falar como branco. Precisamos resgatar o mistério da linguagem e a diversidade de identidades que o pentecostes nos traz. Isso significa que qualquer tecnologia, filosofia, organização, movimento, sopro que siga em direção da emancipação da humanidade negra tem a ver com negritude e com toda a história de nossos antepassados. Estamos expondo uma visão negro-africana de mundo que ultrapassa confissões de fé, religiões e geografias. Então, considerando a libertação que existe na espiritualidade, no contexto do povo negro, ela e sua força sempre nos salvaram, independentemente da religião. Na Revolta dos Malês,3 a espiritualidade negra dentro da experiência islâmica nos trouxe vida e esperança de liberdade; na Revolução Haitiana,4 tínhamos o Vodu como maior expressão de motivação espiritual para a libertação e independência do povo negro; nos Estados Unidos, a igreja negra protestante e sua espiritualidade foram responsáveis pelo Movimento dos Direitos Civis5 e se tornaram um dos braços mais fortes do movimento negro no país; e, na África do Sul, os bispos negros metodistas e anglicanos foram protagonistas importantes, liderando protestos pelo fim do Apartheid,6 juntamente com Nelson Mandela, que vinha do metodismo. A espiritualidade tem uma força de emancipação, quando se trata da perspectiva negra. Não podemos ignorar isso na história.
E aqui o desafio é conectar parte do povo brasileiro com um Deus Negro, afirmando que há uma maneira negra de fazer teologia, arte, religião, cultura e comunidade. Quem é Deus? Para pensarmos em uma experiência negra a partir do divino, é preciso estabelecer a identidade desse Deus. Steve Biko7 vai dizer que a teologia negra “pretende descrever o Cristo como um Deus lutador, e não como um Deus passivo” e que ela “procura trazer Deus de volta para o negro e para a verdade e a realidade da sua situação”.8 Assumindo essa visão de Biko sobre o sagrado, temos um Deus que não é omisso diante de grandes injustiças. Isso se confirma quando lembramos da obra dos Racionais MC’s, que diz que “Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro, vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto”.9 Para a experiência negra, Deus tem lado na história; ele luta e defende a vida dos que mais precisam. Antes de continuarmos esta reflexão, acho importante definirmos o que é Teologia Negra, e como ela se conecta com uma experiência profunda de produção de tecnologias de sobrevivência.
A Teologia Negra é uma teologia do povo negro e para ele, um exame de suas estórias, contos e ditos. É uma investigação de mente feita nas matérias-primas de nossa peregrinação, contando a estória de ‘como nós vencemos’. Para a teologia ser negra, ela deve refletir sobre aquilo que significa ser negro.10
Criar um pensar teológico negro segundo James Cone é justamente falar de como sobrevivemos ao deserto e à pena de morte a que nos condenaram. Precisamos contar como fugimos das prisões, desviamos das balas e chegamos nos quilombos, como levantamos nossas favelas e sonhamos com uma terra que mana leite e mel, que nos foi prometida como um lugar que jorra uma água que é fonte de vida inesgotável e inegociável.
Por isso, só é possível pensar em uma religiosidade negra quando estamos comprometidos com a realidade do povo afrodescendente no mundo. Essa espiritualidade que herdamos nos ensina sobre um sagrado que é oculto, que nasce do mistério, que dança em meio a milagres, que se expressa na sua infinitude e nas coisas que não podem ser explicadas. A religião negra não é um projeto iluminista que tenta captar Deus como um termo ou conceito filosófico. Ele existe só quando o experimentamos ou no momento em que o divino toma posse do nosso corpo, seja no transe, seja em atos de justiça, amor e misericórdia em direção ao próximo.
Nesse movimento de retomada da nossa visão de mundo sobre o sagrado, olhamos para os textos bíblicos, partindo da ideia de que estamos falando de um conjunto de livros que são um testemunho de fé comunitário acerca das ações de um Deus que intervém na história de um povo que estava em condição de escravidão, e a sua aliança com esse povo vem por conta disso. Ele olhou a aflição do povo e se levantou em seu favor contra os senhores de escravizados. Então, proponho aqui o encontro entre a Cruz e o Tronco, dois objetos de tortura. Quando pensamos em uma espiritualidade que parte da figura de Jesus, só consigo ver uma pessoa negra. A negritude de Jesus não está necessariamente na sua epiderme ou no fato de ele ter nascido e se refugiado no Egito (seria muito complicado esconder uma criança branca em Kemet), mas sim na experiência da Cruz. Jesus nasceu como criança em um território ocupado pelo Estado com um decreto de morte contra ele, assim como as crianças negras da favela que nascem em um território ocupado pelas forças policiais, que fuzilam meninos e meninas enquanto estão indo para a escola ou brincando na calçada de suas casas, ou mães grávidas que estão indo trabalhar. Jesus Cristo era conhecido por ser de Nazaré, uma das periferias do Israel bíblico.11 Ele morreu da pior maneira que o Estado romano podia assassinar alguém, enquanto o povo gritava “crucifica-o”, como um corpo que não merece misericórdia, que não tem sua humanidade reconhecida e, por isso, merece a morte. Segundo o Atlas da violência 2024,12 em 2022, corpos de jovens negros tombaram aproximadamente a cada 30 minutos na mão do Estado brasileiro, atravessados por balas de fuzil, da pior maneira que as forças estatais podem assassinar alguém, aos gritos de “bandido bom é bandido morto”, ou de “podem mirar na cabecinha”, ou enquanto afirmam que “podem ir até à ONU” que não terão misericórdia. Por isso é importante perguntarmos: como Jesus morreria caso ele vivesse no Brasil colonial? Provavelmente no tronco, à base de chicote, com a permissão da igreja católica. Enquanto seus discípulos estariam em quilombos, longe dos olhos do poder colonial, planejando um movimento que colocaria medo no império português, assim como foi Palmares. Afinal, o significado de Jesus para um corpo negro que experimentou a violência extrema é como ter um encontro em meio ao caos que o racismo organiza; é não levar em conta os brancos e suas demandas; é revirar o mundo e suas estruturas.
Mas Jesus, que parecia vencido pela morte, cruz e império, ressuscitou no terceiro dia. A sua ressurreição é um recado vivo, dizendo que a morte não tem a última palavra sobre a vida, que o poder manifestado na sua trajetória iria continuar colocando fogo nesse mundo caído e de grandes injustiças. Assim como Jesus, que ressuscitou a cada sentença de morte que lhe foi imputada, o povo negro ressuscita todos os dias neste país, somos 56% da população diante de uma elite que sonhava com o nosso desaparecimento, vencemos o império, o tronco e o chicote. Nosso poder de ressurreição vem após três séculos, de um cativeiro em que nos prendiam, e saímos dele para construir quilombos, palmares e favelas inteiras que continuam a sonhar com a vida e com os nossos ancestrais, com quem aprendemos a ser teimosos, a enganar a morte e a desobedecer os poderosos.
O fogo, segundo as narrativas bíblicas, tem a função de purificar uma cultura corrompida pela violência e ganância, e o poder para Jesus só fazia sentido quando subvertido.
Afinal, os menores eram os maiores em seu reino, segundo Maria, Ele “depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos” (Lucas 1:52-53). Traduzindo isso para a experiência negra, o poder de Jesus está na derrubada dos que agem sistematicamente em direção às injustiças; Ele se revela na derrubada do racismo, em cada oração que se levanta clamando pela vitória de cada pessoa negra desempregada neste país, em cada pregação e ação em direção à população de rua brasileira, que é majoritariamente formada por homens negros, o fogo e o poder se manifestam em cada família negra que dribla os planos de morte que tentam nos encurrar para as ruas, o caixão ou os presídios.
E como diz o louvor “500 graus”, que quando o fogo cai “toda enfermidade não resiste e sai […] destruindo tudo que aflige você” e que todo esse poder e movimento “já fez o inimigo fugir de você”. Essa música, que surge da experiência pentecostal brasileira – que é a denominação mais negra no Brasil –, nos deixa um recado: que a espiritualidade entoada canta sobre a realidade que vivemos, por isso, precisamos nos perguntar: o que nos aflige enquanto pessoas negras? Se não o racismo, o que mais nos adoece? Se não o racismo, qual o maior inimigo do povo negro no Brasil? De alguma maneira esse fogo santo e esse poder apontam todos os dias para a ressurreição diária que promovemos, a vitória que o povo negro canta é o fim do racismo, o céu que o povo negro sonha é o fim de suas aflições e a quebra da vara de castigo daqueles que nos oprimem.
Jackson Augusto (Recife, PE, 1995) é comunicador, integrante da coordenação nacional do Movimento Negro Evangélico e da Coalizão Negra por Direitos, e conselheiro do Instituto Fogo Cruzado Brasil. É graduando em Teologia e Jornalismo, já trabalhou junto a organizações como Instituto Vladimir Herzog, PerifaConnection e Anistia Internacional Brasil. Cofundador do Instituto Commbne, organização voltada para a comunicação antirracista na diáspora africana. Já foi colunista no The Intercept Brasil, tem textos publicados na Folha de S.Paulo, Marco Zero Conteúdo, Revista Amarello e Revista Continente.
Puro fogo santo e poder – Jackson Augusto
No Brasil de 2024, parece que vivemos uma distopia; uma religiosidade que respira morte nos afetou. Também, não tinha como ser diferente: somos uma nação fundada no sangue de povos inteiros. O espírito que encarnou nos demônios do norte forjou esta terra de tanta injustiça… mas acredito que todos já sabemos essa história, de tantas faces e lados, de um Brasil terrivelmente fundamentalista, cristão, branco e, agora, evangélico!
Por isso, estou aqui para contar outra história, trazer para o centro a visão dos que estão nas margens. Quero discorrer sobre os saberes e formas dos que foram apagados, desvalidados e desconsiderados; neste país, os negros exemplificam plenamente essa realidade. Construir uma religiosidade negra não é só uma questão de epiderme, mas, principalmente, da experiência de que fomos forjados. Discutir uma perspectiva marginal da espiritualidade cristã é, antes de mais nada, um processo de exorcismo dos anseios e expectativas preestabelecidos por aqueles que perpetuam o racismo. O esquecimento é não só a negação de quem somos, mas também uma proposta de construir um outro corpo, que vai ter como encarnação o desejo dos que são senhores das nossas memórias, ou seja, de quem nós somos.
Nesse contexto, trago um trecho do Manifesto por uma Música Pentecostal Brasileira (MPB) que diz “é preciso colocar-se na brecha para inventar formas de vida que anunciem a paz e a alegria”.1
Relatar uma experiência negra evangélica é começar pelo transe e mistério. Enquanto o pandeiro toca e o culto de mais de três horas não acaba, somos deslocados para as brechas de nossa existência. O culto pentecostal é a imagem de um outro Brasil; quem o dirige e sustenta é uma mulher negra. A teologia feita pelas mulheres de coque passa por orações de vida que impõem mãos sobre corpos destinados à morte, refletindo nos sobrinhos que estão presos, nos filhos que estão na criminalidade ou nas netas que, a qualquer momento, podem aparecer grávidas. É nesse contexto que essas mesmas mãos se erguem aos céus, que as músicas entoam os corações, enquanto pessoas clamam para que o racismo e suas mais diversas faces não alcancem suas famílias, para que a ressurreição seja uma realidade e para que aqueles corpos que já tinham o destino da crucificação traçado vençam a morte.
“Para fugir da condição colonial, talvez seja útil mobilizar as ‘línguas estranhas’ e não capturáveis pelo Império”, afirma o manifesto.2 Sonhar um Brasil antirracista, que tenta escapar de sua herança colonial, só é possível considerando um levante que também seja pentecostal, feminino e negro. Segundo Martins, é preciso produzir outras possibilidades, outras maneiras de cantar, dançar ou confessar a fé. Ser um negro evangélico é quase nascer de novo para a sua religiosidade, já que, muitas vezes, ser cristão, neste país, significa ser branco, vestir-se como branco, orar como branco, dançar como branco ou até falar como branco. Precisamos resgatar o mistério da linguagem e a diversidade de identidades que o pentecostes nos traz. Isso significa que qualquer tecnologia, filosofia, organização, movimento, sopro que siga em direção da emancipação da humanidade negra tem a ver com negritude e com toda a história de nossos antepassados. Estamos expondo uma visão negro-africana de mundo que ultrapassa confissões de fé, religiões e geografias. Então, considerando a libertação que existe na espiritualidade, no contexto do povo negro, ela e sua força sempre nos salvaram, independentemente da religião. Na Revolta dos Malês,3 a espiritualidade negra dentro da experiência islâmica nos trouxe vida e esperança de liberdade; na Revolução Haitiana,4 tínhamos o Vodu como maior expressão de motivação espiritual para a libertação e independência do povo negro; nos Estados Unidos, a igreja negra protestante e sua espiritualidade foram responsáveis pelo Movimento dos Direitos Civis5 e se tornaram um dos braços mais fortes do movimento negro no país; e, na África do Sul, os bispos negros metodistas e anglicanos foram protagonistas importantes, liderando protestos pelo fim do Apartheid,6 juntamente com Nelson Mandela, que vinha do metodismo. A espiritualidade tem uma força de emancipação, quando se trata da perspectiva negra. Não podemos ignorar isso na história.
E aqui o desafio é conectar parte do povo brasileiro com um Deus Negro, afirmando que há uma maneira negra de fazer teologia, arte, religião, cultura e comunidade. Quem é Deus? Para pensarmos em uma experiência negra a partir do divino, é preciso estabelecer a identidade desse Deus. Steve Biko7 vai dizer que a teologia negra “pretende descrever o Cristo como um Deus lutador, e não como um Deus passivo” e que ela “procura trazer Deus de volta para o negro e para a verdade e a realidade da sua situação”.8 Assumindo essa visão de Biko sobre o sagrado, temos um Deus que não é omisso diante de grandes injustiças. Isso se confirma quando lembramos da obra dos Racionais MC’s, que diz que “Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro, vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto”.9 Para a experiência negra, Deus tem lado na história; ele luta e defende a vida dos que mais precisam. Antes de continuarmos esta reflexão, acho importante definirmos o que é Teologia Negra, e como ela se conecta com uma experiência profunda de produção de tecnologias de sobrevivência.
A Teologia Negra é uma teologia do povo negro e para ele, um exame de suas estórias, contos e ditos. É uma investigação de mente feita nas matérias-primas de nossa peregrinação, contando a estória de ‘como nós vencemos’. Para a teologia ser negra, ela deve refletir sobre aquilo que significa ser negro.10
Criar um pensar teológico negro segundo James Cone é justamente falar de como sobrevivemos ao deserto e à pena de morte a que nos condenaram. Precisamos contar como fugimos das prisões, desviamos das balas e chegamos nos quilombos, como levantamos nossas favelas e sonhamos com uma terra que mana leite e mel, que nos foi prometida como um lugar que jorra uma água que é fonte de vida inesgotável e inegociável.
Por isso, só é possível pensar em uma religiosidade negra quando estamos comprometidos com a realidade do povo afrodescendente no mundo. Essa espiritualidade que herdamos nos ensina sobre um sagrado que é oculto, que nasce do mistério, que dança em meio a milagres, que se expressa na sua infinitude e nas coisas que não podem ser explicadas. A religião negra não é um projeto iluminista que tenta captar Deus como um termo ou conceito filosófico. Ele existe só quando o experimentamos ou no momento em que o divino toma posse do nosso corpo, seja no transe, seja em atos de justiça, amor e misericórdia em direção ao próximo.
Nesse movimento de retomada da nossa visão de mundo sobre o sagrado, olhamos para os textos bíblicos, partindo da ideia de que estamos falando de um conjunto de livros que são um testemunho de fé comunitário acerca das ações de um Deus que intervém na história de um povo que estava em condição de escravidão, e a sua aliança com esse povo vem por conta disso. Ele olhou a aflição do povo e se levantou em seu favor contra os senhores de escravizados. Então, proponho aqui o encontro entre a Cruz e o Tronco, dois objetos de tortura. Quando pensamos em uma espiritualidade que parte da figura de Jesus, só consigo ver uma pessoa negra. A negritude de Jesus não está necessariamente na sua epiderme ou no fato de ele ter nascido e se refugiado no Egito (seria muito complicado esconder uma criança branca em Kemet), mas sim na experiência da Cruz. Jesus nasceu como criança em um território ocupado pelo Estado com um decreto de morte contra ele, assim como as crianças negras da favela que nascem em um território ocupado pelas forças policiais, que fuzilam meninos e meninas enquanto estão indo para a escola ou brincando na calçada de suas casas, ou mães grávidas que estão indo trabalhar. Jesus Cristo era conhecido por ser de Nazaré, uma das periferias do Israel bíblico.11 Ele morreu da pior maneira que o Estado romano podia assassinar alguém, enquanto o povo gritava “crucifica-o”, como um corpo que não merece misericórdia, que não tem sua humanidade reconhecida e, por isso, merece a morte. Segundo o Atlas da violência 2024,12 em 2022, corpos de jovens negros tombaram aproximadamente a cada 30 minutos na mão do Estado brasileiro, atravessados por balas de fuzil, da pior maneira que as forças estatais podem assassinar alguém, aos gritos de “bandido bom é bandido morto”, ou de “podem mirar na cabecinha”, ou enquanto afirmam que “podem ir até à ONU” que não terão misericórdia. Por isso é importante perguntarmos: como Jesus morreria caso ele vivesse no Brasil colonial? Provavelmente no tronco, à base de chicote, com a permissão da igreja católica. Enquanto seus discípulos estariam em quilombos, longe dos olhos do poder colonial, planejando um movimento que colocaria medo no império português, assim como foi Palmares. Afinal, o significado de Jesus para um corpo negro que experimentou a violência extrema é como ter um encontro em meio ao caos que o racismo organiza; é não levar em conta os brancos e suas demandas; é revirar o mundo e suas estruturas.
Mas Jesus, que parecia vencido pela morte, cruz e império, ressuscitou no terceiro dia. A sua ressurreição é um recado vivo, dizendo que a morte não tem a última palavra sobre a vida, que o poder manifestado na sua trajetória iria continuar colocando fogo nesse mundo caído e de grandes injustiças. Assim como Jesus, que ressuscitou a cada sentença de morte que lhe foi imputada, o povo negro ressuscita todos os dias neste país, somos 56% da população diante de uma elite que sonhava com o nosso desaparecimento, vencemos o império, o tronco e o chicote. Nosso poder de ressurreição vem após três séculos, de um cativeiro em que nos prendiam, e saímos dele para construir quilombos, palmares e favelas inteiras que continuam a sonhar com a vida e com os nossos ancestrais, com quem aprendemos a ser teimosos, a enganar a morte e a desobedecer os poderosos.
O fogo, segundo as narrativas bíblicas, tem a função de purificar uma cultura corrompida pela violência e ganância, e o poder para Jesus só fazia sentido quando subvertido.
Afinal, os menores eram os maiores em seu reino, segundo Maria, Ele “depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos” (Lucas 1:52-53). Traduzindo isso para a experiência negra, o poder de Jesus está na derrubada dos que agem sistematicamente em direção às injustiças; Ele se revela na derrubada do racismo, em cada oração que se levanta clamando pela vitória de cada pessoa negra desempregada neste país, em cada pregação e ação em direção à população de rua brasileira, que é majoritariamente formada por homens negros, o fogo e o poder se manifestam em cada família negra que dribla os planos de morte que tentam nos encurrar para as ruas, o caixão ou os presídios.
E como diz o louvor “500 graus”, que quando o fogo cai “toda enfermidade não resiste e sai […] destruindo tudo que aflige você” e que todo esse poder e movimento “já fez o inimigo fugir de você”. Essa música, que surge da experiência pentecostal brasileira – que é a denominação mais negra no Brasil –, nos deixa um recado: que a espiritualidade entoada canta sobre a realidade que vivemos, por isso, precisamos nos perguntar: o que nos aflige enquanto pessoas negras? Se não o racismo, o que mais nos adoece? Se não o racismo, qual o maior inimigo do povo negro no Brasil? De alguma maneira esse fogo santo e esse poder apontam todos os dias para a ressurreição diária que promovemos, a vitória que o povo negro canta é o fim do racismo, o céu que o povo negro sonha é o fim de suas aflições e a quebra da vara de castigo daqueles que nos oprimem.
Jackson Augusto (Recife, PE, 1995) é comunicador, integrante da coordenação nacional do Movimento Negro Evangélico e da Coalizão Negra por Direitos, e conselheiro do Instituto Fogo Cruzado Brasil. É graduando em Teologia e Jornalismo, já trabalhou junto a organizações como Instituto Vladimir Herzog, PerifaConnection e Anistia Internacional Brasil. Cofundador do Instituto Commbne, organização voltada para a comunicação antirracista na diáspora africana. Já foi colunista no The Intercept Brasil, tem textos publicados na Folha de S.Paulo, Marco Zero Conteúdo, Revista Amarello e Revista Continente.
Dançando nas encruzilhadas – Sidnei Barreto Nogueira.
Àgò, meu respeitoso pedido de licença para sentir e
proferir palavras com sentido e para fazer sentir;
Àgò de palavra;
Àgò, aos primórdios;
Àgò, à origem das origens;
Àgò, aos que vieram antes e aos que virão depois de nós;
Àgò, à força criadora;
Àgò, à cabaça-útero-ancestral;
Àgò, para que possamos existir e que existir sem rótulos,
sem pesos e sem medidas nos seja suficiente;
Àgò, a todes, todas e todos;
Àgò, às forças da natureza;
Àgò, àgò, àgò;
Àgò, para cruzar a linha reta
e gerar encruzilhada, àgò;
Àgò, para entrar,
Peço àgò para sentir. Sentir a partir, na, com e através da encruzilhada de Èsù. Trago a encruzilhada como território epistemológico de cura. A encruzilhada é um território da fertilidade. A encruzilhada produz e aceita novas possibilidades, aceita o que lhe é estranho, diferente, desproporcional, fora dos padrões da linha reta e, por isso, nunca precisamos tanto de saberes de encruzilhada.
Èsù é maior que uma noção preestabelecida de mito, divindade, um Deus. Èsù é tecnologia ancestral.
Èsù é filosofia, antropologia, sociologia, geometria, biologia.
Èsù é um acelerador de moléculas. Èsù é gerador de possibilidades. Ele é, a um só tempo, tudo e nada, silêncio e grito, ontem, hoje e amanhã em sincronia. Èsù é a força-criadora das possibilidades, identidade e alteridade, o eu e o outro, o aqui, lá e acolá juntos e se encontrando no centro da encruzilhada.
Èsù não é definível, determinado, ideia fixa, modelo, dogma. É quase impossível dizer quem Èsù é, mas é possível dizer o que Èsù não é.
Èsù não é encarceramento.
Èsù faz o erro virar acerto e o acerto virar erro.
É numa peneira que ele transporta o azeite de dendê
que compra no mercado; e o azeite não escorre dessa
estranha vasilha.
Èsù matou um pássaro ontem, com uma pedra que somente hoje atirou. Se ele se zanga, pisa nessa pedra e ela põe-se a sangrar. Aborrecido, ele senta-se na pele de uma formiga. Sentado, sua cabeça bate no teto; de pé, não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. No centro da cultura das CTTro 2 – Comunidades Tradicionais de Terreiro, estão os saberes originários dos negres escravizades no Brasil. No centro dessas comunidades, está a fertilidade da encruzilhada e da contradição que é Èsù.
Os povos e comunidades tradicionais de terreiro, desde a tradição Batuque do Rio Grande do Sul, desde o Xangô de Pernambuco, desde o Candomblé da Bahia, desde as Juremas do Nordeste até as Umbandas da Região Sudeste, possuem um código complexo e refinado, com língua, cultura, modos de pensar, ser, fazer e sentir.
Na essência da cultura de terreiro, o que temos é a liberdade existencial. Mas vivemos uma crise que chamo de “encarceramento existencial”. Não são só nossos corpos que estão encarcerados, mas também nossas mentes, nossos desejos, nossa criatividade, nossa capacidade de amar, de ser, de existir. A sociedade contemporânea decide quem pode e quem não pode existir e como podemos existir, ou seja, os limites existenciais.
Precisamos voltar a poder existir, (re-)sistir para existir. A nossa luta é por existência.
Na cultura yorùbá, há uma expressão linguística muito significativa e que se manifesta como oposição à noção de encarceramento existencial. Essa expressão é utilizada quando você encontra uma pessoa. Trata-se de um cumprimento inicial. Uma pergunta para saudar e, com cordialidade, saber se está tudo bem com a pessoa.
[Pergunta] “Se àlàáfíà ni?” – “Como você está?” ou “Você está
em paz?”
A resposta possível à saudação-cumprimento é o que mais nos interessa:
[Resposta] “Mo wà” – “Eu existo.”
Ou
[Resposta] “Àlàáfíà ni.” – “Estou em paz.” – “Eu tenho paz.”
A pergunta e a resposta juntas têm melodia, têm arte, têm poesia
existencial.
[Pergunta] “Se àlàáfíà ni?” – “Como você está?” ou “Você está
em paz?”
[Resposta] “Mo wà” – “Eu existo.”
[Resposta] “Àlàáfíà ni.” – “Estou em paz.” – “Eu tenho paz.”
Em duas expressões cotidianas, temos a negação do encarceramento existencial.
Eu existo e, por poder existir, estou em paz. É a possibilidade de existir que traz a paz, o amor, a felicidade, a abundância e, sobretudo, a igualdade.
Quando somos os alvos do encarceramento existencial, deixamos de existir de modo espiritual, para existir dentro de jaulas que aprisionam os corpos e as mentes. Enrijecemos e deixamos de nos mover como existências forjadas pelo fogo, pelo ar, pela água e pela terra. No mundo, tudo se move. Por que não podemos mais nos mover para dentro de nós?
E não dançamos mais!
Precisamos voltar a dançar.
No terreiro, dança-se, dança-se o tempo todo, dança-se no sentido anti-horário, porque se dança olhando para e em honra aos nossos ancestrais.
Dança-se para a vida e para a morte. Dança-se para a doença e para a saúde. Dança-se para a tristeza e para a alegria. Dança-se para se reviver a nossa jornada mítico-ancestral. Dança-se para sentir a ancestralidade e para dizer ao corpo que ele pode se mover e sentir cada movimento. Dança-se para a cura do corpo ao ser sintonizado com a voz ancestral dos tambores. Dança-se para tudo. Dança-se para a vida. A dança cura, a dança expande, a dança, no seu sentido mais amplo, com seus giros, saltos, movimentos suaves e bruscos, diz ao corpo e à mente para que neguem um medo encarcerador. É uma dança que nos leva para trás e para a frente; dançar é sempre um vaivém contínuo. Toda dança acontece no gerúndio, na continuidade e na expansão do corpo e da mente. Quando dançamos, somos levados – por meio de um movimento já feito – aos nossos ancestrais e a todes aqueles que já dançaram aquela dança.
A dança só acontece no encontro do corpo-coração e mente/cabeça – ará-okan e Orí – e, por isso, a dança une, a dança nos leva a aceitar o movimento da vida e da encruzilhada que nos constitui. Só poderemos nos curar de um encarceramento existencial dançando na encruzilhada com Èsù. Porque o mesmo encarceramento, que nega a possibilidade existencial de Èsù, impede a dança da vida. Èsù também é o maestro da melodia existencial, e precisamos aceitar sua regência de encruzilhada. Precisamos dançar, dançar com amor, dançar com liberdade, dançar para a vida e celebrá-la, dançando.
Dancemos para existir!
Mo wà!
Laroyê Èsù!
Sidnei Barreto Nogueira (Santo André, SP, 1968) é linguista, escritor e líder espiritual. Doutor em Semiótica e Linguística pela Universidade de São Paulo (USP), é coordenador e professor do Instituto Ilê Ará: Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-brasileiras. Também lidera a Comunidade da Compreensão e da Restauração Ilè Asè Sangó (Ccrias-SP). É escritor e colunista da revista Carta Capital
1 Pierre Verger. Fatumbi: Orixás. Deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Salvador: Corrupio, 2002, p. 78. 2 CTTro – terminologia adotada para Comunidades Tradicionais de Terreiro. Territórios institucionalmente religiosos, recriados no Brasil como possibilidade de manutenção e convivência de uma cultura e sociedade “africana” escravizada. Os terreiros foram ressignificados no Brasil como possibilidade única de manutenção de crenças, saberes e do senso “africano” de comunidade. A expressão adotada pretende aglutinar todas as diferentes tradições afro-indígenas que resistem até hoje em todas as regiões do Brasil.
Adriano Amaral.
Ribeirão Preto, SP, 1982.
Uma natureza sem nome, formada por hibridismos de todo tipo, atrai-nos com um magnetismo assombroso. Novas formas, cores e texturas se liquefazem numa mistura que agarra nossa atenção, provocando os sentidos e a memória, lançando-nos no fio cortante entre o estranho absurdo e o conhecido familiar.
Adriano Amaral combina materiais e processos de diferentes contextos para criar objetos e sistemas únicos. O artista usa resíduos de equipamentos e produtos industriais, bem como partes de animais, vegetais e minerais para compor elementos neotéricos que estabelecem suas próprias regras biológicas. Em sua obra, é difícil até mesmo discernir entre o sólido, o líquido e o gasoso, ou saber o que está emergindo e o que está em decomposição. Ao tomar o pensamento escultórico como método, ele trabalha num balanço sensível entre a livre intuição e a prática laboratorial. Nesse sentido, seu trabalho propõe experimentos complexos para discutir a qualidade física e espiritual das coisas que compõem o mundo e a jornada do ser humano no planeta. Seu barroco druida-futurista nos põe diante de uma abundância de soluções estranhas, como raízes fundidas em tubos de lâmpada, ninhos de insetos translúcidos, pássaros e hortaliças de silicone, espelhos-d’água de metal, entre outras situações e criaturas de um repertório inesgotável. Em seus ambientes, compostos por diferentes temporalidades e temperaturas, mergulhamos sempre no desconhecido, no mistério insondável cravado entre o orgânico e o artificial, o corpo e a máquina, o
telúrico e o alienígena, a nostalgia e a novidade. Nas zonas indefinidas invocadas pelo artista, tudo que a princípio parece inexplicável nos aproxima de novos afetos e perspectivas. Entre o que já foi e o que ainda virá, a pulsão de novas frequências anuncia o alvorecer do antropoceno e, com ele, as incontornáveis implicações das ações humanas com sua natureza interior e com o ecossistema terrestre. No abismo do oculto, a atenção radical aos processos da matéria pode nos levar à sublimação espiritual, revelando a fluidez e a metamorfose como destino inescapável de tudo que é vivo, jogando luz sobre questões existenciais do passado, do presente e dos possíveis futuros.
Para o 38º Panorama, o artista criou uma instalação comissionada para o térreo do Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP). A obra, intitulada Cabeça-d’água (2024), é uma cápsula octogonal que pode ser contemplada como uma escultura em si ou experienciada como uma estrutura arquitetônica contendo diferentes gestos. Nas paredes desse espaço, peças inéditas da série Pinturas protéticas (2022-), feitas com corte a laser sobre silicone, transliteram imagens prosaicas colhidas pelo artista na internet, criando hologramas tangíveis de cores ácidas e traçados que aludem tanto às projeções digitais quanto aos bordados e filigranas.
Algumas dessas obras são estruturadas em três partes pontiagudas e articuladas, como pequenos oratórios em forma de capela. Ao redor, outras esculturas remetem a uma natureza reformulada pelos efeitos de uma tecnologia duradoura, como dois objetos suspensos compostos pela fundição de chuteiras, patas de aves e outros materiais. São como talismãs pagãos de tempos vindouros, conjurando uma nova iconografia. A atmosfera do ambiente, marcada por um caráter esotérico e ritualístico, é arrematada por sua peça central: um tanque octogonal com um líquido viscoso no qual crânios de hominídeos recobertos por uma lânguida mortalha descem do teto para ser
banhados continuamente. A obra comenta a condição humana atual, seus índices de transformação e paradoxos vitais, colocando-a em perspectiva temporal radical. No entanto, mais que uma representação, o trabalho propõe uma imersão psicocorporal, despertando sensações e estados de espírito ligados ao fascínio pelo quimérico. Com essa instalação, Adriano Amaral resgata a tradição simbólica da forma geométrica de oito lados e ângulos. Em muitos lugares do mundo, desde a Antiguidade, é comum o octógono aparecer em padrões arquitetônicos e ornamentais. Sua simbologia está ligada à integração entre o mundo material e o espiritual, por meio da harmonia entre o quadrado — símbolo da terra — e o círculo, que representa o céu, a dimensão divina. Trata-se, portanto, de uma chave de transição, ou um canal entre o plano físico e o plano celestial. Não por acaso, em algumas tradições, o octógono está relacionado à regeneração ou ao renascimento que conduz à elevação espiritual. Em diversas igrejas cristãs, por exemplo, os batistérios assumem a forma octogonal para indicar a renovação e o acesso a outros planos, por meio do batismo. Diante das vertigens do ultradesenvolvimento científico, a obra evoca mistérios imemoriais e a aspiração à transcendência, incorporando a encruzilhada entre materialidade radical e ascensão mística.

estudo da obra [study of the work]

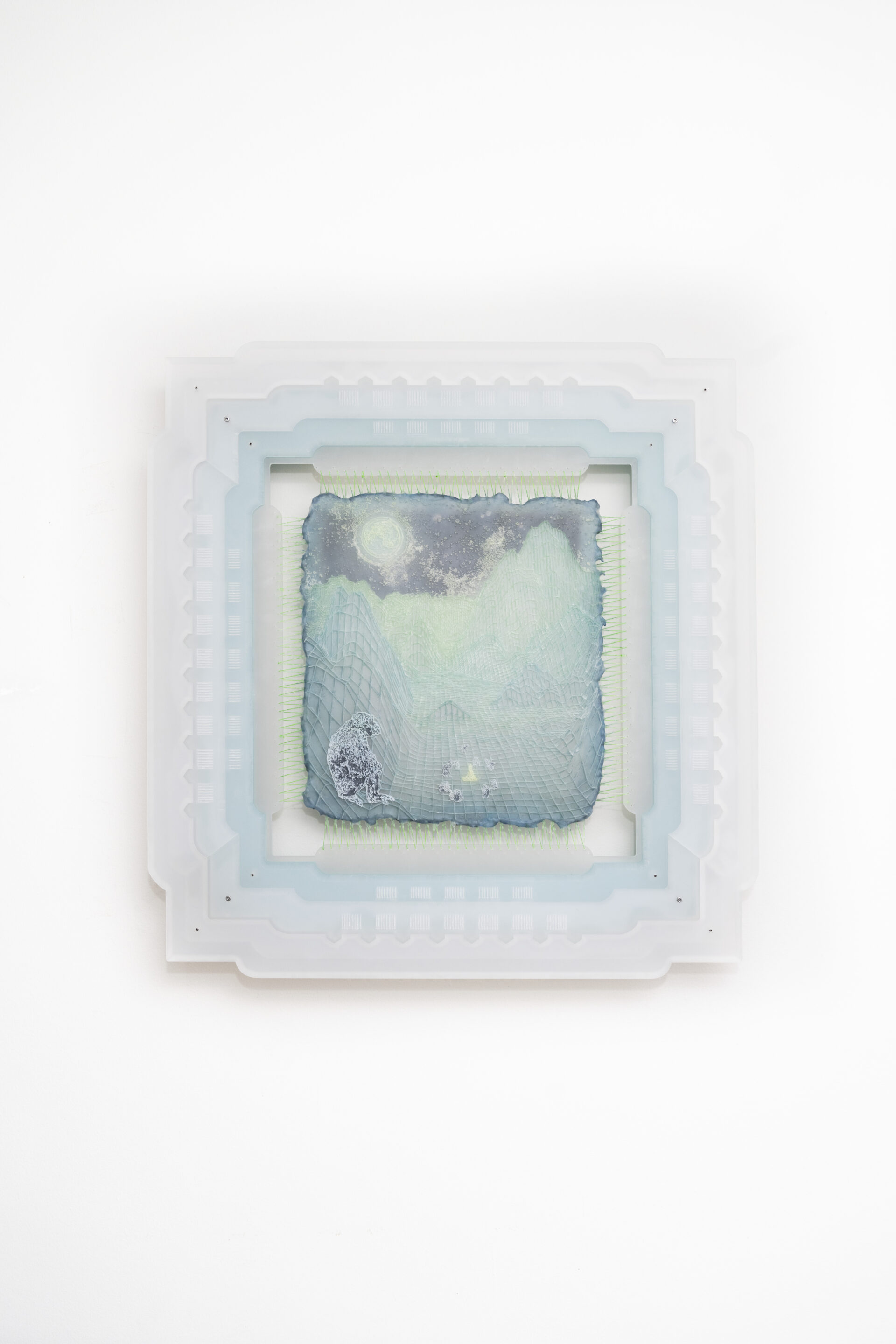




Ana Clara Tito.
Bom Jardim, RJ, 1993.
Blocos de concreto, estruturas metálicas e resquícios comuns tomam o espaço numa cena de pós-explosão. São monólitos resultantes da aglutinação de experiências; erguendo-se ou desmanchando-se, afirmam o paradoxo movediço entre o perene e o transitório, entre a dureza e
a leveza, entre a imobilidade e a fluidez.
Ana Clara Tito cria foto-esculturas que transcendem a captura estática dos momentos e investigam a dinâmica permeável das memórias. Ao jogar com os limites tradicionais da fotografia, sua prática envolve a transferência manual de imagens para blocos porosos compostos por uma amálgama de coisas. Por meio do uso de cimento, ferro, plástico e tecido, sua obra transforma resíduos urbanos e íntimos em uma paisagem que é tão construída quanto desmantelada. Ao rearranjar esses elementos cotidianos, Ana Clara Tito transmuta brutalidade em delicadeza, e a frieza de materiais duros, em lembrança palpável. Nesse sentido, cria uma espécie de arqueologia visual que incita a imaginação, preenchendo arbitrariamente lacunas impossíveis de ser completamente reconstruídas. Entre as práticas da fotografia, da escultura e da arquitetura, há nos objetos e instalações de Ana Clara Tito uma dinâmica de espacialização que se preenche também pela incompletude. Assim, sua obra reelabora modos de ocupar ambientes e interpretar formas, tanto pela presença quanto pela ausência, reconfigurando como percebemos territórios e sensibilidades. Suas construções cristalizam imagens para discutir não só o peso do acúmulo energético das experiências, mas também a agência dos corpos e o contínuo movimento das subjetividades.
No 38º Panorama, Ana Clara Tito apresenta uma instalação comissionada que ocupa o piso do campo expositivo com uma composição de peças em diferentes escalas, como uma ecologia rizomática. Ao sublinhar a indefinição em detrimento da clareza objetiva, seus objetos fotográficos convidam ao jogo de corpo, ao olhar cuidadoso e à investigação dos detalhes contidos numa miríade de cenas urbanas entrelaçadas. Essas peças destrincham, por vias não lineares, a maneira como os corpos são produzidos, informados e dotados de agência e movimento.



imagens de referência (obras não apresentadas na exposição) [reference images (works not shown in the exhibition)]
Antonio Tarsis.
Salvador, BA, 1995.
A risca do fósforo acende a matéria, ascendendo também as ideias. O elemento inflamável e a combustão por fricção refletem a ardência dos afetos. As coisas ignoradas aglutinam-se, encontram outros arranjos e dão vazão a processos de transmutação para alcançar novos sentidos.
A obra de Antonio Tarsis desenvolve-se a partir de dinâmicas de lealdade e ressignificação que ele estabelece com seus materiais de escolha. Sua formação, em grande parte autônoma, se deu caminhando diariamente pelos bairros de Sete Portas, Barroquinha e Baixa do Sapateiro, em Salvador, rumo à Biblioteca Pública do centro. Nessas andanças, a onipresença de caixas de fósforos descartadas pelas ruas da cidade despertaram sua atenção. O artista logo passou a colecioná-las como achados-amuletos num ritual diário que o ajudou a atravessar os momentos mais conturbados de sua vida. Seu interesse nas texturas e variações cromáticas das caixas de fósforos que encontrava fez com que ele convertesse esses objetos banais em elementos primordiais de sua produção artística. No processo criativo do artista, esses e outros resíduos coletados — como caixas de frutas, embalagens e recortes de papel — são trabalhados para criar arranjos vibrantes, por meio de uma geometria arredia. Em suas articulações de potências inflamáveis, Antonio Tarsis passou a incorporar outras matérias-primas relacionadas, como o carvão, a pólvora, o papel paraná e a madeira. Em sua abordagem experimental, o artista adota a colagem como método para compor desenhos, objetos e instalações por meio da aglutinação, sobreposição e construção de camadas — materiais e de significado —, estabelecendo sua prática entre a estratégia crítica e atos de afeto e cuidado.
Para o 38º Panorama, Antonio Tarsis apresenta a obra comissionada Ascendendo o silêncio (2024), uma instalação que toma o centro de uma das alas do campo expositivo. A proposição, embora simples e direta, traz uma complexidade visual e sistêmica, sendo composta por um tronco de eucalipto carbonizado suspenso no teto e um amplo círculo feito com pedaços de carvão no chão. No centro desse amontoado de carvões, há uma peça circular metálica superaquecida. A instalação faz gotejar água do tronco de ponta-cabeça direto no metal, performando a sensualidade da calefação, jogando com a sonoridade e a aparição fantasmática do vapor. A instalação apresenta-se como uma espécie de sítio ritualístico ou como um laboratório alquímico composto por gestos mínimos. Por meio da interação radical entre líquido e superfície, o trabalho lida com o suspense e as nuances que envolvem um processo de transformação imediato, afirmando as correspondências entre o que há acima e embaixo, entre o fogo e a água, e entre os diferentes estados da matéria.
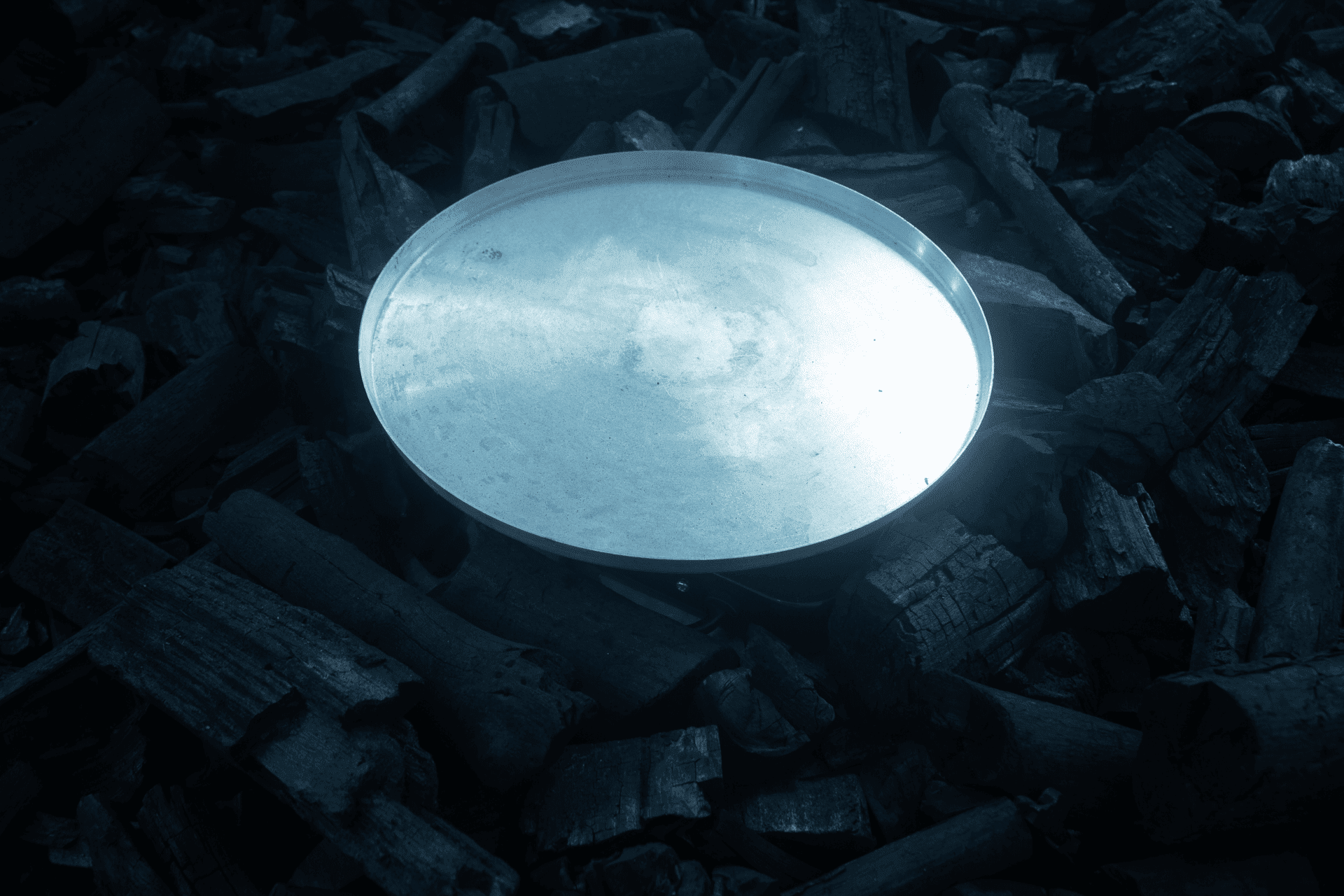
Davi Pontes.
São Gonçalo, RJ, 1990.
O movimento do corpo desenha possibilidades no espaço infundindo o ar com uma energia eletrizante. Gestos magnéticos produzem sentido pela ação, esquentando os membros e esticando pontes de conexão.
A prática artística de Davi Pontes se posiciona na interseção da linguagem corporal, da coreografia e da autodefesa a partir de noções que envolvem racialidade e pensamento crítico. Suas criações refletem, sobretudo, o desejo de quebra com os engessamentos impostos pela modernidade e pela condição contemporânea. Nesse sentido, o artista subverte circunstâncias em que as violências cotidianas e estruturais são praticadas, com exercícios que traçam rotas vitais para corpos dissidentes e subculturas. Por meio de vocabulários coreográficos e da reencenação de discursos, o artista propõe uma resposta encarnada e ativa diante das estruturas opressivas. Em suas proposições, Davi Pontes busca criar situações envolventes em que o público não apenas assiste a, mas sente no próprio corpo a força das discussões em jogo. Sua prática estimula, assim, uma reavaliação dos meios pelos quais produzimos e carregamos a história em nós, propondo movimentos de resistência e reinvenção.
Davi Pontes apresenta um trabalho comissionado no 38º Panorama, que continua elaborações anteriores envolvendo a criação de um repertório em conjunto com outros agentes. Em diálogo direto com os performers da peça, o artista desenha imagens potentes que envolvem a manifestação de poses, passos de dança e expressões
intensas em um vocabulário comum. O trabalho incorpora e traz à tona desejos e outras vibrações latentes, tanto subjetivas quanto ligadas a certos grupos e cenas culturais urbanas. Por meio de diferentes capítulos distribuídos no tempo, a peça vai afirmando gestos, ao mesmo tempo em que sublinha a diferença na repetição. A intensidade do trabalho é reforçada pelo palco sobre o qual é apresentada, uma estrutura de três níveis em forma de paralelogramo, espécie de pedestal que indica velocidade e transformação.
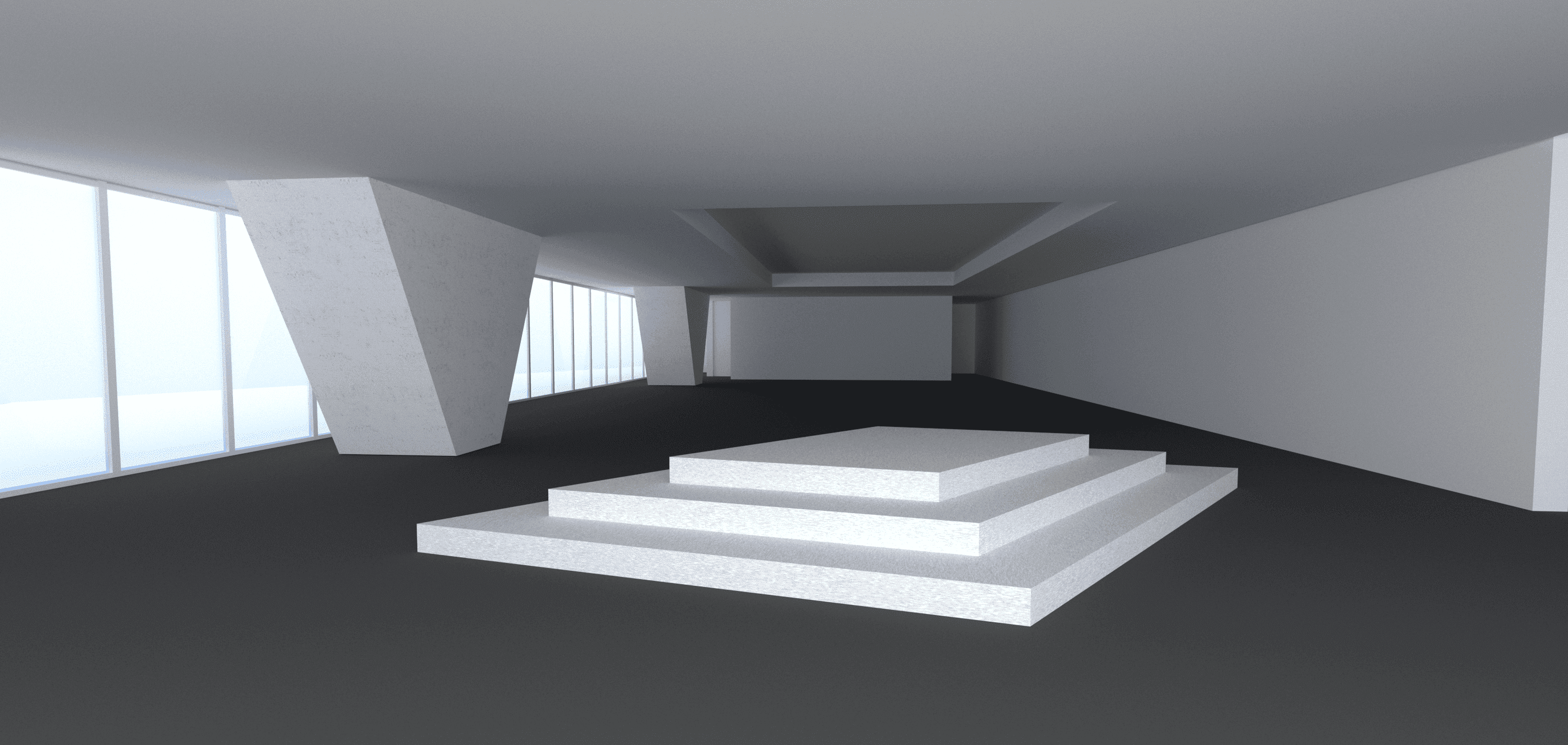
collaboration with] Safira Sacramento e [and] Sebastião Abreu. Coleção do artista [Artist’s collection].
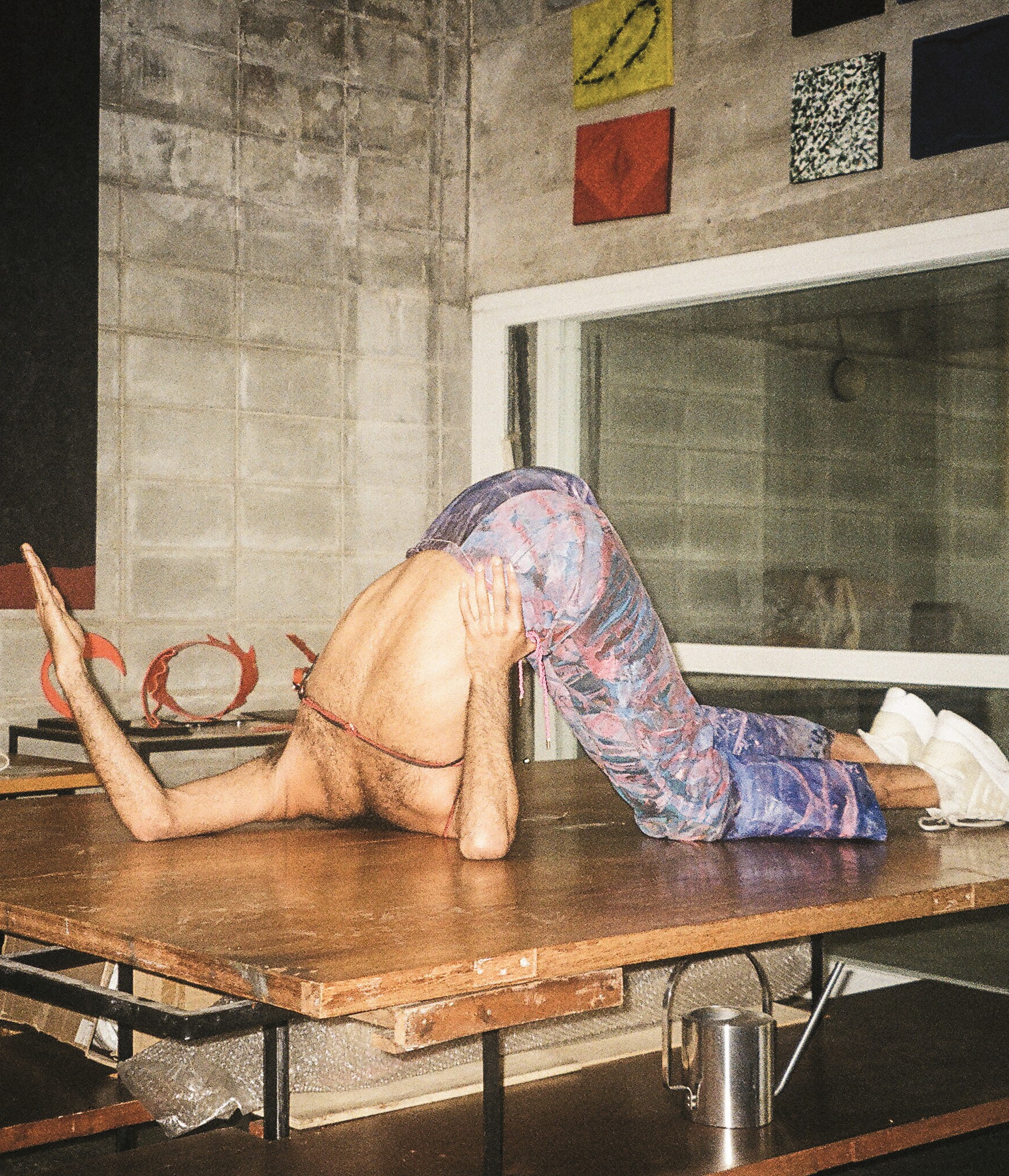
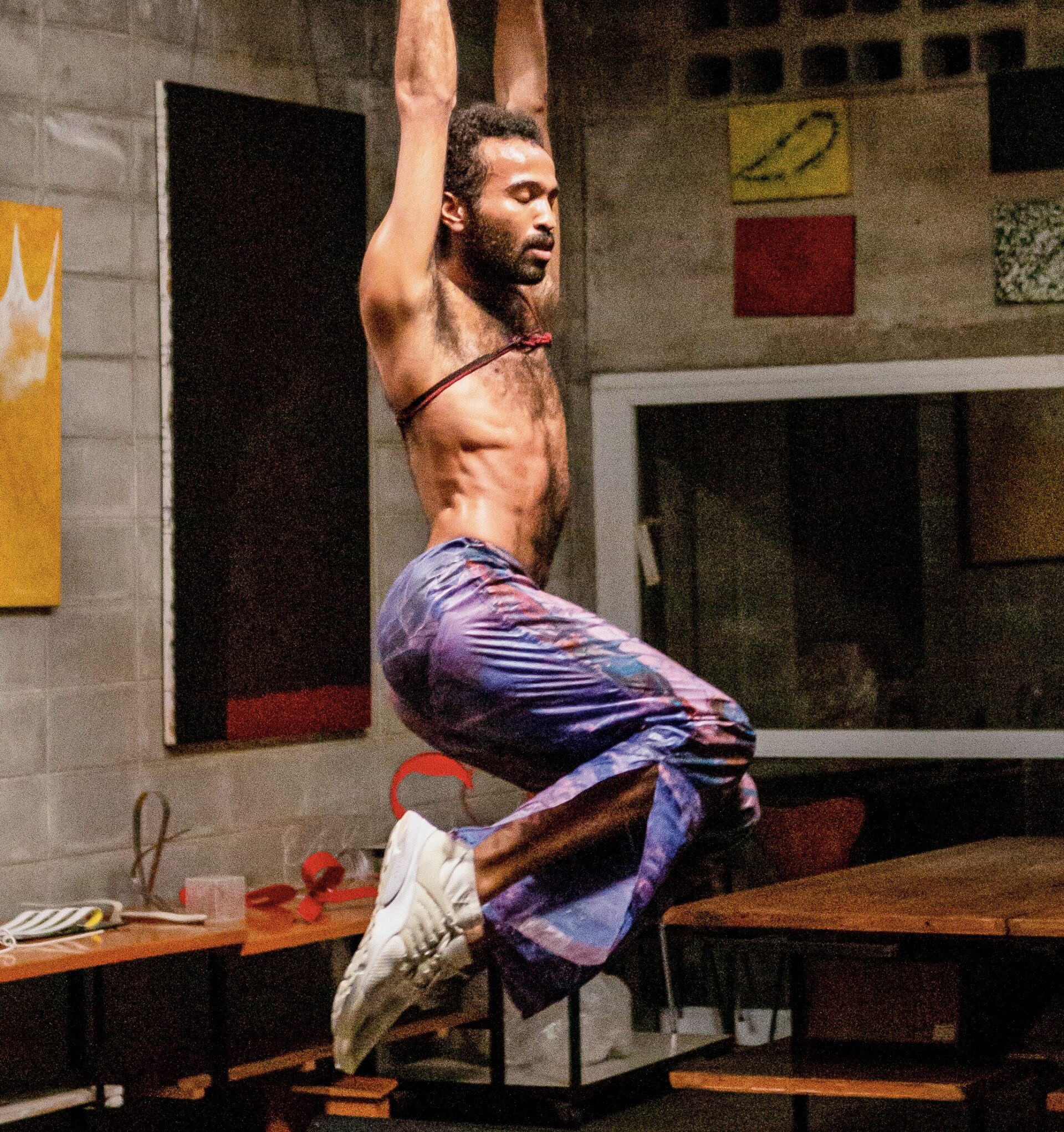
Dona Romana
Natividade, TO, 1942
As energias que precisam vir ao mundo inevitavelmente encontram seus portais, buscando a matéria que lhe dará corpo terreno. Sob o sol rachante do centro do Brasil, essas forças que vêm de outros planos ganham forma de muitos jeitos, como “fundamentos para a firmeza da terra” que emanam cargas elétricas e profecias vindas do além.
O magnetismo de Dona Romana transcende o sítio Jacuba, onde vive, atraindo pessoas de muitos lugares do mundo. Quem passa pelo arco de sete pontas e entra na fenda estreita aberta no muro baixo que cerca o sítio acessa o que parece ser outra dimensão: um chão sagrado, um santuário. Astros, seres, inscrições e totens esculpidos em pedra canga e laterita afloram entre o solo rochoso amarronzado e a mata do Cerrado, brilhando sob o céu quente de um azul estourado. A erupção da escultura crua e de formas essenciais, realizada com materiais pouco usuais e gestos mínimos, revela um estilo próprio, imbuído de uma profunda magia. À dureza das pedras cimentadas, somam-se peças em arame e detalhes ou motivos cravados como mosaicos de pedrinhas variadas e outros resíduos. A expressividade das imagens que povoam o lugar carrega a sensibilidade de uma criação engajada com revelações maiores e que tentou, pelas mãos, dar conta de uma beleza e de uma potência indizíveis. Esses sóis, estrelas, anjos, antenas, cruzes, pássaros e outras figuras e símbolos sincréticos se multiplicam sem nunca se repetir. São peças que vibram forte, cada uma a sua maneira, ecoando suas mensagens singulares, mas que compõem uma constelação densa e coesa, cumprindo uma função fundamental entre a sustentação do solo e a ascensão aos céus.
Essa missão se conta pela trajetória da mística Romana: nascida e criada em uma das cidades mais antigas do Tocantins, no pé da Serra de Natividade, decidiu fechar sua venda de cachaça depois de ter a primeira visão espiritual em 1974. Guiada por seus “três curadores”, foi viver na área rural, onde aprendeu o poder das ervas e garrafadas e iniciou sua prática como rezadeira e benzedeira, tornando-se logo conhecida em toda a região como “Mãe”, vidente, curandeira, profetisa e líder espiritual. Os trabalhos em pedras começaram em janeiro de 1990 e foram gradualmente incorporando detalhes em cor e outros materiais. Sempre orientada por essas vozes, Romana criou peças e instalações cujo propósito se sedimenta em locais específicos, muitas vezes indicados por uma luz. Sua produção também se desdobrou em desenhos sobre papéis e pinturas nas paredes das construções de seu sítio, também conhecido como Centro Bom Jesus de Nazaré. Tudo isso integra o mesmo “fundamento”, cujo processo de construção Dona Romana concluiu em 2011, e que agora aguarda “a grande hora”. Essa obra grandiosa e brilhante firma um pacto entre mundos. É uma indivisível fusão de poderes e saberes tradicionais com as mensagens traduzidas por Dona Romana. É um núcleo de forças que segura a terra e conecta diferentes polos energéticos do planeta e também os liga a outras dimensões, servindo como pilar espiritual por meio de uma materialidade fascinante e extraordinária.
Sua participação no 38o Panorama traz registros documentais inéditos de seu centro espiritual e de suas obras, comissionados especificamente para a ocasião. Uma fotografia é apresentada em um painel de proporções colossais, trazendo uma imagem emblemática de seu santuário em Natividade (TO) para dentro da exposição. Sua presença é reforçada por um repositório on-line com uma extensa documentação fotográfica, áudios de seus testemunhos e transcrições dessas falas que sintetizam sua jornada.















Natividade, TO, desde setembro de 1989 [since September, 1989], local de residência com obras em pedra, papel, tecido, pintura, arame, madeira e objetos diversos [place of residence with works in stone, paper, fabrics, painting, wire, wood, and various objects]. Registro fotográfico de [Photographic record by] Emerson Silva
Frederico Filippi
São Carlos, SP, 1983
O peso da massa antropogênica paira sobre nossas cabeças; sob nossos pés, o verde e o vazio, as seivas e as chamas. O aço é o fio que demarca a terra e separa a gente, que encarna na máquina que arqueia a mata, desertifica a vida, transformando o mundo pela negação.
Sob um calor massacrante e cores rubras, a era do ferro escancara o abismo existencial que se abre diante da hecatombe ecológica. Do outro lado desse buraco, só poderemos encontrar o mistério de nós mesmos, e do nosso inescapável estado de transformação.
O trabalho de Frederico Filippi baseia-se numa investigação intensa de conceitos e fenômenos contemporâneos, desdobrando uma mesma energia por meio de diferentes mídias, como pintura, desenho, fotografia, vídeo, performance e instalação. Sua prática, centrada nos contrastes e conflitos fronteiriços, discute a complexidade das intersecções e dos hibridismos entre diferentes vetores, e como uma coisa pode reverberar na outra. Seu campo de interesse, portanto, abeira-se dos limites entre os espaços naturais e as máquinas industriais, entre as formas de vida originárias e a voracidade acachapante do capital. Por vias narrativas não lineares, suas obras encaram de frente a estranheza e a violência do mundo. No entanto, abraçam uma noção ecológica abrangente, que não separa o homem do meio, a cultura da natureza, ou o advento tecnológico do elemento natural. Por meio de pesquisas que abrangem uma série de disciplinas e técnicas, bem como vivências e colaborações comunitárias — marcadamente no Igapó Açu, na BR 319, no Amazonas —, o artista aborda a colisão e o atrito como ferramentas conceituais para reelaborar criticamente o imaginário social do Brasil e da América do Sul sob as marcas indeléveis do capitalismo avançado. Nessa voragem densa, quente e cortante, os fatos e suas imagens são devorados e regurgitados, deixando como resultado questionamentos metafísicos e materiais diante das transformações aceleradas que moldam — e agora ameaçam — nossa existência.
O artista apresenta duas obras inéditas, frutos de processos anteriores, mas que culminaram em projetos comissionados para o 38o Panorama. A primeira, Moquém – Carnes de caça (2023-2024), é composta por peças remanescentes de dois tratores incinerados pela Polícia Federal após uma operação de fiscalização em garimpos ilegais, na região de Itaituba, Pará. Na obra, esses resíduos queimados e derretidos são expostos num arranjo composicional, sob uma estrutura em grid. Sobre as peças, há incisões pontuais feitas com piche: desenhos livres, mas que remetem a padrões encontrados na natureza. O título da obra aponta a referência que fundamenta essa estrutura: “moquém” era o nome que o povo Tupi dava à grelha de madeira para assar carnes, fossem elas de animais ou de prisioneiros preparados para rituais antropofágicos. O trabalho acontece na encruzilhada entre a força visual e material dessas peças e o jogo metafórico e conceitual. Por um lado, sugere, de modo dramático, a deglutição do homem pelo homem; por outro, propõe uma arqueologia do futuro, que cataloga e dispõe os resíduos do loop ecológico humano. Nesse sentido, comenta sobre o absurdo da cadeia industrial que extrai o minério por meios complexos e custosos, para depois empregá-lo na criação de máquinas utilizadas para extrair mais minério, que depois são destruídas, sendo largadas sem valor na selva, para serem absorvidas novamente pelo solo, juntando-se,de algum modo, ao mineral em sua forma bruta.
A segunda, intitulada Arco (2020-2024), é a materialização de uma pesquisa conduzida desde 2011, que resultou em sua dissertação de mestrado, fundamentada na ideia do “arco do desmatamento”1 como obra de arte. Por meio de diferentes capítulos, a tese aborda esse fenômeno extrativista por diversos vieses, destrinchando seus aspectos conceituais, imagéticos e físicos. Essa noção do “arco do desmatamento” como ideia, como visualidade, como intervenção ou escultura é desenvolvida formalmente como uma videoinstalação em três canais. Nela, as telas são alinhadas de modo irregular e justapostas por um painel de madeiras cortado a laser, com formas que remetem a processos de fragmentação, afiados e caóticos. Aparecem, então, a brutalidade da desflorestação, a intensidade do calor, as dinâmicas destrutivas da economia e o assombro do caos que envolve esse fenômeno. Na parte de trás do painel, quatro imagens dispostas como bandeiras anguladas trazem imagens de geoglifos recém-descobertos na Amazônia, contrapondo temporalidades e visões de mundo.
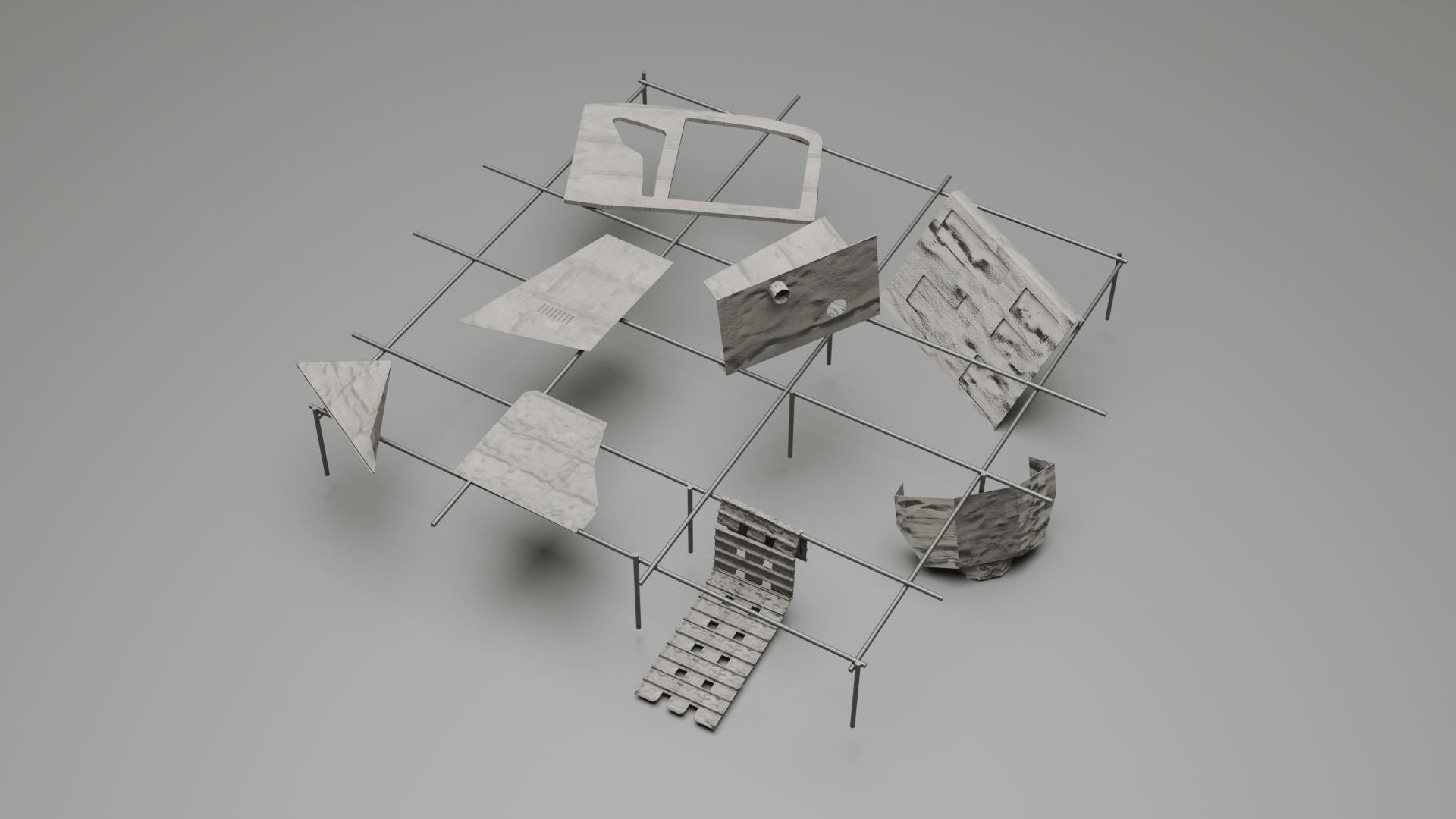
em garimpo em Itaituba, Pará; aço, ferro, plástico e asfalto [tractor parts incinerated and melted at mining site in
Itaituba, Pará State; steel, iron, plastic, and asphalt], várias dimensões [various dimensions]. Coleção do artista
[Artist’s collection]
◌ estudo da obra e, nas próximas páginas, imagens da obra em processo [study of the work and, on the next pages,
images of the work in progress]




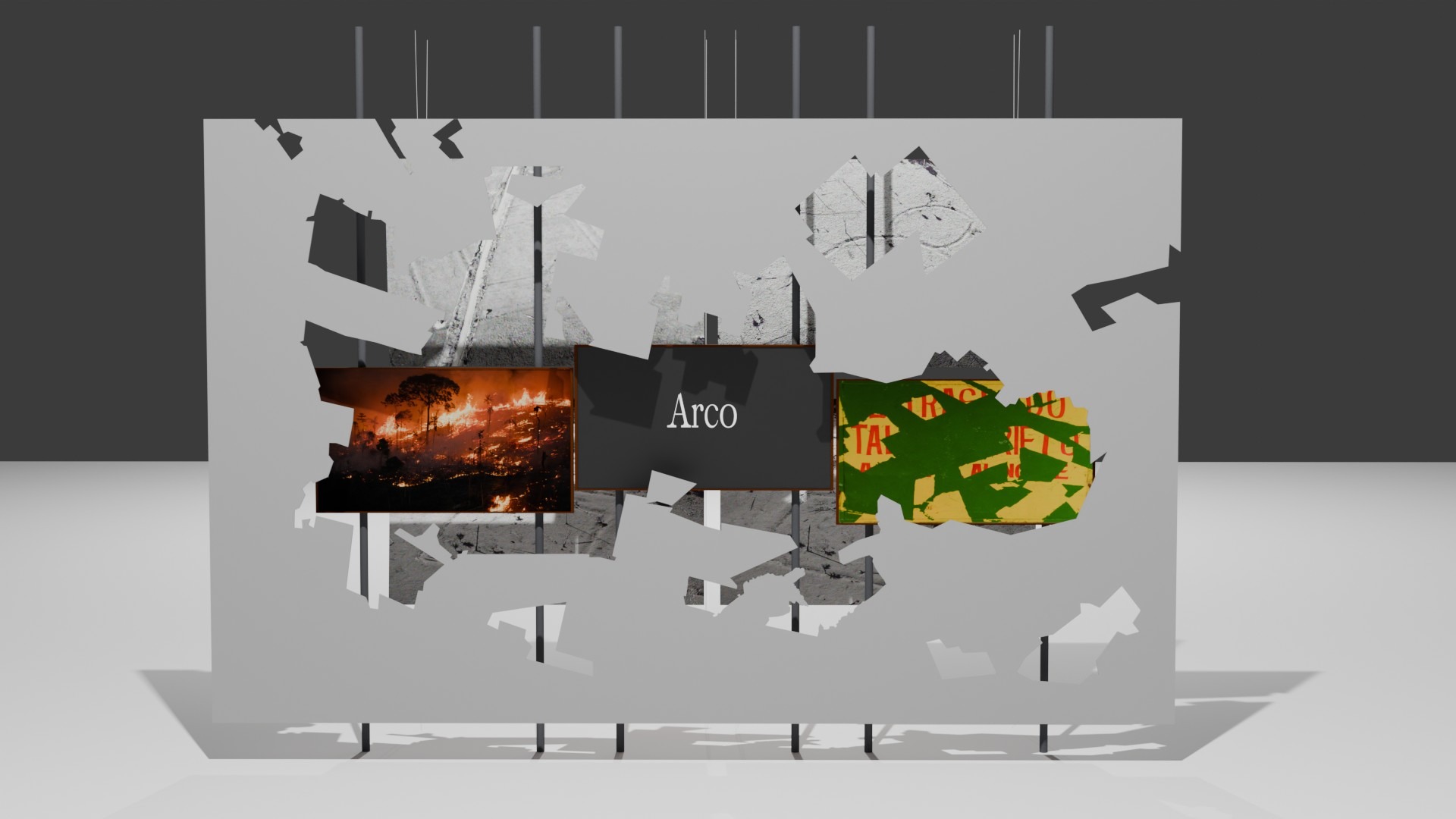
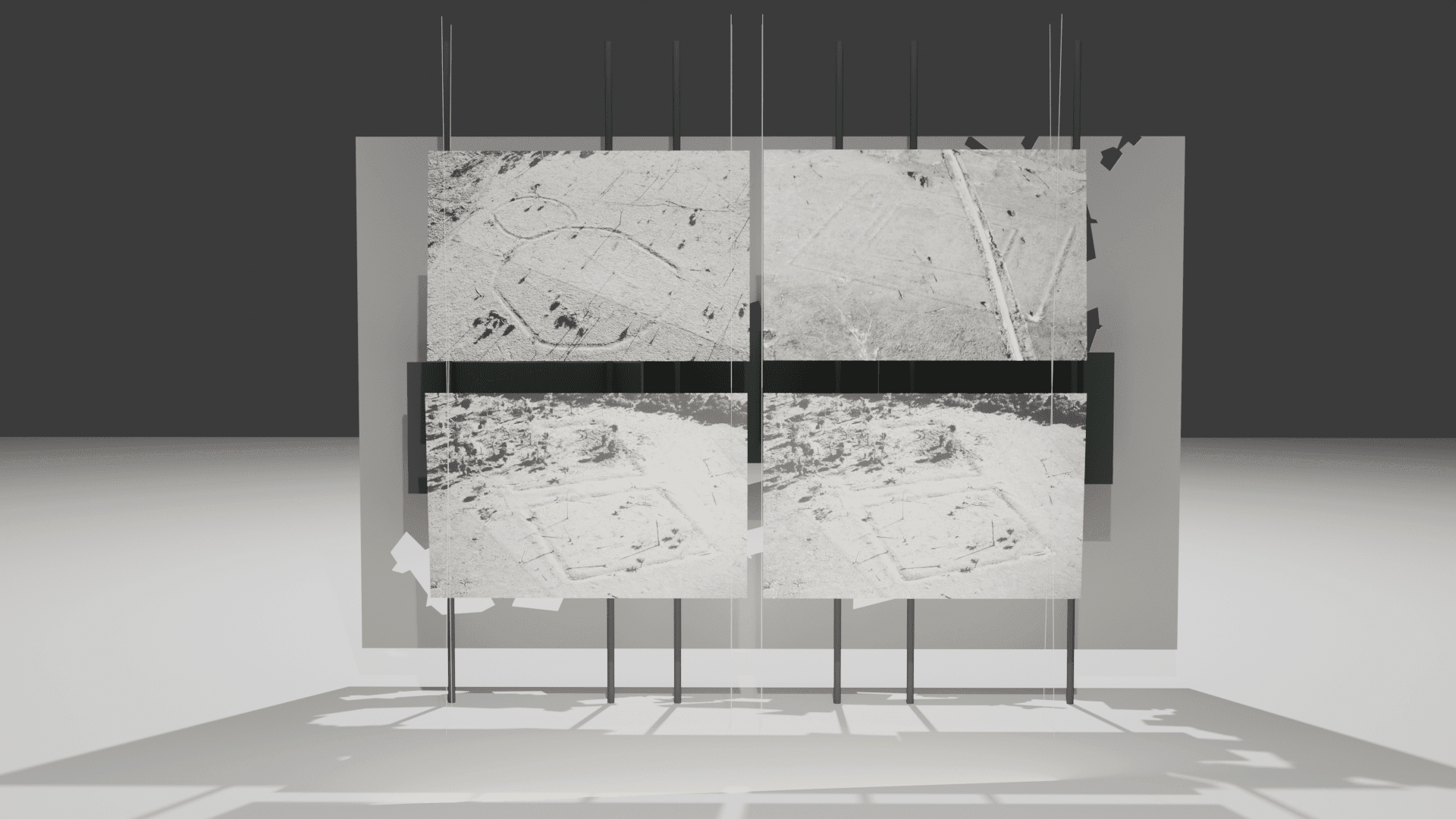
com padrão de desmate , várias dimensões [various dimensions]. Coleção do artista [Artist’s collection]
Gabriel Massan
Nilópolis, RJ, 1996
Seres indecifráveis habitam cenários vibrantes. Luzes ofuscantes, cores ácidas e tons metálicos compõem céus e chãos em plena transformação. Nesses terrenos surreais — um pouco mundanos e muito alienígenas —, tudo parece distorcer, derreter e se recompor o tempo todo, emanando o potencial das formas de vida numa ecologia extraordinária.
Com uma estética singular, que envolve formas fluidas, uma paleta explosiva e criaturas estranhas — formas de vida digitais, chamadas de “esculturas-atrizes” —, a prática de Gabriel Massan é focada na criação de imagens e jogos 3D, e instalações e objetos relacionados às tecnologias computacionais. Em suas composições, ideias ganham formas estranhas, fazendo emergir figuras zooantropomórficas — meio gente, meio bicho — integradas a paisagens liquefeitas, de texturas intrincadas, ultracoloridas e ardentes. Suas criações baseiam-se em métodos ligados ao que ele chama de “arqueologia ficcional”, combinando a análise de artefatos, documentos e episódios históricos com especulação e fabulação. A essa base conceitual e teórica, o artista alia técnicas de construção de mundo e contação de histórias no campo digital. Por meio de ambientes, dinâmicas e narrativas que extrapolam fatos reais, suas obras mergulham o público em conjunturas fictícias que recontextualizam certos locais, episódios e objetos, discutindo suas implicações socioculturais e propondo visões críticas sobre o passado, o presente e o futuro. Nesse sentido, seu trabalho propõe experiências — muitas vezes interativas — que lidam com temas como identidade e emancipação em contextos de opressões estruturais. Por meio de uma abordagem a que ele se refere como “alteridade subversiva”, o artista afirma a diferença não como base para a exclusão, mas como chave para acessar novas compreensões sobre os problemas estruturais do mundo. Suas sínteses visuais, fascinantes e ambíguas, operam como dispositivos para driblar preconcepções enrijecidas e discursos dominantes, trazendo à tona, de modo inventivo, perspectivas tradicionalmente apagadas e marginalizadas.
No 38° Panorama, Gabriel Massan apresenta um novo desdobramento de sua obra Baile do terror (2022-2024), que traça um paralelo entre a escalada de tensões e violências em âmbito global e os traumas da brutalidade mortífera operada pela “guerra às drogas” no eixo Rio-São Paulo. Nesse sentido, os fundamentos do trabalho são atravessados por suas vivências na Baixada Fluminense, onde nasceu e cresceu, e suas experiências como imigrante, desde que se mudou para Berlim, na Alemanha, em 2020. Desenvolvida especificamente para a exposição, a instalação multiperspectiva é composta por telas de projeção, alto-falantes, luzes e mobiliário escultórico. Seu caráter imersivo reforça a cosmologia e os conceitos comuns na prática do artista, oferecendo uma situação de deslocamento sensorial e servindo como instrumento para questionar paradigmas coloniais e concepções distorcidas sobre o chamado “Terceiro Mundo”, e sublinhar a força da imaginação para afirmar outras formas de vida possíveis.
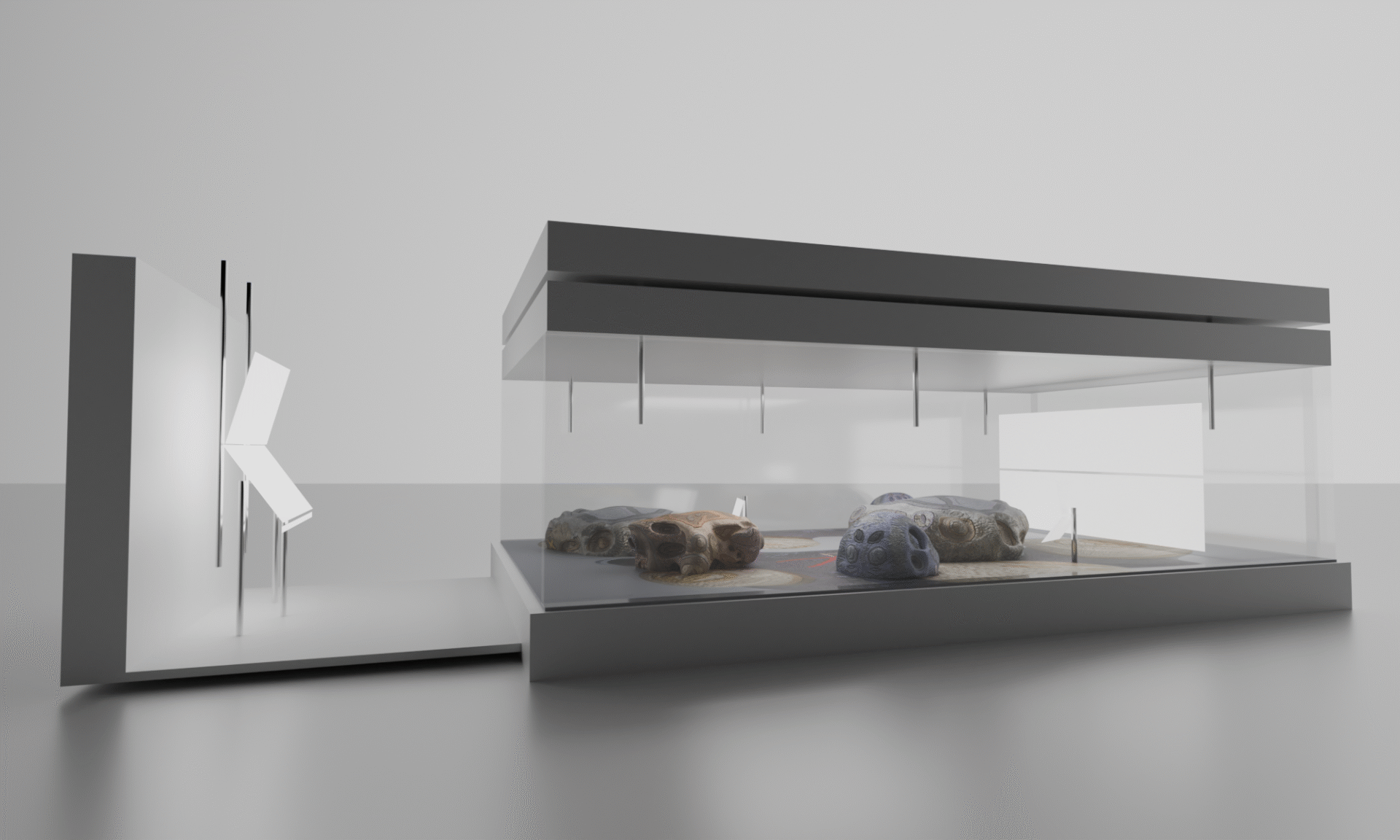
04’25’’ | 05’25’’ , dimensões variáveis [variable dimensions]. Coleção do artista [Artist’s collection]
estudo da instalação e, nas próximas páginas, modelo 3D dos personagens do filme [study of the installation and,
on the next pages, 3D model of film characters]


Ivan Campos
Rio Branco, AC, 1960
A mata densa e quente revela seus mistérios no entrelaçamento labiríntico das folhas, galhos, troncos, bichos e trechos d’água. Esses elementos se dissolvem uns nos outros, formando uma só massa de calor, num caldeirão orgânico que fervilha a potência das formas de vida e seus jogos ecológicos.
A obra de Ivan Campos te envolve para te engolir: a grandeza da floresta transborda da tela e toma tudo à sua volta, enlaçando o espectador numa teia biológica e espiritual formada por infinitas conexões. Suas pinturas remetem às mirações, em que podemos enxergar as relações planetárias invisíveis, como se um véu tivesse sido levantado para que pudéssemos acessar outras dimensões a partir da natureza mundana. Estudioso da anatomia botânica, seu processo é orientado tanto pela força da intuição, quanto por muita matemática, envolvendo cálculos que dividem os espaços e a distribuição de componentes na tela. Dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artista a priori em cada pintura, ele faz um estudo minucioso para encontrar a posição dos seres vivos e suas interações, compondo relações no espaço e batendo muita cabeça para encontrar o equilíbrio entre a vegetação, os animais e o que não se pode ver. É assim que seu trabalho elabora a harmonia no caos de ambientes em constantes disputas. Em suas pinturas, não há espaços vazios, e nada é ocioso, tudo é dinâmico e há potência em todos os cantos. Nesse horror vacui¹ amazônico, cujos temas e motivos são sempre reiterados, enxergamos a seiva vital que perpassa e mobiliza todas as coisas, a pluralidade de formas e agências da mata, e a dança dos seres em comunhão, pactuados num contínuo e eterno estado de transmutação.
No 38º Panorama, o artista apresenta uma tela de dimensões imensas, que traz os principais aspectos de sua obra. A pintura sem título (2008-2010), de sete metros horizontais, que marcou sua trajetória como seu projeto mais desafiador, demorou um ano para ser concluída e demandou longas e aguerridas sessões diárias. Na visão panorâmica que a obra oferece, enxergamos uma selva intrincada, cheia de complexidades, onde tudo está em movimento. Com poucas cores, de modo a manter uma coesão energética, o artista não deixa de sublinhar a mistura, a mística, as profundas camadas e a confusão de escalas e perspectivas que compõem um ecossistema. Por meio de tons esverdeados e azulados, e um traço sensível e dinâmico, o artista constrói um panorama que dá corpo à energia pulsante que forma e desforma tudo que nos cerca.
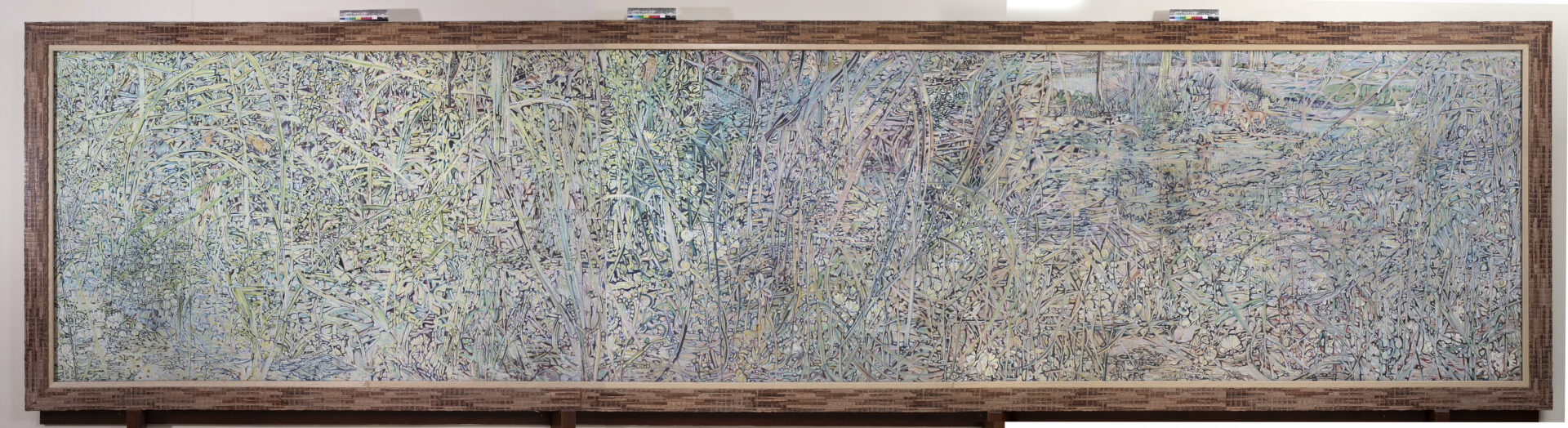
¹ Termo que, em latim, significa “horror ao vazio”. Refere-se ao recurso artístico em que toda a superfície da tela ou suporte utilizado é preenchida por conteúdo, comumente com riqueza e profundidade de detalhes, de modo a não deixar nenhum espaço vazio ou neutro no campo visual.
Jayme Fygura
Cruz das Almas, BA, 1951
† Salvador, BA, 2023
Sob o sol quente de Salvador, a aparição de uma figura mascarada nas ruas atravessa a memória e o espírito da cidade. Paramentado com sua armadura metálica indizível, ele faz barulho por onde anda, reluzindo a cada passo, incorporando o assombro da vida, embaralhando os limites entre corpo e contexto, entre arte e vida.
A prática radical de Jayme Fygura é forjada na mistura entre a espiritualidade dos Orixás e a brutalidade do contexto urbano. Sua obra combina a tradição da escultura em metal, da poesia marginal, do rock e de outras forças para gerar uma obra densa, pesada, cuja gravidade responde com força e fervor às opressões e violências cotidianas. Escultor, pintor, performer e músico, Jayme Fygura jamais foi visto sem máscara, e ficou célebre, sobretudo, por suas “vestes” hiperbólicas, indumentárias complexas que amalgamam uma série de materiais. Ao não revelar seu rosto, o artista pôde criar outras imagens para sua identidade, elaborando a própria mutação e abraçando a potência e as contradições de sua efígie. Com esses exoesqueletos existenciais que usava como se fossem uma continuação de seu corpo, Jayme Fygura ganhava as ruas, arrancando olhares consternados e curiosos, desenhando coreografias pelos becos, transformando a paisagem a partir de sua escala. Suas esculturas e pinturas incorporaram como temas os próprios capacetes, couraças, botas e tridentes, mas também entidades e criaturas de outras dimensões, livres abstrações, símbolos universais e sínteses da natureza orgânica do Brasil.
Desencarnado durante a concepção do 38o Panorama, Jayme Fygura é o único artista da mostra que não está vivo. Sua participação na exposição faz uma homenagem a sua força e contribuição artística singular para a história da arte brasileira. A apresentação de seu trabalho, sintética e densa, dá testemunho de seu profundo legado por meio de três pinturas a óleo e objetos característicos de suas vestes de metal. O grupo de obras sublinha aspectos centrais do imaginário que o circundava: capacetes pontiagudos, um tridente e figuras explosivas, ligadas ao fogo e à transformação matérica e espiritual.




II: 178 x 35 x 5 cm. Coleção [Collection] Paulo Darzé Galeria

Jonas Van & Juno B.
Fortaleza, CE, 1986 & 1982
Uma ave mística voa veloz, cortando o céu. Seu brilho é capaz de cegar os olhos e sua irradiação transforma tudo que toca. A luz manifesta-se em velocidade máxima, maquinando viagens antes impossíveis, criando portais energéticos ainda não vislumbrados, ensejando profundas metamorfoses.
Jonas Van e Juno B. são artistas que há algum tempo colaboram como dupla, navegando nas interseções e complementaridades entre suas práticas, marcadamente seus interesses sobre processos de transformação radical. Por meio de vídeos, objetos e instalações imersivas, o duo trabalha nas fronteiras entre pensamento crítico, fabulação, espiritualidade e o manejo da matéria, investigando o fenômeno da transmutação e as possibilidades existenciais ligadas à reinvenção do corpo. Jonas Van, influenciado pela teoria crítica e pela prática da ficção especulativa, utiliza elementos minerais e imaginários de monstruosidade. Sua obra cria narrativas íntimas que exploram descontinuidades fisiológicas, linguísticas e temporais, sempre a partir de uma perspectiva de ruptura com configurações estabelecidas. Juno B. se orienta por mutações e transgressões que movimentam paisagens adaptativas, desafiam a fixidez dos gêneros e tensionam os limites entre a estética, a ética e a política. Com o objetivo de driblar as matrizes racionais que regulam a vida, sua prática se vale da apropriação de objetos e mixagens materiais para provocar sensações específicas e deslocar percepções, num exercício contra-hegemônico que abraça as complexidades da condição biológica na era pós-industrial. Juntos, os artistas cruzam dimensões físicas e fenômenos extraterrenos para propor sínteses conceituais destiladas em narrativas que instrumentalizam o extraordinário para sublinhar o que nos é profundamente comum.
No 38º Panorama, a colaboração entre Jonas Van e Juno B. resultou na videoinstalação imersiva Visage (2024), uma experiência ambiental envolvente que combina esculturas e mobiliários feitos com peças automobilísticas, luz, som e vídeo. A obra propõe um jogo entre o cinema drive-in e a alegoria do carro como máquina do tempo. E reimagina o mito do “Pavão Mysteriozo” — figura lendária da cultura popular do Nordeste brasileiro — como um ser capaz de voar na velocidade da luz e se tornar visível para aqueles em avançado processo de transição, cujas percepções temporais não seguem a linearidade convencional. Inspirado na tradição do cordel e em diálogos com a escritora Octavia E. Butler, essa obra de ficção científica tece conexões entre linguagem, trauma e temporalidade, propondo uma viagem espiritual pelas fissuras do tempo-espaço, de modo que o corpo cede lugar ao espírito para engendrar deslocamentos transdimensionais. A jornada transpassa paisagens morfológicas e topografias imateriais entre geleira, vulcão e terreno arenoso, introduzindo novas perspectivas sobre magia, sonho e as possibilidades de existência além dos limites conhecidos.

estudo da instalação e, nas próximas páginas, imagens estáticas do vídeo [study of the installation and, on the next
pages, still images from the video]

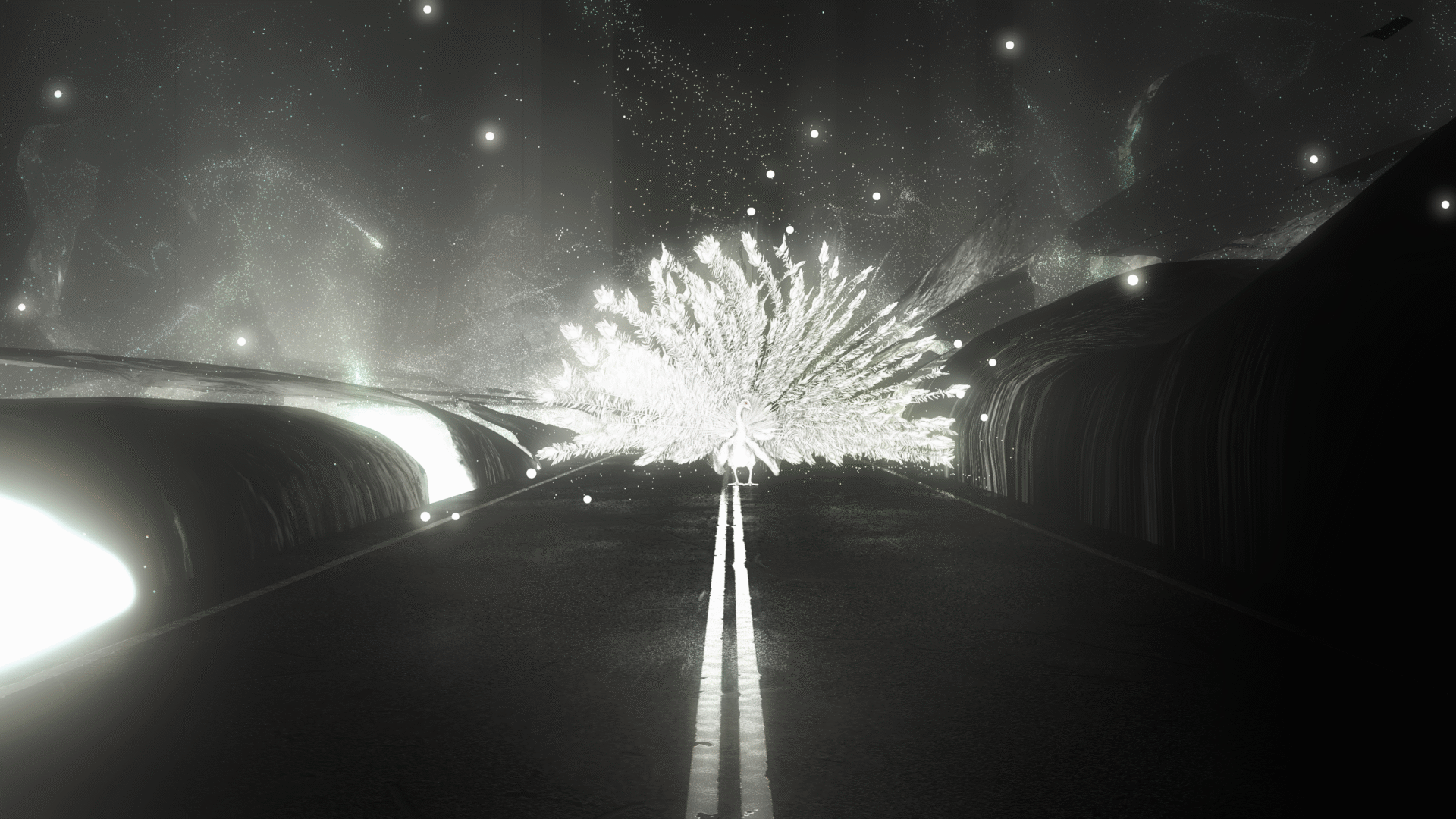
José Adário dos Santos
Salvador, BA, 1947
O ferro encontra o fogo. O que era duro, derrete. É torneado, erigido, fundido e soldado. Vira chave, ícone que conecta, recebe e assenta. Um conduíte espiritual, uma ferramenta que transforma.
José Adário dos Santos, ou Zé Diabo — como também ficou conhecido —, é um dos mais notáveis ferreiros da Bahia. Começou a trabalhar a forja ainda criança, recorrendo aos seus mestres para aprender o seu ofício: o ferreiro Maximiano Prates e seu padrinho, o orixá Ogum. Sua prática combina elementos de culturas religiosas afro-brasileiras com ênfase em tradições da cultura iorubá, tomando o ferro como matéria-prima, instrumento e objeto de devoção. Suas “ferramentas” — como chama suas peças — são feitas como trabalhos para os orixás e outras entidades, sobretudo aquelas ligadas a esse metal, de maneira que o artista molda com a matéria terrena um ativador para conexões espirituais. Nesse sentido, suas ferramentas são usadas em assentamentos — nome que se dá às moradas de divindades e entidades — e podem assumir diferentes formas a depender das intenções energéticas que lhes dão vida ou da função que irão assumir. Entre as incontáveis invenções formais que compõem seu complexo léxico, aparecem tridentes, flechas, pássaros, folhas de prata, entre outras recorrências. Em comum, todas as suas obras carregam densa carga estética, afirmando seu estilo marcante. São ícones que incorporam mistérios, canalizando a força ancestral do ferro e a presença espiritual. Como instrumentos-talismãs, suas obras são insígnias de poder, transcendendo a representação para estabelecer uma ligação direta com o sagrado.
No 38º Panorama, José Adário dos Santos apresenta um conjunto de peças que dão testemunho de sua maestria escultórica e profunda espiritualidade. No entanto, são obras criadas para circular em ambientes expositivos como museus e galerias, diferentemente das que são feitas com o objetivo de ser iniciadas dentro dos terreiros ligados às religiões de matrizes afro-brasileiras para fins de sacralização. O grupo de obras reflete a rica herança cultural do Candomblé e o saber metalúrgico que atravessou o Oceano Atlântico, e afirma a habilidade técnica e a sensibilidade artística que definem o trabalho de José Adário dos Santos. São peças que se referem a divindades e entidades distintas: há ferramentas dedicadas a Ogum Oniré, Oxossi Odé, Agué, Padilha e Exu. Apresentadas com a devida reverência totêmica, firmam uma ecologia simbólica fascinante, bem como um circuito energético ligado a diferentes forças vitais.

161 x 81,5 x 30 cm. Acervo [Collection] Galatea.

Acervo do [Collection of] Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira – MUNCAB

Acervo do [Collection of] Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira – MUNCAB

70 x 67 x 13 cm. Coleção [Collection] Ivani e [and] Jorge Yunes

74 x 54 x 14 cm. Acervo [Collection] Galatea

76 x 45 x 46 cm. Acervo [Collection] Galatea

76 x 45 x 46 cm. Acervo [Collection] Galatea
Joseca Mokahesi Yanomami
Terra Indígena Yanomami, RR, 1971
O entrelaçamento entre o visível e o invisível dá os contornos às imagens da terra-floresta, onde a mata, os bichos, os Yanomami e os xapiri pë (espíritos-auxiliares dos xamãs) convergem nos ciclos infinitos de aterramentos e encantamentos.
O trabalho de Joseca Mokahesi Yanomami é enraizado na cultura de seu povo, refletindo a natureza, os seres e elementos místicos que habitam a terra-floresta yanomami. Seu desenho, sensível e cheio de nuances, sintetiza o cotidiano da comunidade, a fauna e a flora, as sessões xamânicas, e as histórias transmitidas pelos anciãos, que o artista grava na memória para depois retratar. Há, também, uma dimensão onírica em sua obra, de modo que os sonhos servem como um espaço de estudo e reflexão, abrindo fluxos de imagens que depois vão para o papel. Sua prática é marcada por traços estilizados, grandes campos de cor e marcações de detalhes com pontilhismo e repetições de padrões. Por meio dessa síntese pictórica, emergem cenários, figuras e atividades que testemunham a pluralidade da floresta, o brilho inefável dos cursos de água e a convivência entre diferentes seres, tanto os visíveis e materiais quanto aqueles que habitam planos tangíveis apenas para os xamãs. Desse modo, expressam a rica cosmologia yanomami e seu entendimento sobre a criação e manutenção do mundo. Intituladas de forma amplamente descritiva, suas obras não apenas preservam uma memória essencial, mas também se posicionam como instrumentos de luta contra as opressões estruturais e as atividades extrativistas que ameaçam a floresta e a própria existência do povo Yanomami. Ao transliterar para o desenho essas narrativas, o artista afirma a resistência de seu povo, celebrando o modo de vida indígena diante das crescentes ameaças externas.
Joseca Mokahesi Yanomami apresenta dez obras inéditas no 38o Panorama, dispostas num círculo, como se flutuassem no espaço. Em composições aquecidas, o artista reafirma seu estilo singular, mas também expande a profundidade do seu trabalho com soluções visuais mais cheias e carregadas. Esses desenhos retratam animais e plantas em suas capacidades espirituais e funções materiais, as atividades xamânicas e os portais entre os planos. Com seu característico balanço entre a complexidade dos temas e a leveza da abordagem, o artista discorre, com uma rara habilidade, sobre as intrincadas implicações ecológicas que formam o planeta. Uma dessas obras, realizada especialmente para o Panorama — em diálogo com suas provocações conceituais —, conta o mito da origem do fogo, revelando como uma descoberta e uma grande articulação coletiva, envolvendo chiste e piruetas entre diversos seres, tornou possível capturar esse elemento transformador para as condições vitais.

ehepë rɨpɨ hiraaha taaheha weyaa purunë, hiya, pata, moko, thua pata, thëpë pihi kuaheha
weyarɨnë. Wãarõhõ mahi thëpë kõkãmuu xoaoma, nikere mahi thëpë wakëmamuu xoakema.
Nikere thëpë nëhë ikaha thapramoraẽma, Iyoa a yai ikamaɨ pihio yarohe. Ɨhɨ thëhë thëpë ha
ruraprarɨnë thëpë praɨaɨ xoaoma, makii, Iyoa a yai ikãmanimi kama thuë hrãemeri enë, Iyoa
anë ikãmapimiha, praɨa timapë pihi yai hõriproma makii, hiõmõra moxinë a yai ikãmãrẽma,
a praɨaɨ thëhë xi keyuu yaro. Ɨhɨ thëhë a kohipë ikãrãema yaro, wakë a hoprarema, wakë
hopraɨ thëhë, komi thëpënë wakë toama makihi, wakë yai tikiremahe huxonë, ɨhɨ thëhë,
huutihi mathaha wakë araa tirekemahe, kuë yaro thuëpë hrãemeri enë wakë hikẽama makii,
wakë hikepranimi. Ɨhɨ thëhë, wakë a kua xoaprarioma, ɨnaha pata thëpënë wakë a thaa
thapraremahe., 2024, grafite, lápis de cor, tinta de caneta esferográfica e tinta de caneta hidrográfica sobre papel [graphite, colored pencil, ballpoint pen, and felt-tip pen on paper], 50 x 65 cm. Coleção do artista
[Artist’s collection].
Tradução em português: Antigamente nossos antepassados comiam carne crua. Apesar de comerem crua, depois, com o tempo, dois jovens viram cabeças de lagartas caxa cozidas quando a maloca estava vazia. Então jovem, velho, moça, mulher idosa, as pessoas ficaram pensando [sobre aquilo] até tarde. E assim, muitas
pessoas se reuniram, juntas se pintaram com tinta de urucum de forma que ficassem engraçadas, já que queriam fazer o Jacaré rir [para conseguirem roubar o fogo que o Jacaré escondia dentro de sua boca]. E assim, ao terminarem, as pessoas continuaram a dançar, mas o Jacaré não riu de forma alguma. Sua esposa, a rã Hrãemeri (Otophryne robusta) não deixou que o Jacaré desse risadas, as pessoas que dançavam estavam passando dificuldades ali, porém o pássaro Hiõmõra Moxi fez o Jacaré rir ao defecar durante sua dança de apresentação. Dessa forma, como o Jacaré riu com entusiasmo, deixou o fogo escapar [de sua boca] e todas as pessoas se apossaram do fogo. Então [o pássaro] pegou o fogo com seu bico e assim colocou o fogo no alto do tronco da árvore. A esposa do Jacaré, a rã Hrãemeri, tentou apagar o fogo com sua urina, mas o fogo não apagou. Dessa forma o fogo existe até os dias de hoje, foi assim que nossos antepassados fizeram com o fogo.

kii, xapiri pë iaiwii hwei Pararahi, Pararahi mao tehe xapiripë ohirayu. Xapiri pë xironë hwei
Parara u koaɨhe, tixori pënë u hore koaɨhe. Xapiripënë hwei Parara a waiha wahenë, xawara a
wai xëɨhe, a wai xepraɨhe xapiripënë.Hwei Parara a waiha, xapiri pëkãe wai huu. Në wãri napë
kãe huuhe, ɨnaha hwei Parara a waiha xapiri pë kiaɨha pë kuaɨ. Kuë yaro hwei Pararayomapë
thëëpë kua., 2024, grafite, lápis de cor, tinta de caneta esferográfica e tinta de caneta hidrográfica sobre papel
[graphite, colored pencil, ballpoint pen, and felt-tip pen on paper], 50 x 65 cm. Coleção do artista [Artist’s
collection].
Tradução em português: Quando os xamãs inalam parara, descem as filhas de Pararayoma, o espírito do pó parara. Os xapiri se alimentam desta árvore Parara hi (Anadenanthera peregrina), e caso não tenha Parara hi, eles passam fome. Apenas os xapiri bebem este mingau de parara e Tixori, os espíritos dos beija-flores, bebem o néctar de suas flores. Quando os xapiri se alimentam da parara, combatem as doenças graves, e acabam com sua potência maléfica. É através da potência da parara que os xapiri saem para se vingar dos seres maléficos në wãri. É assim que os xapiri agem, através da potência da parara, por isso existem estas filhas de Pararayoma.
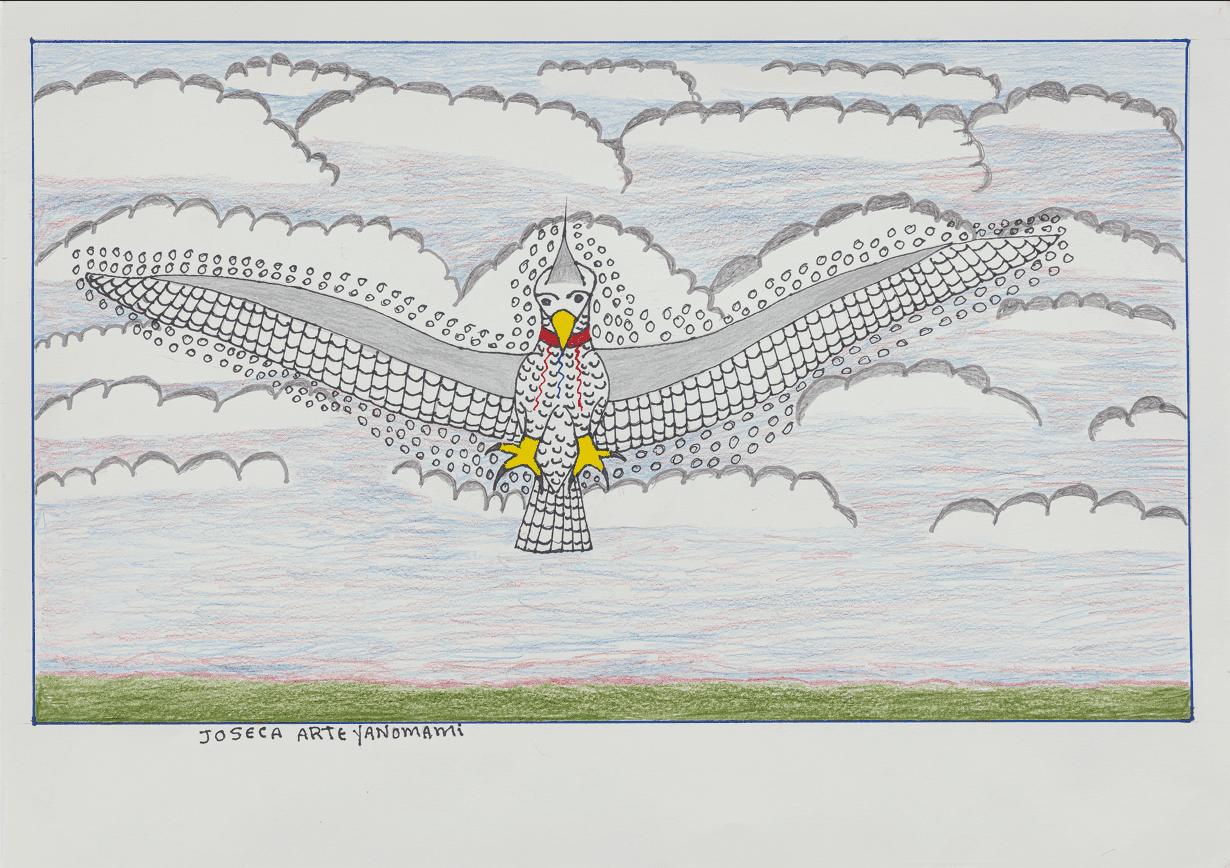
hamë, napë pë hamë, ai yaropë waithiriowi hamë, hwei Koimari pë nohimai. Kuë yaro, okapë
xëprari, tɨhɨ a xëprari, ai xapiri pë kãe xeprari, yanomae yamakɨ xëprari, oxe tëpë yai xëɨxi wãripru.
Hwei Koimari aka kii, a yai hõximi mahi. Makii, a pree totihi, ai thë xapirinë ihiru a teimakihi, hwei
Koimari anë a hukëri, ɨhɨ tëhë, ihiru a haromari. Hwei Koimari a hoximi makii, a pree totihi he
ruamatima thëha.,2022, lápis e caneta hidrocor sobre papel [pencil and felt-tip pen on paper], 30 x 42 cm. Coleção [Collection of] Mônica e [and] Fábio Ulhoa Coelho.
Tradução em português: Dia 25.04.2022, eu fiz este desenho de Koimari, o espirito maléfico do gavião. Este ser Koimari gosta de nós Yanomami, dos brancos e dos animais ferozes. Por isso ele mata os feiticeiros inimigos, mata onça e outros espíritos xapiri, também mata os Yanomami e mata sem parar as crianças. Este Koimari, o espírito do gavião, é muito mau. Mas, por outro lado, também é bom, pois quando outro xapiri leva embora [a imagem vital] de nossos filhos, este ser Koimari a resgata de volta, fazendo com que a criança fique curada. Koimari é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, já que é protetor.

thëpënë, yanomae hiya thëpë ũũxiha auha thapra henë, xapiripë kõaɨ piyëkuuha xoao henë,
hiya thëpë xapiripramaɨhe. Xapiripë praɨpraa pëha ɨnaha thë kuë. Ai thë xami praa ahetema
poimihe, yanomaẽ yamakɨ riã riëri hoximi peximaimihe, kõomi xapiri pënë thë peximaimihe.
Kuë yaro hwei kama xapiripë puru upë katia, rëa kamapë kopraaɨ kuapë hamë, ai xapiri a
kõimaɨ, a koimaɨ yaro a wakaraxi axi xereroimaɨ, urihi a taamu hõromae, urihi a araxinapë,
kamapë pãri napë seisipë, wĩsã wisãmasipë, nahikɨ pata taamuu yãɨkano totihi., 2024, grafite,lápis de cor, tinta de caneta esferográfica e tinta de caneta hidrográfica sobre papel [graphite, colored pencil, ballpoint pen, and felt-tip pen on paper], 50 x 65 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]
Tradução em português: Esta é a casa dos xapiri, o lugar onde nós, Yanomami, aprendemos. Assim que os xamãs mais experientes fazem a limpeza do interior dos jovens [iniciados], eles buscam os xapiri que estão espalhados em vários lugares e assim fazem os jovens se tornarem xamãs. No lugar onde os xapiri chegam
dançando, é assim: nada que estiver sujo pode se aproximar, eles não querem o mal cheiro que nós, seres humanos, exalamos. Nenhum xapiri gosta disso. Então os xapiri penduram sua flauta de bambu quando chegam em seu lugar. Outro xapiri chega, e ao chegar ele faz reluzir um brilho amarelo. A floresta está repleta de penas brancas de gavião real salpicadas, tem braçadeiras feitas com caudas de araras, seus espelhos são enfeitados com penas dos pássaros saíra azul e dos pássaros dos wĩsã wisãmasi, a casa tem belas pinturas com traços em zigue zague.
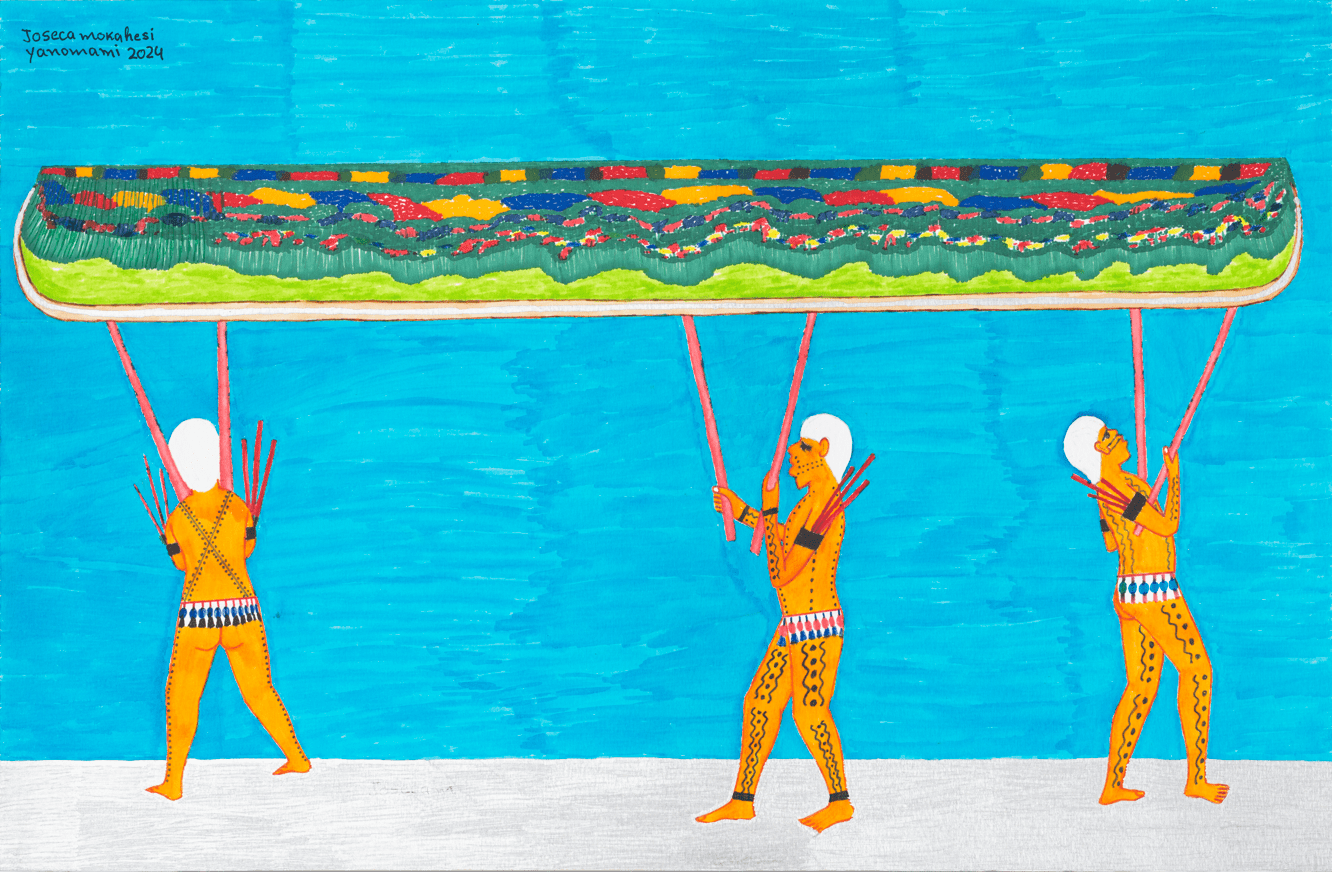
mahima makii, xapiri pënë mosi hutea praimihe. Ai xapiri pë yai kohi mahiowiinë, hutumosi
huëmaɨhe, paxori pënë, totori a thari pënë, kuumori pënë, ai thëpë waro kua xoaa. Xapiri pënë
humosi huërii hëtë, mosi yanɨkɨa xoaki. Ɨnaha xapiri pënë thë thaɨ he., 2024, grafite, lápis de cor, tinta
de caneta esferográfica e tinta de caneta hidrográfica sobre papel [graphite, colored pencil, ballpoint pen, and felt-tip pen on paper], 30 x 50 cm. Coleção [Collection of] Bruce Albert.
Tradução em português: Quando o céu racha, os xapiri o seguram, assim agem os xapiri. Apesar do céu ser muito pesado, não pesa para os xapiri. Alguns xapiri, por serem muito fortes, seguram o céu: Paxori, os espíritos dos macacos aranha, Totori a thari, os espíritos dos jabutis, Kuumori, os espíritos dos macacos da noite e ainda vários outros seres. Quando os xapiri seguram o céu, o céu se acalma. É assim que fazem os xapiri.
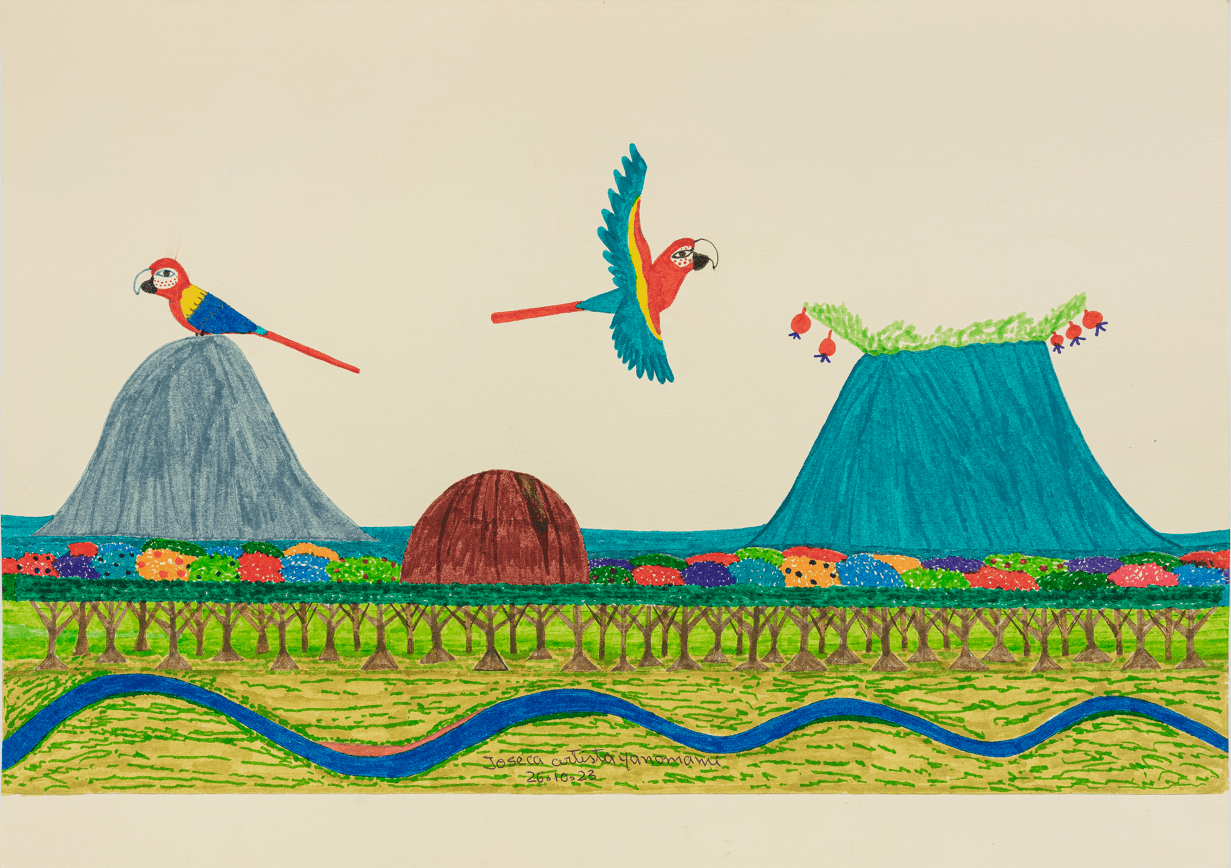
kama xapiripë urihi, kõomi ɨhamë pë parinapë yariki, kõomi kamapë rotipapë yariki, pë
urihipëriã pata rierinë kirihi., 2023, grafite, lápis de cor, tinta de caneta esferográfica e tinta de caneta
hidrográfica sobre papel [graphite, colored pencil, ballpoint pen, and felt-tip pen on paper], 29,7 x 42 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]
Tradução em português: Estas casas dos xapiri somente ficam juntas perto umas das outras e estão espalhadas por todos os lados. Todas estas pedras são moradas dos xapiri, nessa terra deles, por todos os lugares, caem espalhadas abelhas parina, elas caem em todas suas clareiras, por isso suas terras são muito perfumadas.

mori taari, Ãyõkõrari pënë ware napo kãe mori ithorayuu kupere. Kami yanomae yamakɨ hwei
Ãyõkõrari, pë yai totihi, xawara a wai kohipë xëpraɨ praɨ yaro he. Komi ya oxeo tehe yaroriwë
yapenë ai pë aɨ taama, Tixoriwë, Ãyõkõrãri, Ixorori, Naporeri. Ɨnaha kami ya oxeo tehe ya
kuama., 2023, grafite, lápis de cor, tinta de caneta esferográfica e tinta de caneta hidrográfica sobre papel [graphite, colored pencil, ballpoint pen, and felt-tip pen on paper], 42 x 59,4 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]
Tradução em português: Quando eu era pequeno vi uma imagem parecida com esta, vi uma vez Ãyõkõrari, o espírito do pássaro japim-xexéu. Os espíritos Ãyõkõrari desceram até mim uma vez. Este ser Ãyõkõrari é muito bom para nós Yanomami, já que consegue acabar com doenças letais. Quando eu era criança ficava alterado e conseguia enxergar os espíritos dos animais ancestrais. [Via] Tixoriwë, o espírito do beija-flor, Ãyõkõrãri, espírito do japim-xexéu, Ixorori, espírito do japim-guache, Naporeri, espírito do japu verde. Era isso o que se passava comigo quando eu era criança.
Labō & Rafaela Kennedy
Belém, PA, 1995 & Manaus, AM, 1994
Os calores que emergem das profundezas da terra irrompem como magia nas matas e nos rios, como o alento que alimenta e movimenta, dando forma, sustentando e transformando todos os corpos.
Labō e Rafaela Kennedy desenvolvem seus trabalhos em profunda conexão com os elementos naturais e culturais de suas cidades de origem, Belém e Manaus, respectivamente. As artistas tecem narrativas visuais a partir do contato íntimo com matérias orgânicas das matas e rios, do diálogo com tradições orais e das experiências em cenários urbanos eletrizantes. Suas criações conjuntas, frequentemente materializadas em fotografias, utilizam as paisagens locais como cenários para momentos de emancipação de corpos híbridos, dissidentes, não normativos e ligados a outras dimensões. Nesse sentido, suas obras contrapõem-se a noções fixas relacionadas à ecologia e à tecnologia, performances de gênero, relações interespécies e a intersecção entre a matéria da terra e o plano espiritual. Labō parte de sua ligação com a cultura amazônica e a transmissão de saberes ancestrais para empregar técnicas inventivas no manejo de materiais ribeirinhos, ressignificando manifestações terrenas em indumentárias, aparatos, esculturas e instalações de rara força visual. Rafaela, por sua vez, foca sua prática na fotografia, costurando narrativas entre o documental e o fabulado, o espontâneo e o encenado, para produzir uma visualidade carregada de emoção e sentido. As vestimentas que aparecem em seus trabalhos, confeccionadas a partir de materiais colhidos — como palhas, sementes e plantas — ou ligadas a atividades locais — como tecidos naturais e cordas — desempenham um papel crucial nesse processo criativo, transcendendo a moda para se tornarem ferramentas de novas ficções e parte essencial da narrativa visual. Nas obras da dupla, o cotidiano funde-se com o extraordinário, de modo que aspectos míticos, ora dirigidos pelas artistas, ora encontrados espontaneamente no dia a dia, ecoam em suas invenções. Por meio do enlace entre o uso de matéria orgânica, a efervescência da cena LGBTQIA+ e as influências de mitologias locais, a dupla cria imagens com alta carga visual, imbuídas não só de forças telúricas, mas também de magia e mistério, discutindo como nos transformamos para expressar nossas subjetividades.
Para o 38º Panorama, Labō e Rafaela Kennedy apresentam uma série de fotografias que mergulham no entrelaçamento entre fenômenos naturais e cenários urbanos do Norte do Brasil. As imagens, povoadas por figuras extraordinárias com armaduras naturais que reconfiguram o corpo, criam narrativas visuais que sublinham a capacidade de transmutação da vida no planeta e sua relação intrínseca com seres de outras dimensões. Nesse caldo imagético quente, o que é mais material revela o intangível, assim como o que é mais antigo junta-se às transformações vertiginosas da condição contemporânea. Nesse sentido, essas imagens-talismãs invocam forças de outros tempos e dimensões para repensar nosso lugar no agora e projetar possíveis futuros.

Laís Amaral
São Gonçalo, RJ, 1993
A imagem fragmentada revela-se por meio de sensações e sentidos traduzidos em texturas e nuances, flertando com uma paisagem tanto mineral quanto imaginada. Rochas sobrepostas refletem a sedimentação das memórias, os movimentos no desfiladeiro geológico do sensível e as frestas pelas quais ressoam os ecos de mistérios longínquos.
A pintura de Laís Amaral é marcada pela justaposição, criando uma amálgama de campos de cor, manchas, linhas e texturas que transcende a figuração. A artista opera num sistema, ao mesmo tempo, arbitrário e permeável à imaginação de quem vê, cujas composições irradiam a potência espiritual da experimentação pictórica. Suas pinceladas produzem fendas dilacerantes que atravessam diferentes níveis e encontros eletrizantes entre tons e traços — muitas vezes, por meio de rupturas e contrastes. O resultado são paisagens fracionadas e ampliadas, em que massas e partículas parecem sedimentar-se em um fluxo contínuo de energia. A presença de horizontes implícitos, contrabalançada pela verticalidade das pinceladas e a inserção de informações pontuais, confere dinâmica e uma sensibilidade própria ao seu trabalho. A morfologia que emerge daí traduz sentimentos e intenções em campos abstratos que remetem às topografias e às agências dos elementos, revelando as camadas infinitas do solo e do sujeito.
Laís Amaral participa do 38º Panorama com duas pinturas da série “Como um zumbido estrelar, um pássaro no fundo do ouvido”, Sem título I e Sem título II, ambas de 2024. Essas paisagens feitas com acrílica sobre linho apresentam uma série de encaixes e sobreposições de formas e texturas, num balanço dinâmico, cheio de detalhes intrincados. As superfícies quase táteis, que parecem recortes de campos visuais maiores, dão a ver correntes energéticas em ação, remetendo a diferentes temporalidades e espécies de movimento.
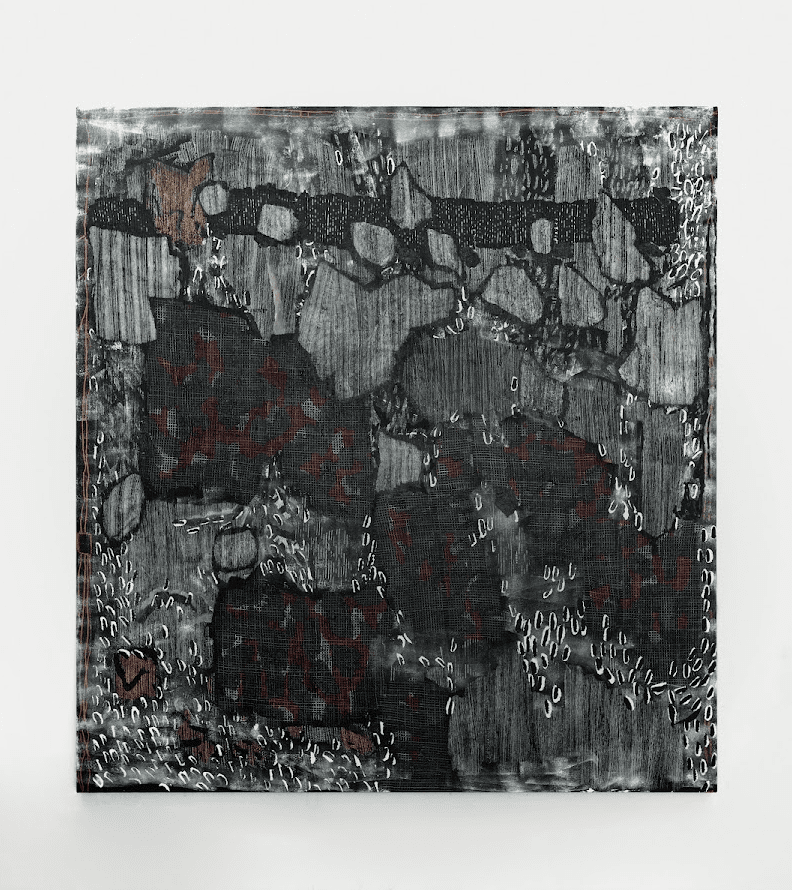
Like a Starry Buzz, a Bird in the Bottom of the Ear], 2024, acrílica sobre linho [acrylic on linen], 160 x 150 cm.
Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] Mendes Wood DM.
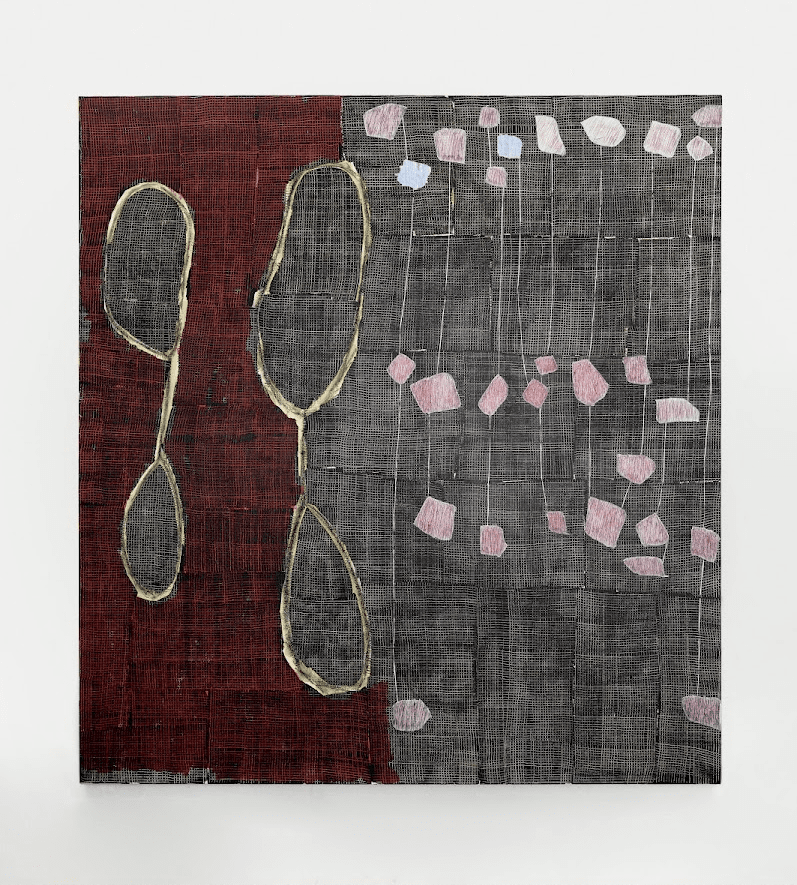
Like a Starry Buzz, a Bird in the Bottom of the Ear], 2024, acrílica sobre linho [acrylic on linen], 160 x 150 cm.
Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] Mendes Wood DM.
Lucas Arruda
São Paulo, SP, 1983
A difusão de luz dá vazão à energia intangível que arquiteta as fundações do mundo. Os movimentos da claridade riscam um horizonte movediço, do qual emergem sensações e estados mentais que sublinham a natureza indefinida e transitória da vida.
A obra de Lucas Arruda é um exercício contínuo sobre as experiências em torno da paisagem, de maneira que investiga as qualidades formais de certas visões terrenas e suas ligações com exercícios mentais e estados de espírito. No entanto, suas pinturas não são representações de lugares do mundo que possamos localizar no mapa. Em suas mãos, o tema da paisagem, tão antigo quanto a história da arte, é transformado em fantasmagoria, como modo de refletir sobre o fato de que enxergamos pela mediação da luz, e de instigar nossas faculdades oculares e extrassensíveis. Nevoeiros, inícios e fins de dia, cenas marítimas, matas em movimento e campos cromáticos abstratos são temas recorrentes nas suas obras, revelados sempre com uma profundidade dinâmica. A suspensão temporal e o aspecto efêmero e impreciso desses cenários ajudam a compreender o paradoxo existencial entre a nostalgia melancólica e a vontade de revelação. Em comum, suas pinturas trazem uma densidade energética, uma alta carga atmosférica e um encanto magnético que abocanha e submerge o espectador num episódio delirante e esfumado, evidenciando as relações intrincadas entre o que se vê e o que se sente.
A participação do artista no 38º Panorama inclui sete pinturas, numa constelação que oferece uma visão panorâmica mas também injeta novo vigor em sua obra. Apresentados numa espécie de ermida, os trabalhos convidam o visitante a acessar seus mistérios interiores por meio da contemplação ativa. No lado de fora desse recanto, duas matas tropicais agitadas guardam as entradas do lugar. Seu segredo é simbolizado por uma imagem de alta densidade entre as florestas, construída entre a paisagem de um horizonte, o fenômeno astronômico e a experiência espiritual. No interior, a natureza mística do espaço é sublinhada uma pintura vertical de grande formato — algo visto apenas uma vez em sua produção — que toma o centro com uma composição de figuração mínima e amplos campos de cor, trazendo em seu núcleo um astro flamejante rodeado por fenômenos meteorológicos, estruturas arquitetônicas e elementos simbólicos. Em uma das laterais, uma grande pintura monocromática convida ao mergulho num verde profundo, como um sorvedouro por onde correm sensações e sentidos. Na outra, uma dupla de pinturas reformulam paisagens a partir de uma abordagem metafísica, combinando questões matéricas com abstrações. Como conjunto, dizem respeito a um calor primordial, cuja ativação pode iniciar processos de transformações físicas e subjetivas.

185 x 140 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]

30 x 30 cm. Coleção particular [Private collection]

30 x 37 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]

24 x 30 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]

24 x 30 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]
Marcus Deusdedit
Belo Horizonte, MG, 1997
A tensão entre forças objetuais e fantasmáticas desencadeia a reestruturação de espaços. Deslocamentos, cruzamentos e justaposições febris que sacodem o olhar, abrindo fendas nas estruturas que sustentam regimes de visibilidade, imaginação e poder.
A pesquisa de Marcus Deusdedit utiliza o remix como ferramenta de imaginação radical para propor reconfigurações e deslocamentos de códigos conhecidos. O artista processa informações de fontes diversas — como arquivos pessoais, elementos do consumo de massa e imagens da internet — para infundir os campos da arquitetura e do design com o pensamento e a estética oriundos de contextos periféricos, abordando o entrelaçamento entre raça e os limites arbitrários entre valorações culturais. Por meio da justaposição de imagens e materialidades de naturezas diversas, e da recontextualização de signos e objetos, o artista cria fricções no tecido estético que compõe o imaginário social. Suas colagens, objetos, vídeos e instalações multimídias ligam os fios entre os campos da estética, política e funcionalidade, refletindo sobre como as imagens e objetos que produzimos moldam nossa percepção do mundo e afirmam ou apagam subjetividades. Em seu trabalho, objetos comuns podem se converter em instrumentos para discussões históricas e metafísicas, ícones modernistas podem ser infundidos por dinâmicas da cultura de massa, e memórias pessoais e familiares podem ensejar sonoridades e espaços de submersão. Seu trabalho questiona as dinâmicas de poder e de visibilidade na era da superinformação, em que as culturas periféricas começam a ocupar um papel essencial na formação do núcleo cultural brasileiro, apesar da manutenção das desigualdades estruturais. Nesse sentido, os trabalhos de Marcus Deusdedit sublinham, por meio de dribles conceituais e acoplamentos materiais, o contraste entre a fluidez das ideias e a rigidez das estruturas, propondo uma reflexão crítica sobre a formação do tecido sensível da sociedade contemporânea.
Para o 38º Panorama, Marcus Deusdedit apresenta uma obra comissionada que desdobra sua investigação sobre a edição de objetos, reformulando um equipamento de exercício físico para discutir questões sociais e políticas. Essa estação de musculação reconfigurada é posta em diálogo com um vídeo no qual enxergamos uma figura humana digital e idealizada, criando um paralelo entre a arquitetura brutalista — com seu uso de volume e massa para projetar imagens de poder — e processos de hipertrofia muscular. Nesse sentido, a obra questiona a performatividade demandada do corpo negro em detrimento da possibilidade do exercício de um pensamento abstrato, sublinhando a tensão sistêmica entre esses pontos no balanço complexo entre as cargas e polias.

installation], 210 x 120 x 170 cm. Coleção do artista [Artist’s collection] estudo da obra [study of the work]
Maria Lira Marques
Araçuaí, MG, 1945
As formas de vida espalham-se pelo mundo manifestando seus calores, esticando seus membros e inventando seus contornos. Bichos e signos sem nome correm carregando a substância e os sentidos dos três reinos, como testemunhos vivos da força que faz a terra.
As obras de Maria Lira Marques celebram os movimentos da natureza e seus eternos ciclos de transfiguração. Com cerca de cinco décadas de produção, a artista utiliza cerâmica e desenhos feitos com pigmentos naturais sobre papel e pedras para retratar intensos fenômenos naturais e firmar uma rica simbologia. Paisagens minerais, cenas da fauna e da flora, seres elementais e hibridismos diversos se conectam no tempo da criação vital, dando a ver o movimento incessante da vida em expansão e eterna transformação. Desse modo, ela traduz o mistério que nos cerca e nos constitui por meio de uma combinação rara entre elegância, humor e precisão. Sua relação profunda com o Vale do Jequitinhonha — onde nasceu, cresceu e vive até hoje — se reflete na construção de um vocabulário tão amplo quanto coeso, tão simples quanto complexo, e que levanta questões ecológicas e estéticas desde o sertão do Brasil. O calor intenso da região manifesta-se nas cores vibrantes e nos gestos de suas figuras, evidenciando o momento crucial em que as coisas se transmutam em resposta às demandas da vida. Nesse sentido, a artista costura ecos e presenças de sítios arqueológicos, culturas indígenas, comunidades quilombolas e ocupações sucessivas desse território. Entre a revelação espontânea da matéria e a afirmação de sua identidade negra e indígena, seu trabalho também é informado por questões históricas, e sintetiza a resistência e a luta dos povos historicamente oprimidos. Por meio de suas peças, a artista celebra a força e a resiliência das matrizes culturais de sua formação, refletindo sobre o apagamento enfrentado por certas comunidades e reafirmando suas raízes como fonte de inspiração e poder criativo.
No 38º Panorama, Maria Lira Marques apresenta uma série com mais de dez desenhos sobre pedras. Cada peça é marcada por figuras feitas com tons ocres, marrons e amarelos, dando a ver uma ecologia expressiva de plantas e bichos em suas relações entre si e com o meio. É como se os resquícios do calor da terra tivessem impregnado a superfície desses fragmentos minerais, convertendo-os em testemunhos imemoriais sobre os mecanismos pelos quais a vida incorpora e se desenvolve no mundo.

Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] Gomide&Co

Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] Gomide&Co
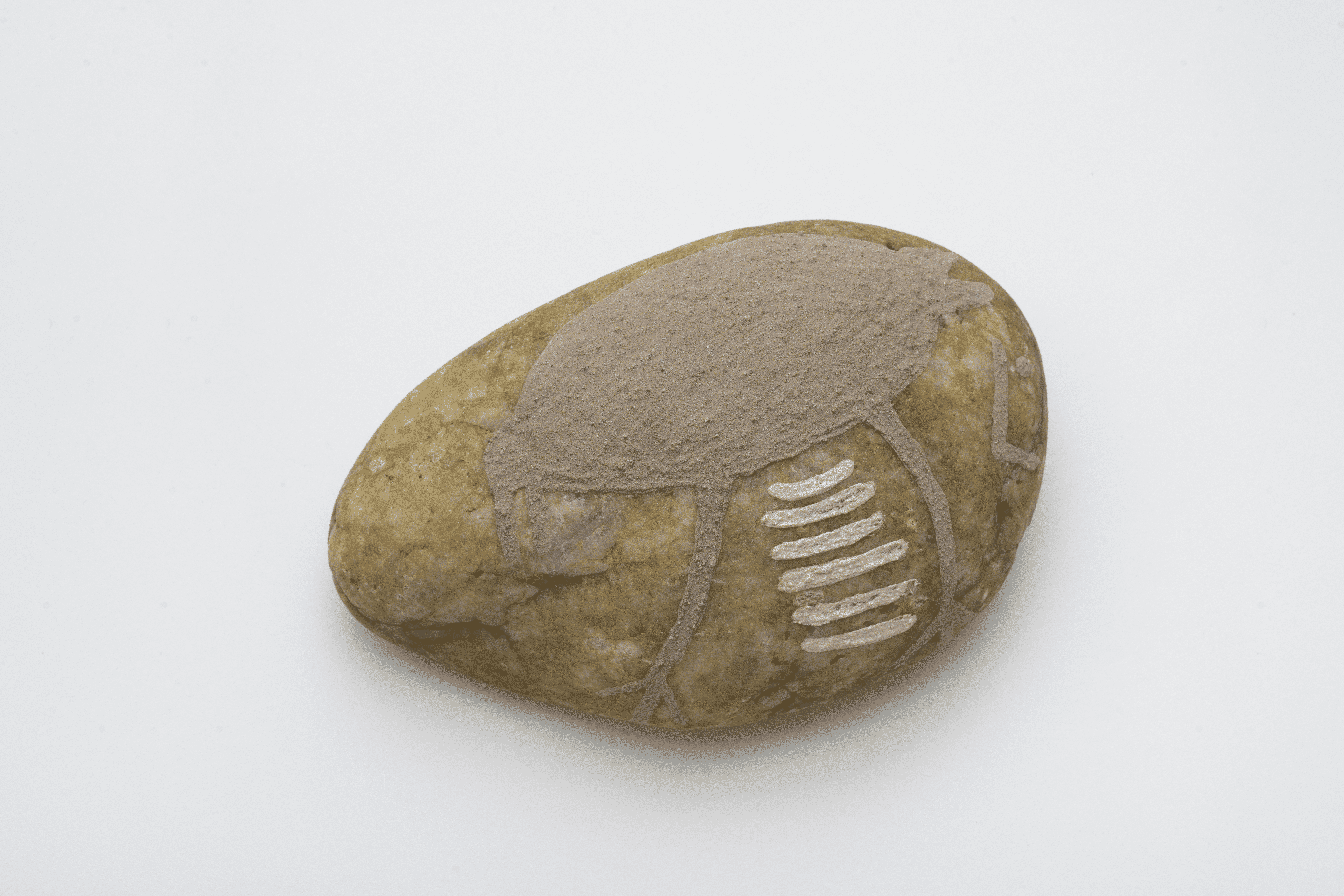
Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] Gomide&Co

Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] Gomide&Co

Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] Gomide&Co

da artista e [Courtesy of the artist and] Gomide&Co

da artista e [Courtesy of the artist and] Gomide&Co
imagens de referência (obras não apresentadas na exposição) [reference images (works not shown in
the exhibition)]
Marina Woisky
São Paulo, SP, 1996
Os bichos brilham, desfilando sua natureza indefinida, como testemunhos vivos das metamorfoses planetárias. Sejam animais ou pedras, em estado líquido ou sólido, tudo se dissolve e se recompõe, numa confusão amórfica entre as coisas e suas representações, entre fundo e superfície, entre o mundo e seus signos.
O trabalho de Marina Woisky nasce do interesse pelo magnetismo de certas imagens e pelos fenômenos de reprodução visual sob o fluxo massivo e sempre crescente de informação. Influenciada por técnicas de transferência rápida de imagem e por fundamentos do barroco mineiro, suas obras dão vida a imagens-objetos cujas formas ambíguas e conteúdo indefinido intrigam o observador como enigmas insolúveis. Cavalos, cachorros, conchas, flores, feras místicas, colunas e outros ornamentos arquitetônicos emergem reconfigurados por um processo radical de manipulação imagética. No espaço transitório entre o bidimensional e o tridimensional, sua prática articula pesquisa, edição e impressão de fotos, costura de tecidos, preenchimento com cimento e concreto, e finalização com resina. Ao trabalhar com imagens retiradas de suas fotografias ou da internet, de livros e de revistas, a artista reinterpreta motivos universais, ícones da história da arte ou elementos cotidianos. Essas imagens, imbuídas de simbolismo, são combinadas com a complexidade material da corporificação escultórica, passando a habitar uma fenda entre o familiar e o estranho. Surgem, então, soluções visuais inusitadas, com uma alta carga dramática, que jogam com as escalas e borram a linha entre o plano e o relevo, o duro e o mole, o seco e o molhado. No repertório singular criado por Marina Woisky, é impossível falar em categorias. Permeada por seres amorfos, figuras mais ou menos reconhecíveis e corpos que parecem alienígenas, a ecologia esquisita criada pela artista provoca os sentidos e desloca o olhar, pronunciando a magia das imagens que estão sempre em transformação.
No 38º Panorama, Marina Woisky apresenta uma instalação formada por uma série de peças inéditas, realizadas para a exposição. A artista toma como ponto de partida as ilustrações científicas e representações idealizadas, que combinam diferentes eras e regiões para demonstrar o movimento ou a evolução da vida biológica na superfície terrestre. As esculturas exploram diferentes formas, cores e texturas, e são dispostas como se habitassem uma paisagem ideal, capaz de sintetizar as morfologias de um longo e indeterminado período biológico. Os corpos desse conjunto, formado por répteis, aves, equinos, ornamentos e o que mais não se pode identificar, se misturam num ecossistema vibrante, sublinhando o mistério da transfiguração contínua que injeta vida no planeta.

sobre tecido e argamassa [print on fabric and mortar], 81 x 40 x 55 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]

impressão sobre tecido, concreto e resina [print on fabric, concrete, and resin], 81 x 40 x 55 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]

impressão sobre tecido, pelúcia tingida, cimento e resina [print on fabric, dyed plush, cement, and resin],
3 x 124 x 33 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]

pelúcia tingida, cimento e resina [print on fabric, dyed plush, cement, and resin], 3 x 137 x 31 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]

pelúcia tingida, cimento e resina [print on fabric, dyed plush, cement, and resin], 2 x 127 x 51 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]

impressão sobre tecido, pelúcia tingida, cimento e resina [print on fabric, dyed plush, cement, and resin],
2 x 127 x 35 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]
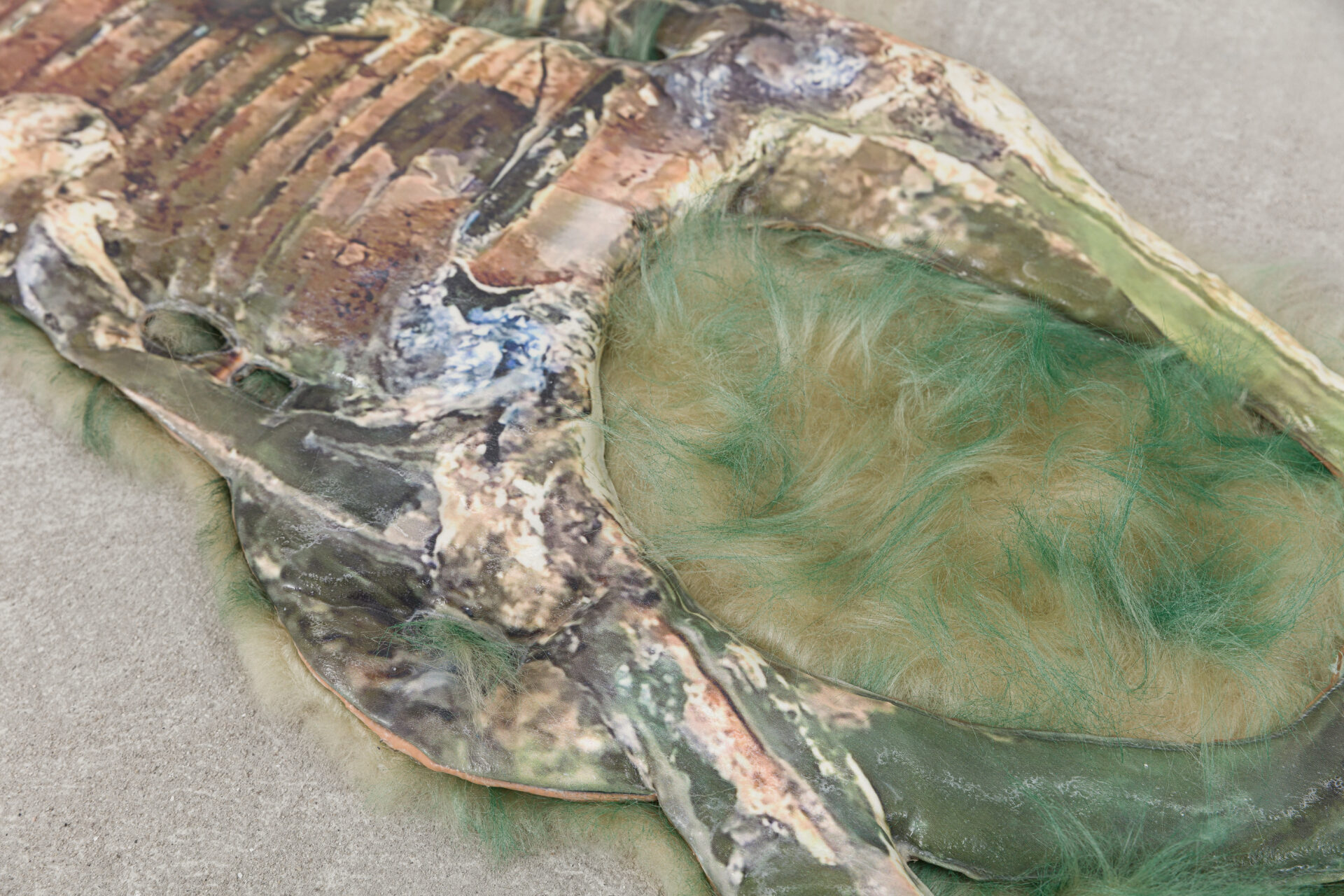
componentes da instalação apresentada na exposição [components of the installation shown in the exhibition]
Marlene Almeida
Bananeiras, PB, 1942
As cores refletidas na rocha guardam em si a energia do centro da Terra. Suas histórias se contam em camadas e texturas que impregnam os poros de todos os cantos. Grãos e pedras revelam suas caminhadas, seus atritos, seus deslizes e erosões, entre o céu e o chão, sob sóis e chuvas, nos incontáveis ciclos de uma jornada infinita.
Marlene Almeida começou seu trabalho há mais de cinquenta anos, instigada pela vibração cromática das barreiras litorâneas da Paraíba. Para a artista, é na pesquisa de campo que a obra de arte primeiro acontece: no encontro de cores, texturas e cheiros de cada solo. Sua prática envolve um trabalho meticuloso e interdisciplinar a partir de expedições artístico-científicas ao redor do Brasil e do mundo. Durante as viagens, ela absorve saberes e coleta amostras da Terra, que depois cataloga, processa e transforma em base para suas obras. Em seu ateliê-laboratório, fragmentos de rochas e argilas cuidadosamente separados em frascos formam um imenso arquivo que guarda a memória molecular do chão de onde vieram. Entre a ciência, a alquimia e a poesia, é ali que a artista transmuta em matéria-prima e metáfora resíduos de falésias, vales, planícies, morros, estradas e cavernas. Ao usar procedimentos comuns aos campos da química, da geologia e da arqueologia, seu processo articula investigações sobre a estabilidade, durabilidade e outras características de cada solo, com reflexões filosóficas sobre a ancestralidade telúrica e a sedimentação policromada de suas entranhas. Por meio de experimentos com os espectros e as nuances de pigmentos naturais de cada local, a artista reelabora as essências da crosta terrestre. Entre o estado sólido e aquoso, suas pinturas, esculturas e instalações sintetizam e reimaginam a experiência do planeta, propondo imersões entre tons terrosos que, a um só tempo, afirmam a memória e conjuram novos sentidos para os lugares por onde a artista passou.
Para o 38º Panorama, Marlene Almeida apresenta duas obras com dinâmicas distintas. Derrame (2024) é uma instalação inédita feita com recortes de algodão cru tingidos com pigmentos originários do basalto, rocha vulcânica que, ao se decompor, produz argilas das quais se extraem tinturas. Impregnados com tons de terracota, ocre, marrom e cinza, os tecidos trazem alta densidade energética, encarnando a temperatura da terra e a história das diversas localidades em que foram coletados.¹ A artista encadeia os pedaços para formar uma montanha que serpenteia o espaço, remetendo ao animismo das rochas em contínua transformação. Na outra obra, Tempo voraz II (2012), Marlene Almeida comenta sobre questões existenciais diante da fugacidade da vida. A artista reinterpreta o uso milenar de ampulhetas como artifício humano para medir o tempo e conferir-lhe materialidade por meio da areia que escorre dentro de cápsulas de vidro. O trabalho, que está ligado a uma série iniciada entre 1999 e 2000, é composto por cinco sacos de algodão cru preenchidos com terras de diferentes lugares do Nordeste brasileiro e tingidos, na metade de baixo, com pigmentos de terras escuras. A imagem que se cria é de uma oposição entre claro e escuro, positivo e negativo, calor e frio, vazio e preenchido. Nestas ampulhetas em que ambos os lados estão fechados, a areia imobilizada é uma manifestação do desejo de parar o tempo. No entanto, o contraste que enxergamos parece inevitavelmente vivo, tal qual a voracidade do tempo, que tudo permite e tudo consome, que tudo cria e tudo destrói.
¹Localidades incluem: o Pico Cabugi, em Angicos, e Cerro Corá, ambos no Rio Grande do Norte; o Saco do Inferninho, em Picuí, e as almofadas de lavas basálticas na região do Cariri e Ceridó, na Paraíba; e em Ipojuca, Pernambuco.

algodão cru, preenchidos com terras de regiões no Nordeste brasileiro [natural mineral pigments on unbleached
cotton fabric tubes, filled with soil from regions in the Brazilian Northeast], 190 x 24 x 4,50 cm. Coleção da
artista [Artist’s collection]

de basalto de regiões no Nordeste brasileiro sobre lona crua, em superfícies rígidas [mineral pigments,
especially from weathered basalt and basalt samples from the Brazilian Northeast on raw canvas, over hard
surfaces], 280 x 900 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]
Melissa de Oliveira
Rio de Janeiro, RJ, 2000
Cortes à risca, cabelo na régua. Ronco de motores. Motos voando, garupas com multidões. Dias de baile, corpos e carícias, safadeza e malícias, alegria insubmissa, caos e invenção.
O trabalho de Melissa de Oliveira é profundamente enraizado na fotografia, mas também se expande para objetos e instalações, sempre mantendo a imagem como eixo central. Com um olhar afiado e um envolvimento total, sua prática envolve a imersão cotidiana e uma relação profunda com o que e quem retrata, transcendendo os limites entre quem vê e quem é visto. Seus temas principais são as culturas de rua periféricas em suas manifestações mais efervescentes, marcadas pela inventividade e intenção rasgante, com a energia no talo, sempre incendiária e eletrizante. Atenta às opressões históricas e aos regimes de visibilidade da sociedade contemporânea, a artista trabalha para construir imagens que afirmam a vida e a potência criativa, batendo de frente com as visões estigmatizadas e objetificantes que engessam as narrativas sobre esses territórios. Desde 2019, ela registra o cotidiano do Morro do Dendê — localizado na zona norte do Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu — jogando luz na estética, no lazer e na autoestima da juventude local, em oposição aos enredos que ligam esses espaços repetidamente à violência e à pobreza. Sua fotografia, portanto, não apenas documenta vivências, mas também serve como ferramenta de poder e visibilidade, revelando um universo complexo e diverso em que o “grau” das motocicletas e os “corte de cria” se tornam símbolos de resistência e expressão cultural. Suas fotos transbordam momentos espirituosos, trocas de afeto e, sobretudo, a força de uma diversão indomável.
Neste Panorama, Melissa de Oliveira apresenta duas obras ligadas a suas vivências no universo do “grau”. As imagens, produzidas com conhecidos e familiares, retratam a prática de empinar moto em manobras exibicionistas e arriscadas. Essa manifestação tem sido cada vez mais celebrada como expressão estética e tem mobilizado grandes acontecimentos culturais. Esses eventos, que envolvem competições e trazem camisas, bandeiras e adesivos das turmas envolvidas, são organizados com seriedade e participação massiva. Sempre intensos, transformam ruas em palcos onde habilidades acrobáticas são exibidas com músicas e atividades paralelas, fortalecendo laços comunitários e promovendo a identidade cultural local. Nas fotografias, duas cenas comuns em ensaios preparatórios retratam o fio cortante dessa cultura que entrelaça destreza, risco e excitação.

Hahnemühle Photo Rag Satin 310 gsm paper], 110 x 160 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]

photography on Hahnemühle Photo Rag Satin 310 gsm paper], 110 x 160 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]
Mestre Nado
Olinda, PE, 1945
O barro moldado ressoa os mistérios dos quatro elementos: é originado na terra, amaciado com água, consagrado no fogo e ativado pelo ar. O amuleto-instrumento de forma curva e orifícios precisos canta suas formas, vibrando a potência vital da matéria do futuro.
Mestre Nado, como ficou conhecido Aguinaldo da Silva, é um escultor-instrumentista que desenvolve peças cantantes de cerâmica. Sua arte vem da relação íntima que tem com o barro, do qual tira formas diversas e que, em contrapartida, molda a vida do artista. Ainda na infância, Mestre Nado começou modelando brinquedos com argila retirada das margens de rios na Zona da Mata pernambucana. Já adolescente, iniciou o trabalho em olarias, onde aprendeu a produzir quartinhas — como são chamados os vasos de cerâmica com tampa, que mantém seu interior fresco — e filtros de barro. Com o passar do tempo, seu talento e devoção ao ofício levaram-no a aperfeiçoar técnicas tradicionais e inventadas por ele, encontrando misturas e pontos ideais da massa de argila para modelar e suportar o forte calor do forno. Quando iniciou sua produção autoral, Mestre Nado mergulhou em suas memórias para buscar inspiração: os apitos que fazia quando criança com caules de folha de jerimum e coqueiro e a cantoria dos oleiros enquanto trabalhavam. Assim, de uma bolinha oca, nasceu a primeira Flauta Nado — sua versão da ocarina, pequeno instrumento de sopro milenar —, desabrochando um talento singular para infundir o barro com som. No manejo habilidoso da matéria, entre o molde e a queima, sua busca é por novas notas e oitavas com afinações perfeitas, fazendo emergir uma coleção de instrumentos musicais originais. Como ferramentas-ícones universais, remetem tanto à cultura material pré-colombiana quanto a artefatos de um futuro distante. Suas peças possuem diversas variações de forma e, naturalmente, de sonoridade. Há esculturas zoomórficas que aludem a baleias e tamanduás, e outras que lembram conchas e frutas. Há algumas mais simples, com formas sintéticas arredondadas, e outras intrincadas, que parecem amalgamar partes de naturezas distintas. Em comum, essas obras, que na maior parte das vezes também são feitas para ser tocadas, carregam seu estilo inconfundível, num balanço sensível entre a crueza do barro, as soluções ornamentais e a musicalidade experimental. São tanto talismãs feitos do encontro entre terra, água e fogo, quanto dispositivos que, sob a infusão do ar, cantam suas formas, propagando as mais diversas sonoridades.
No 38º Panorama, Mestre Nado apresenta três obras inéditas produzidas especialmente para a exposição. São peças de grande escala — coisa rara na sua produção — que parecem espécies de torres de sopro, remetendo a instrumentos que demandam o emprego do corpo inteiro para ser tocados, como a gaita de foles. Como esculturas, suas formas orgânicas remetem às geometrias espontâneas da natureza, sejam tubérculos ou arquiteturas animais — como as do cupim e do joão-de-barro. Imbuídas de uma vontade totêmica, as obras são construídas por meio da incorporação de diferentes pedaços que, aglomerados, constituem uma estrutura complexa e marcam uma forte presença corpórea.

argila [clay], 94 x 33 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]

argila [clay], 84 x 39 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]

argila [clay], 75 x 43 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]
MEXA
Criado em São Paulo, SP, 2015
O grito apoteótico e os gestos extraordinários decretam a transmutação como destino incontornável. O feitiço da língua provoca o estilhaço fatal, com fragmentos projetados para representar e confundir, para espalhar a memória e celebrar a imaginação. O espelho quebrado em infinitos fractais reflete o mundo como ele é, mas permite reconstruí-lo de muitos outros modos, tornando possível a reinvenção de si e do outro.
A gênese do MEXA está ligada à efervescência do Centro de São Paulo, com suas potências e mazelas. O coletivo — formado por pessoas de diferentes lugares do Brasil, majoritariamente LGBTQIA+ — tem suas raízes nas lutas por direitos humanos e, sobretudo, na transformação subjetiva e material por meio do pensamento crítico e da inventividade artística. Diante de abismos existenciais, o grupo trabalha no enlace entre as experiências radicalmente biográficas e a ebulição coletiva das ruas da cidade, tomando a autoficção e a ação performática como principais ingredientes para sua dramaturgia. Indo e vindo entre diferentes polos, os trabalhos do MEXA são marcados pela transgressão de limites e conjugação de extremos: o absurdo e o corriqueiro, a abundância e a miséria, a alegria voraz e a melancolia profunda, a violência e o afeto, a rua e o museu, a vida e a morte. Suas apresentações, hipnotizantes e arrebatadoras, combinam teatro experimental, música, dança e “palavra-falada” com contatos diretos com o público, abraçando os riscos da mistura, do improviso e das trocas espontâneas. Por meio de diferentes linguagens e estratégias, o coletivo cria situações intensas e imersivas para circular narrativas que emergem entre a dureza da realidade material e o fervor da criação explosiva.
No 38º Panorama, o MEXA apresenta a ação A última ceia (abertura) (2024), desdobramento da peça A última ceia (2024) — ainda inédita no Brasil —, após uma temporada inaugural na Europa. Na obra, um grupo que irá acabar decide encenar seu último espetáculo. Diante do anúncio fatal, a ocasião transforma-se em uma despedida, uma refeição derradeira na qual todos precisam lidar com a iminente dissolução de uma identidade compartilhada e com os efeitos que o ato terá sobre cada um. Ao longo do festim, o coletivo discute que imagem deveria inventar como seu último registro, enquanto realiza sua ceia final no espaço expositivo, junto ao público. No final da performance, toda a estrutura é desmontada, restando apenas as caixas de som, que emitirão os vestígios do jantar e a foto que o MEXA decidiu produzir como sendo sua última imagem. Nessa ficção, cujas ameaças representadas são frequentemente reais, o grupo subverte a conhecida narrativa bíblica retratada por Leonardo Da Vinci — cuja tela empresta o título à peça — para refletir sobre vida, morte, reinvenção e imortalidade. Entre o documentário e a experimentação surrealista, a obra se vale de um momento de alta pressão para abordar os muitos modos de viver e morrer à luz da importância da partilha, da função existencial de um coletivo, e das possibilidades de existir após o fim. Convidado a se servir com o MEXA nesse misto de banquete ritualístico e acerto de contas, o público é arrematado por um êxtase de emoções numa situação da qual ninguém sairá o mesmo.

sonora [performance, 120min, photography, and sound installation]. Coleção dos artistas [Artists’ collection]


Noara Quintana
Florianópolis, SC, 1986
Camadas de materiais e significados viajam entre eras e territórios, acumulando informações que justapõem-se em massas amorfas e anacrônicas. A memória da poeira cósmica e do planeta recai sobre os paradigmas da colonialidade e da modernidade. Da seringueira ao concreto, dos fósseis às naves espaciais, o sopro da história serpenteia ao nosso redor, colocando diante de nós as questões de sempre, agora renovadas sob os sinais dos novos tempos.
O trabalho de Noara Quintana está centrado nas implicações históricas e qualidades físicas de objetos relacionados com questões geopolíticas que repartem e dirigem o mundo. Por meio de instalações, esculturas, objetos e desenhos expandidos que absorvem e reformulam elementos familiares, sua obra oferece leituras críticas para o legado colonial e modernista, revelando trocas simbólicas e econômicas, formas arquitetônicas e narrativas que constituem aspectos do imaginário social contemporâneo. Nas fronteiras entre o poético e o político, a artista combina pesquisas historiográficas e práticas especulativas para pensar processos de construção e desconstrução de paisagens e territorialidades. Temas do passado e visões de futuro se entrelaçam no “tempo total” do agora, colocando-nos diante de questões urgentes e incontornáveis. Em seu trabalho, o vegetal e o animal fundem–se aos resíduos cotidianos e às tecnologias avançadas, formando complexos culturais entre a mata e a indústria, o território originário e a sociedade do capital. Por meio de uma abordagem radicalmente material — que explora texturas e soluções insólitas — e imbuída de poesia e metáfora, sua obra traz à superfície sentidos estratificados, tornando tangíveis as sedimentações de contrastes e contradições.
A artista apresenta duas obras inéditas comissionadas para o 38º Panorama. A primeira, Satélite esqueleto âmbar (2024), da série Futuro fóssil, configura uma reprodução de um objeto espacial gravitando sobre o campo expositivo. A peça, feita com alumínio, organza de seda pura, grafite, borracha de poliuretano e pigmento fosforescente, funciona como um misto de símbolo da infraestrutura humana e suporte para um desenho lançado no espaço como modo de encapsular as memórias do solo terrestre e navegá-las pelo infinito sideral. Na segunda obra, intitulada Gengiva de fogo (2024), uma grande massa rubra e disforme paira sobre nossas cabeças. Essa amálgama indizível remete a uma lava na qual se fundiram, num só corpo, sem começo ou fim, os mais diversos índices da vida matérica no planeta.
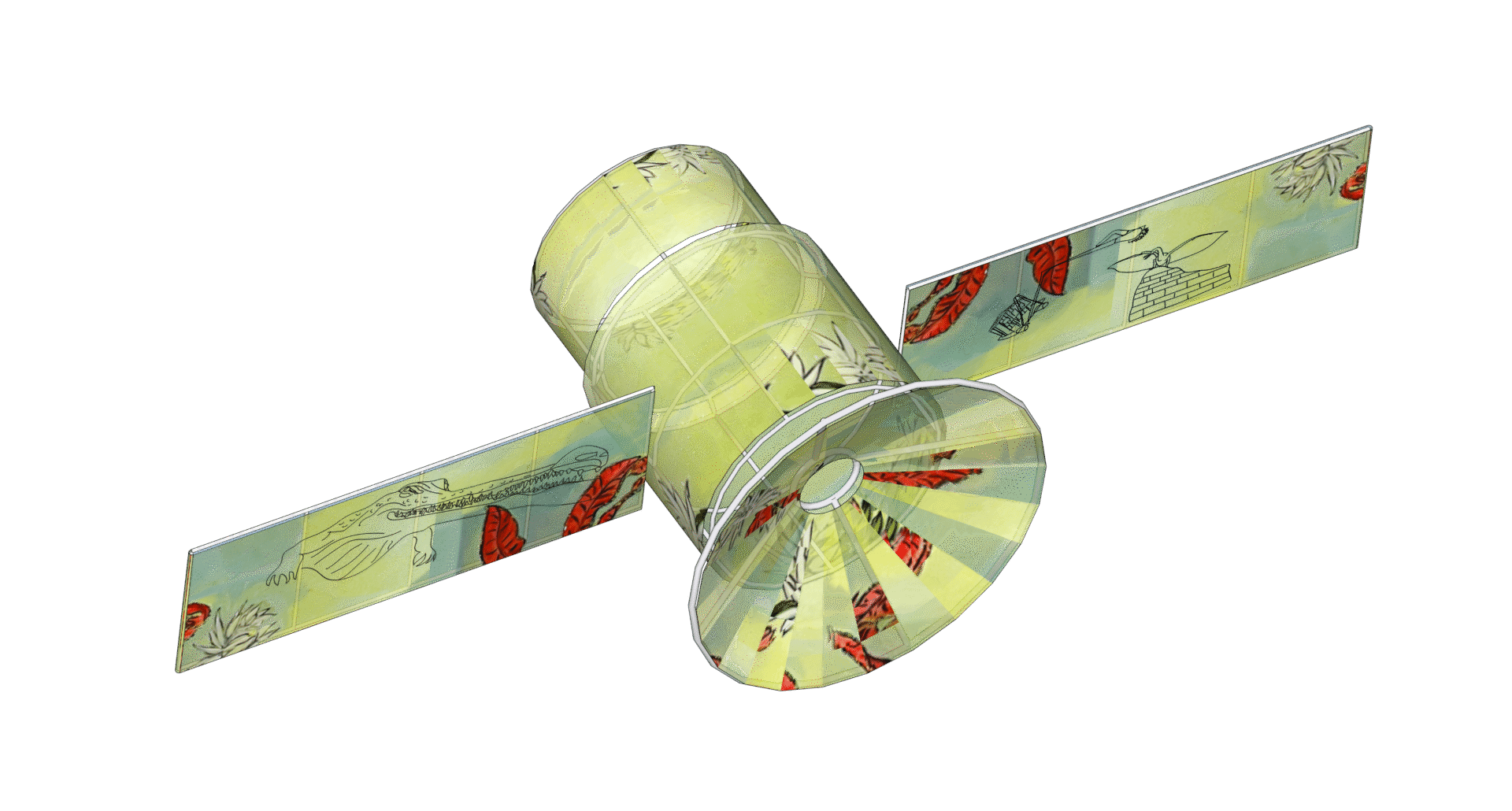
Fossil], 2023, alumínio, organza de seda pura, grafite, borracha de poliuretano e pigmento fosforescente [aluminum, pure silk organza, graphite, polyurethane rubber, and phosphorescent pigment], 120 x 80 x 240 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]. estudo da obra [study of the work]
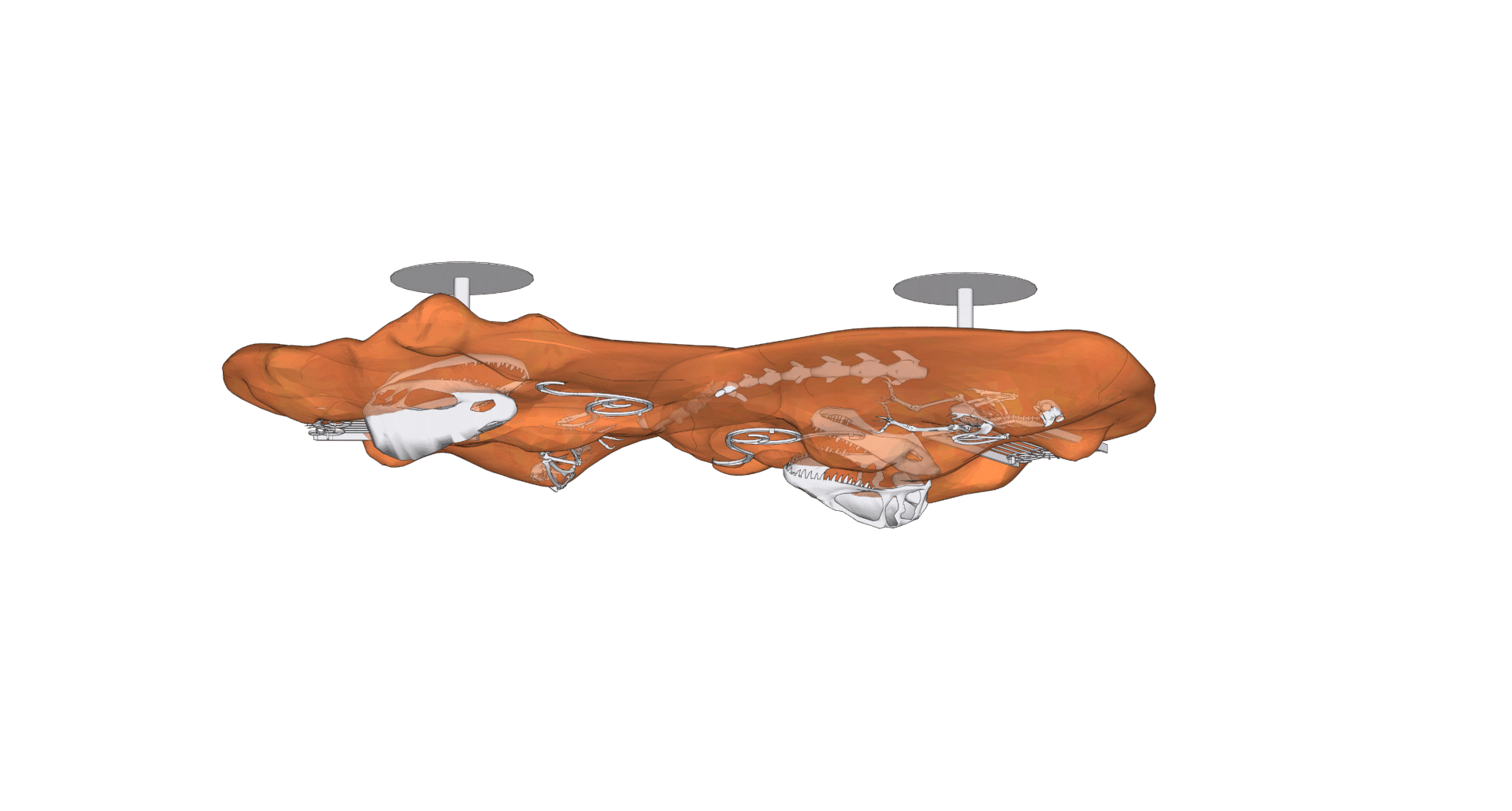
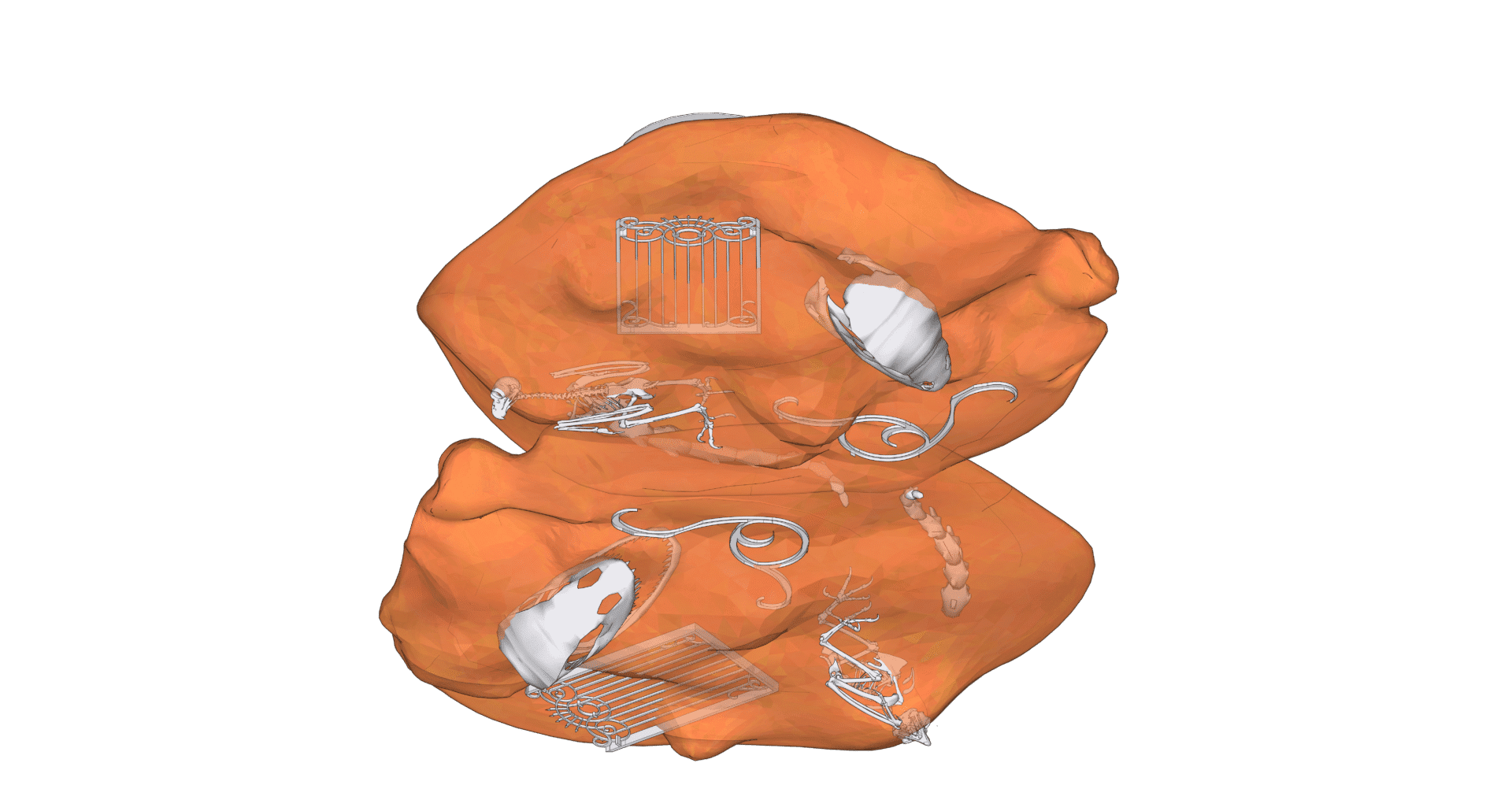
borracha de poliuretano, resina, pigmento fosforescente, esmalte cromado, painel de LED e alumínio [polyurethane rubber, resin, phosphorescent pigment, chrome enamel, LED display panel, and aluminum], 50 x 180 x 110 cm. Coleção da artista [Artist’s collection]
equipe de realização artística [artistic production staff]: Oficina Dimitri Kiruki Yoshinaga (Dimitri, David Felipe Vieira “D2” e [and] Fernando Alves), André Santos (montagem [installation]), Dragão Soldas de alumínio (Edgard e [and] Tom), Ludovico Bütcher (impressões 3D [3D prints]) consultoria técnica [technical consultants]: Ankur Mehta (professor assistente [assistant professor], Electrical and Computer Engineering/Mechanical and Aerospace Engineering, UCLA); Alex Ungprateeb Flynn (professor adjunto [associate professor], Department of World Arts and Cultures/Dance, UCLA); Ludovico Bütcher, Dimitri Kiruki Yoshinaga, Cristiano (Moldflex), Márcio (Central de Metais e Ferragens); Felipe, Rosângela e [and] Paulo (MZUSP)
estudos da obra [studies of the work]
Paulo Nimer Pjota
São José do Rio Preto, SP, 1988
Em meio a manchas de cor e calor, rodopiam clichês universais e rabiscos regionais, tradições clássicas e vernaculares, arte erudita e desenho animado, máscaras e vasos, armas e monstros, tesão e assombro, tensão e festejo. Tudo junto e ao mesmo tempo, num só plano de ação, tecendo fábulas globais numa mistura anárquica entre a dureza do mundo e o livre-arbítrio da imaginação.
O trabalho de Paulo Nimer Pjota assimila fenômenos coletivos que ultrapassam limites temporais e geográficos, sublinhando, por vias esquisitas e caóticas, a universalidade da experiência humana. Suas obras nascem de reproduções e mixagens de informações diversas, como um músico que usa samples e beats para compor suas rimas. Seu repertório simbólico inclui elementos da vida orgânica, das mitologias, dos discursos sociais e da cultura material dos cinco continentes, indo da Antiguidade ao universo pop e à cultura de massa, dos cânones da arte às manifestações da rua e às banalidades cotidianas. Com base nessa ampla pesquisa iconográfica, o artista transpõe, sobrepõe e rearranja imagens que revelam, como evidências arqueológicas, o processo amalgamante e transcendental que forja culturas singulares, mas sempre interligadas. Entre a aleatoriedade dos arranjos e uma meticulosa prática pictórica, vão surgindo composições intensas, sempre com uma base energética marcada por grandes campos de cor, nos quais uma constelação de corpos suspensos aparece como fantasmagorias da história. Em cada nova composição, Paulo Nimer Pjota elabora a natureza desses códigos informacionais operados por infinitos sujeitos, que vão percorrendo os séculos, se transformando e acumulando novos significados. Por meio do ritmo e da repetição, o artista orquestra a reprodução desses signos para investigar os mecanismos que os originam e os difundem na era da ultracomunicação. Como instantes suspensos num grande fluxo de consciência, cada obra é um disparador de memórias, sensações e estados psicológicos. Em comum, seus trabalhos afirmam uma política da contaminação e uma visão espiritual pautada pela noção de contínua transformação, em que tudo vai e volta num grande fluxo cósmico.
No 38º Panorama, Paulo Nimer Pjota apresenta uma obra inédita, feita especificamente para a exposição. Em cinco telas, o artista cria um gigantesco mar de chamas atravessado por raios de sol difusos, em que animais e seres fantásticos se misturam a lendas e tradições da natureza-morta de diferentes culturas, numa fusão quente e extasiante. O cenário onírico — inspirado em contos que assombravam navegadores medievais — propõe um paradoxo entre a ativação de uma alta temperatura e um recorte oceânico, num jogo de reiteração e variação que convida a uma examinação minuciosa, revelando detalhes fascinantes em meio ao fogo líquido que toma conta de tudo.

tela [oil, tempera, and acrylic on canvas], 206 x 160 cm. Cortesia do artista e [Courtesy of the artist and]
Mendes Wood DM
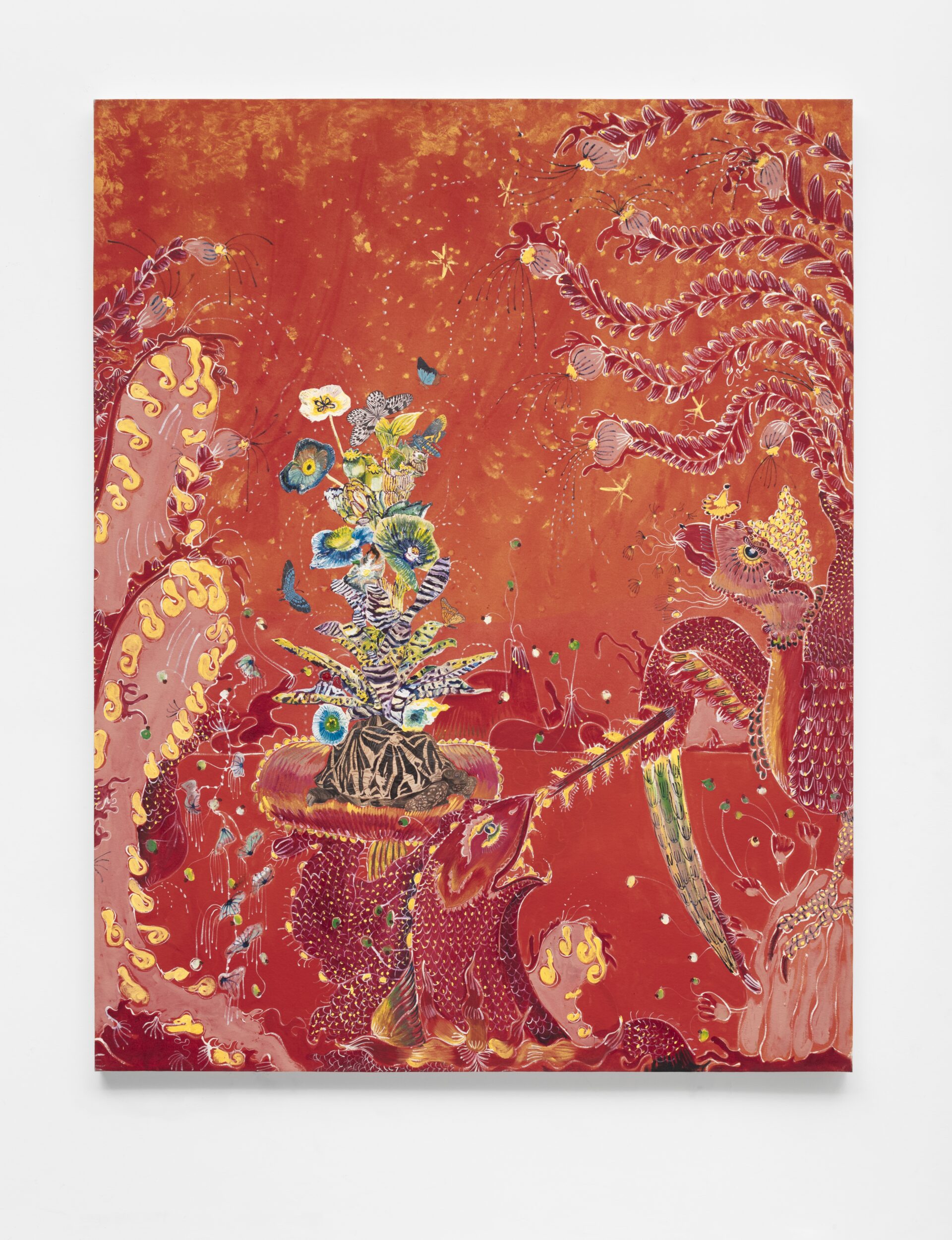
tela [oil, tempera, and acrylic on canvas], 206 x 160 cm. Cortesia do artista e [Courtesy of the artist and]
Mendes Wood DM
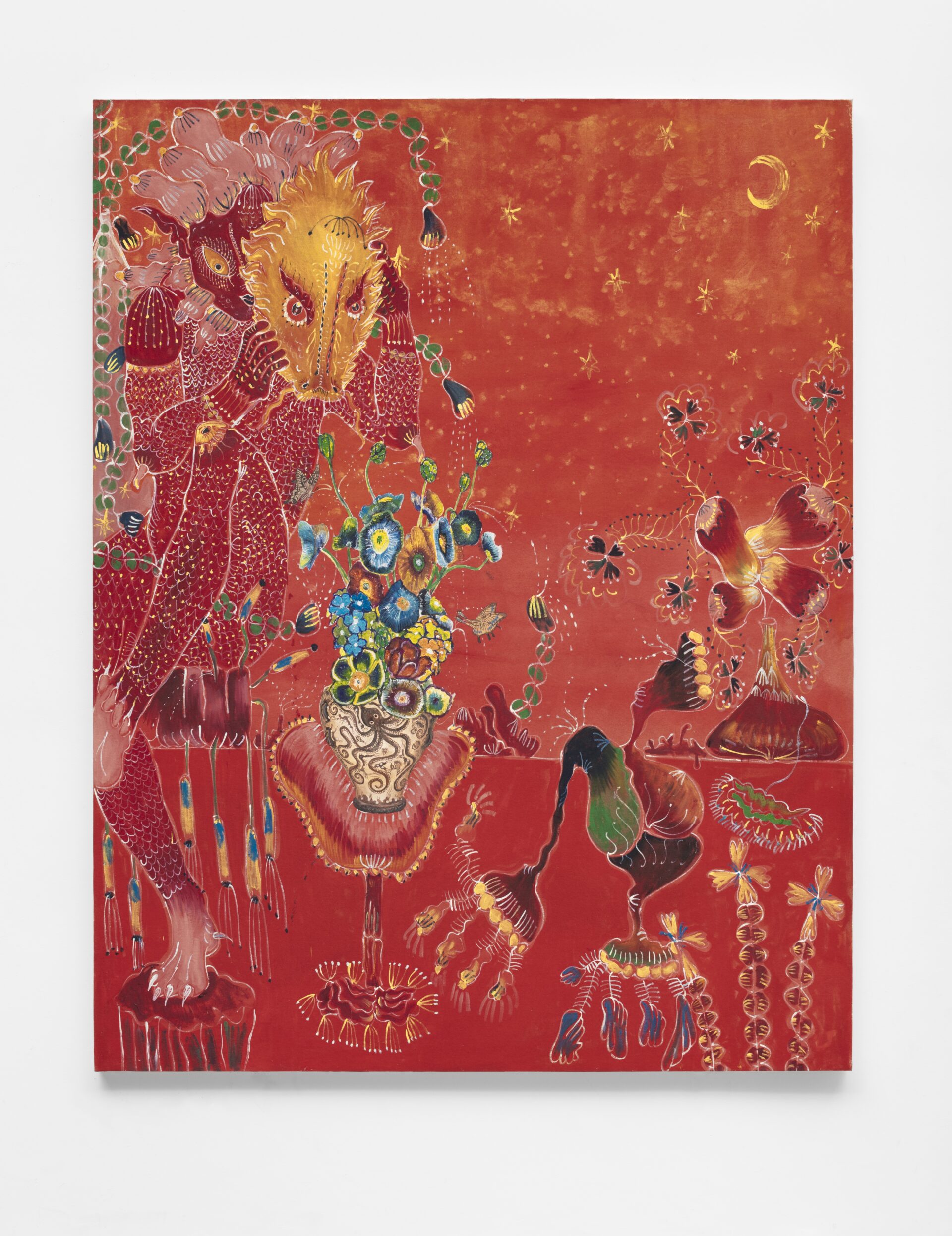
and acrylic on canvas], 206 x 161 cm. Cortesia do artista e [Courtesy of the artist and] Mendes Wood DM
Paulo Pires
Poxoréu, MT, 1972
A pedra grita, convocando o toque e a talha que revelarão figuras sentimentais em sua carne. A aparição das formas registra, na rocha, o fluxo fervente dos corpos e suas paixões, desvelando a potência que pulsa nos contatos, nas aglomerações e nas correrias.
O trabalho de Paulo Pires acontece por meio da aceitação do estado bruto do arenito e da escuta extrassensorial da matéria natural, acessando o que ela invoca como novas possibilidades. Seu processo somente se inicia quando as pedras “estão em grito”: é a disposição espiritual delas que indicará o caminho. O método do artista — que envolve banhos de água para amolecer e cortes precisos para modelar — alia delicadeza à força bruta. Para dar formas às ideias, Paulo Pires abre um canal de duas vias entre suas mãos e a substância, formando uma corrente energética pela qual transcorrem sentimentos e emoções entre criador e criatura. Nesse jogo, em que a pedra é a matéria-prima e também a grande metáfora, um tramado sensível é traçado entre a essência da rocha e a figura do corpo humano, de modo que vão aparecendo abraços, carinhos, danças, cópulas, amontoados e outras agregações. Desse modo, o artista esculpe no mineral os afetos, por meio dos gestos que lhes correspondem, cravando uma síntese particular das dinâmicas e aspirações humanas no mundo. Entre a dureza e a maleabilidade, suas peças oferecem imagens dinâmicas, que parecem se transformar a cada novo ponto de vista. Por meio da animação do inanimado, Paulo Pires versa sobre as questões universais, mas também sobre subjetividades, narrativas cotidianas, suas vivências e livres fabulações. Há sempre o peso da vida, mas também a capacidade flexível de invenção e reinvenção a partir da força da criação. Na monotemática de sua obra, o artista afirma a semelhança pela diferença, fazendo-nos enxergar que, embora a natureza maior seja imutável, há infinitos — e sempre renovados — modos de existir.
Em sua participação no 38º Panorama, as quatro obras apresentadas mostram o balanço entre seu estilo reconhecível e a versatilidade de suas composições. Em Os desejos da pedra (2023/2024), uma escultura de grande formato, enxergamos uma infinidade de corpos que se amontoam numa montanha humana. Essa sugestiva aglutinação pode remeter, a um só tempo, à gênese — como se ali estivesse o barro original ganhando formas que mais tarde irão partir com autonomia no mundo a partir de suas vontades individuais — e à dinâmica de aglutinação mobilizada pelo desejo quente e impetuoso, pela vontade de aproximação entre diferentes corpos. Ao espectador, é possível se perder na riqueza de detalhes, em cada interação, tentando compreender os mistérios envolvidos nesse ajuntamento. A obra sem título (2024) traz uma versão menor desse empilhamento, numa composição que desafia a gravidade. Já em uma outra obra sem título (2024) e O namoro da pedra (2021), a densidade energética aumenta, concentrando-se na conexão entre dois corpos que estão em entrelaçamento profundo, de modo que um passa a se fundir no outro.

Coleção particular [Private collection]

Coleção particular [Private collection]

Coleção particular [Private collection]
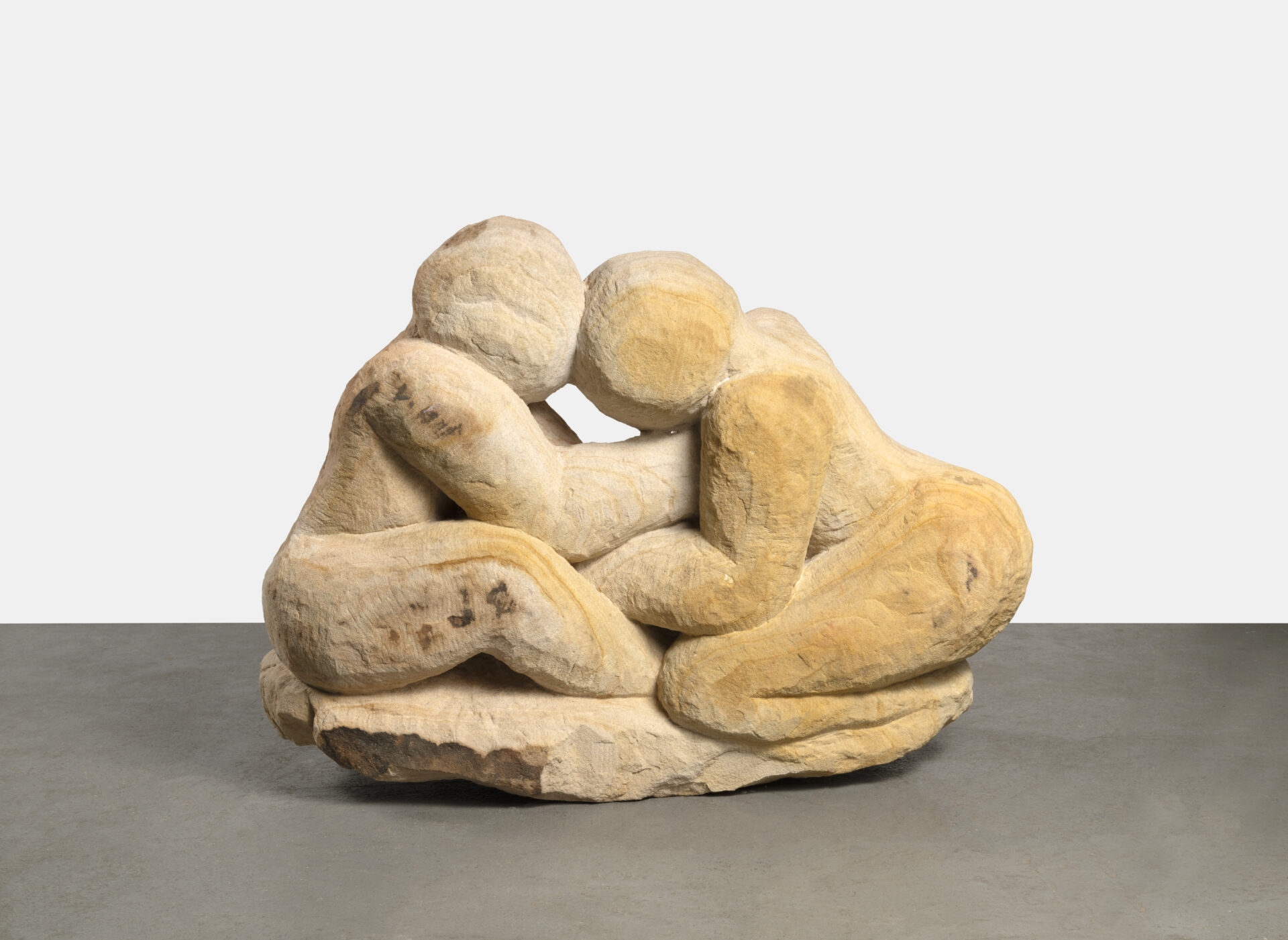
70 x 96 x 34 cm. Coleção particular [Private collection]
Rafael RG
Guarulhos, SP, 1986
Na ponta da língua ou do lápis, na movimentação dos corpos celestes e de baile, emergem escritas que orientam e registram a vida. Nas inscrições concretas ou nos traços invisíveis que conectam os astros estão guias que se revelam para quem os souber ler. Em cada página e em cada constelação reside uma chama capaz de abrir portais entre mundos, criando rotas de fuga, convertendo caminhos em dinâmicas de potência e espaços de liberdade.
Rafael RG trabalha conexões vitais a partir de duas fontes de informação, ou matérias-primas: o afeto espontâneo que nasce de suas experiências pessoais e encontros íntimos; e a pesquisa documental, interessada, sobretudo, por memórias latentes em arquivos. Por meio desse enlace, sua obra costura a dimensão subjetiva com vivências coletivas, promovendo discussões políticas, raciais e sexuais. Suas relações eróticas, amizades e outros envolvimentos cruzam-se com o espectro ampliado da vida em sociedade. Seus textos, objetos, performances, instalações e proposições catalisam imaginários na linha cortante que separa o registro documental da ficção, tensionando o limite entre memória e fabulação. Muito embora sua obra sempre encontre novas formas para manifestar essas ideias, em comum há a intenção de criar atravessamentos que transcendem épocas e categorias, revelando a força dos laços afetivos diante da aspereza de um mundo organizado em estruturas arbitrárias. Nesse sentido, o amor e os vínculos entre pessoas racializadas e em grupos historicamente marginalizados é um tema recorrente. Ao adotar um certo nomadismo em sua vida pessoal, que impacta diretamente sua pesquisa e sua prática, Rafael RG costura suas vivências intensas em muitas partes do Brasil numa miríade de reflexões biográficas, crônicas, poesias e outras estratégias narrativas.
Para o 38º Panorama, Rafael RG apresenta duas obras comissionadas que se conectam e se complementam em suas naturezas: uma objetual e outra performática. Na primeira, o projeto De quando o céu e o chão eram a mesma coisa (2024), o artista resgata grafias imemoriais inspiradas na observação do céu. Nele, Rafael RG evoca a relação entre o terreno e o firmamento na fundação da espiritualidade, utilizando símbolos e escrituras que remetem às práticas mais antigas de compreender a vida na Terra pelo movimento das estrelas. A obra faz referência a locais sagrados como a Pedra do Ingá, na Paraíba, um sítio arqueológico célebre por suas pinturas rupestres pré-colombianas associadas a práticas espirituais e astrológicas, conectando o terreno ao celestial, e às escrituras da sociedade secreta cubana Abakuá, cujos ricos simbolismos cosmológicos preservam uma resistência cultural em meio à diáspora africana no Caribe. O artista inscreve essas grafias com folhas de ouro aplicadas por meio da técnica de douração — tradicionalmente utilizada em arte sacra e barroca — numa grande rocha extraída das jazidas de pedra-sabão de Minas Gerais. No trabalho, esses dois elementos materiais de amplo uso na exploração colonial e na tradição católica são ressignificados em uma cosmologia não cristã, um outro sagrado permeado por poesia e livre imaginação. Nesse contexto, a escolha desse material simboliza a fusão entre o espiritual e o matérico, entre a escrita e a geologia, criando uma obra que é tanto um marco físico quanto uma aspiração cósmica.
Na segunda obra, Rafael RG propõe a performance Ao cair da noite, eu me guiarei pelo brilho dos seus olhos (2024). A obra envolve profissionais da astronomia que, junto ao artista, reelaboram narrativas ocidentais modernas baseadas em mitologias greco-romanas sobre as constelações. Ao utilizar sons ambientais e leituras ao vivo combinadas à projeção de luz, o artista cria uma sinfonia que evoca as rotas de fuga dos ex-escravizados, para os quais o rastro das estrelas oferecia uma chance de escapar da opressão e iniciar uma nova vida. Além disso, a obra incorpora as observações dos povos originários e seus registros em pedra, contribuindo para a memória contemporânea de diferentes visões cosmológicas.
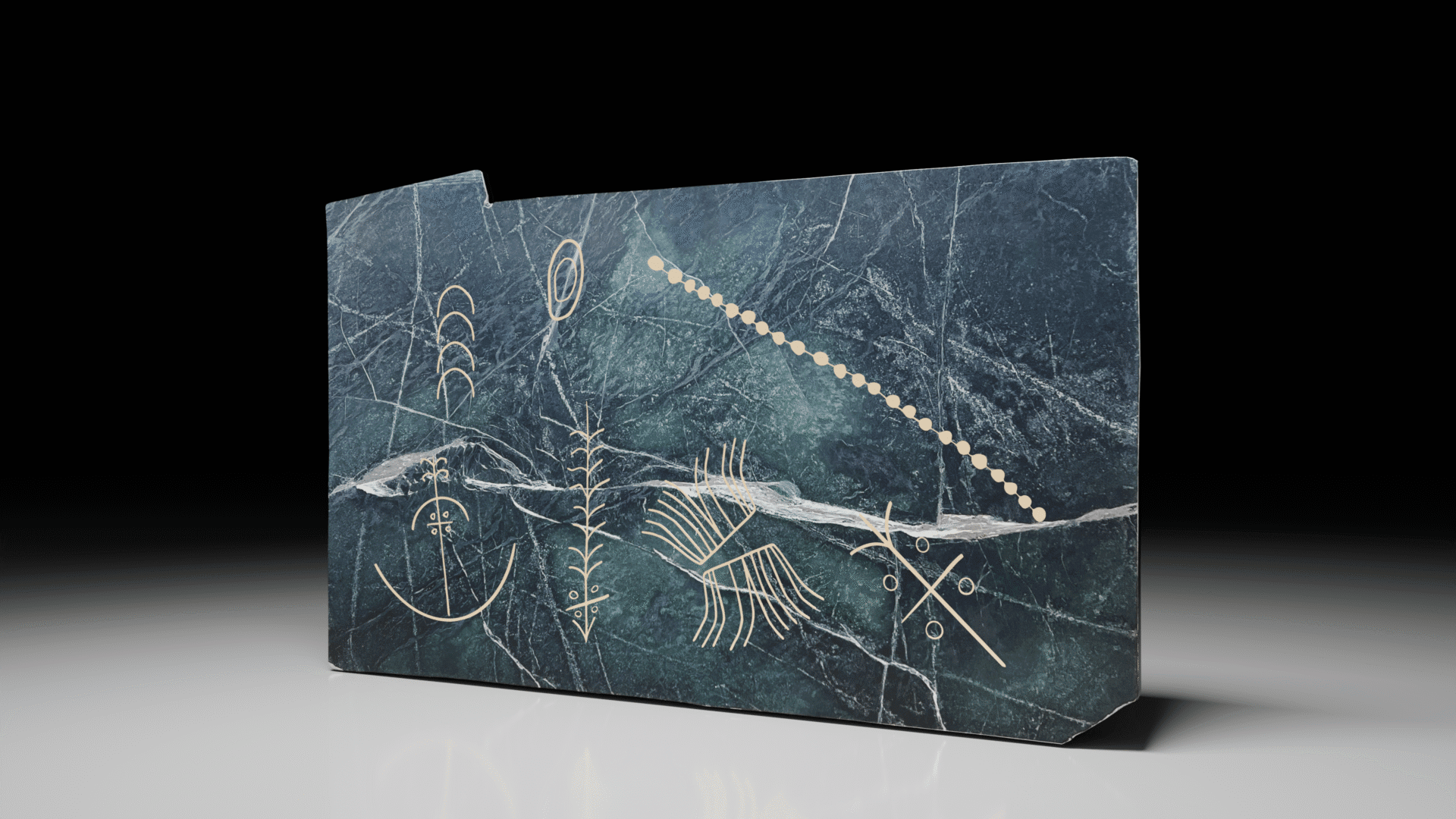
the Same Thing], 2024, pedra-sabão e folha de ouro 22k [soapstone and 22k gold leaf], preparação e edição de
desenhos [preparation and editing of drawings]: André Victor, 170 x 260 cm. Coleção do artista [Artist’s collection]. Cortesia [Courtesy of] Mitre Galeria
Com apoio de [With support from] Pedra Sabão do Brasil, Quartzito do Brasil, Dinária Loch, Salésio José Loch e
[and] JA.CA – Centro de Arte e Tecnologia.
estudo da obra por [study of the work by] Eduardo Cotta Fuentes
Rebeca Carapiá
Salvador, BA, 1988
Pronunciar o ferro: contorcer o elemento rígido para emanar sua vibração metálica no ar. Essa força que transforma energia em movimento e o metal em sentido faz ranger as estruturas, como uma broca que cria novas fissuras no mundo como o conhecemos.
Rebeca Carapiá é uma ferreira-desenhista, uma escritora de formas cuja obra se funda no manejo singular do ferro, matéria-prima usada para criar contornos orgânicos que evocam caligrafias abstratas e signos enigmáticos, densos e reluzentes. Em sua prática, a artista tece narrativas que emergem na tensão entre a brutalidade e a maleabilidade do material, criando obras que são tanto danças livres quanto inscrições de histórias enraizadas na Cidade Baixa de Salvador e de experiências subjetivas da artista. Suas esculturas coreográficas e telas abstratas são um diálogo contínuo entre corpo, linguagem e território, recusando a representação compulsória e as categorizações simplificadas. Placas e vergalhões são transmutados em linhas fluidas, revelando um idioma corporal que transita entre o prazer e o labor, manifestando uma poesia que liberta a essência do ferro da sua condição física para que possa se desdobrar em múltiplas dimensões.
No 38º Panorama, Rebeca Carapiá apresenta uma grande peça comissionada para a exposição, que remete tanto a uma escrita urbana quanto a códigos de outros tempos. Sua escultura de aço e cobre forma um texto carregado de força e significado, mas cujo acesso se dá além das fronteiras daquilo que pode ser facilmente decifrado. A peça, magnética e sinuosa, convida o observador a percorrer um labirinto de sentidos intrincados que se anunciam a partir da aproximação e do envolvimento sensível. Sua gramática singular articula, a um só tempo, materialidade e mistério, flutuação e gravidade, discurso e rasura, austeridade e transcendência, firmando um modo autônomo de inserção no mundo.
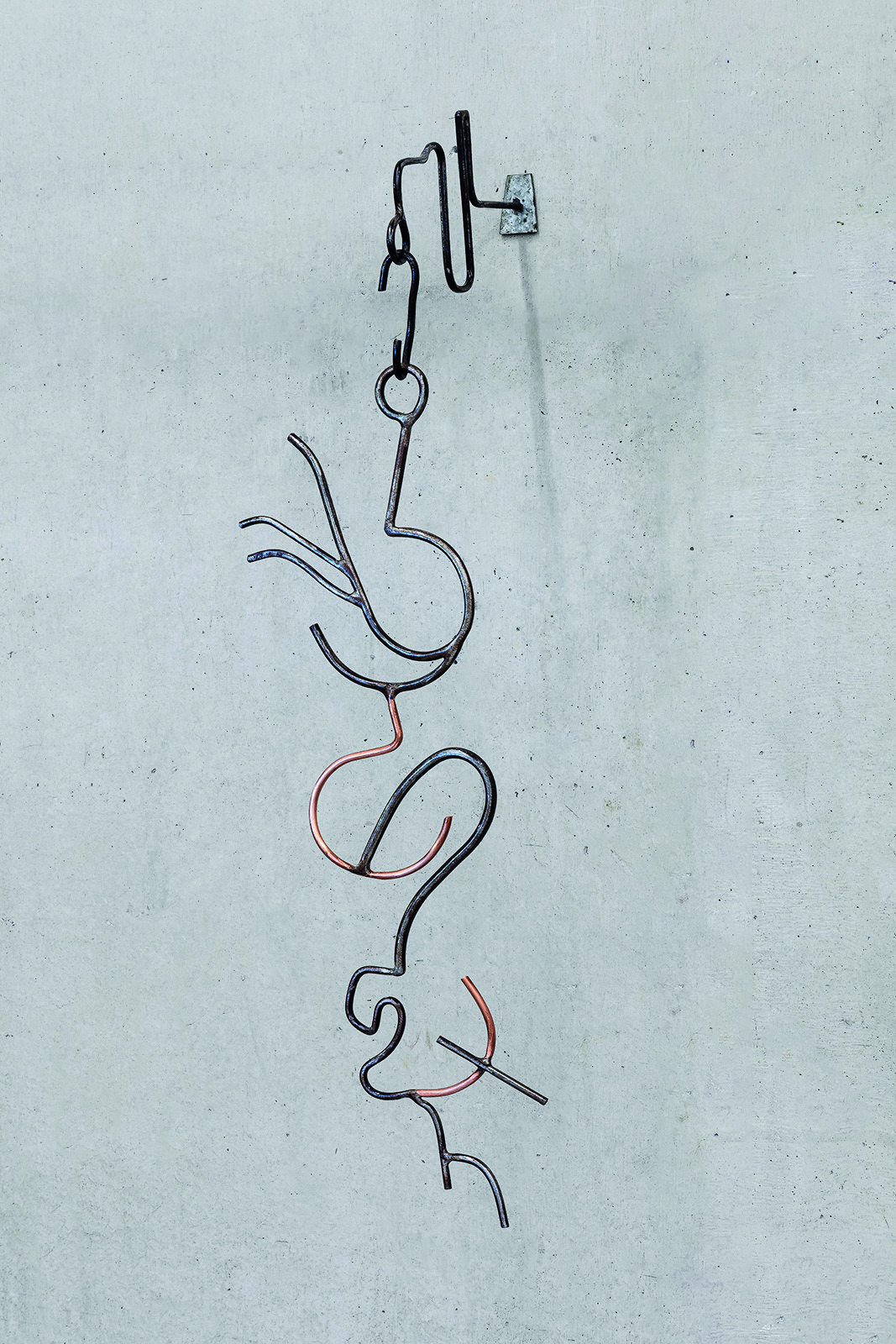
[Artist’s collection]
imagem de referência (obra não apresentada na exposição) [reference image (work not shown in the exhibition)]
Rop Cateh Alma pintada em Terra de Encantaria dos Akroá Gamella
Terra Indígena Taquaritiua, MA
Em colaboração com Gê Viana (Santa Luiza, MA, 1986) e
Thiago Martins de Melo (São Luís, MA, 1981)
Sobre o chão ancestral, sob a guia dos encantados, correm os cachorros de Bilibeu. Jenipapo no corpo e fuligem no rosto, festa nos olhos e, na boca, o júbilo da alma. Gritam sua força no sol e na chuva, no asfalto e na mata, percorrendo o território para sacralizá-lo e demarcá-lo com os próprios pés.
O processo de retomada de identidade e das terras ancestrais do povo Akroá Gamella, originário do Maranhão, tem como celebração simbólica central o “Ritual do Bilibeu”, que cria um laço fundamental entre a luta territorial e as festividades culturais para a continuidade do povo em meio a um contexto de constante ameaça e opressão. Esse ritual é uma prática ancestral que envolve toda a comunidade e se conecta profundamente com a cosmologia Akroá Gamella. Bilibeu, o encantado reverenciado, é uma figura mítica, um guardião ligado a aspectos da fertilidade e da proteção. Com duração de vários dias, seu ápice é conhecido como a “corrida dos cachorros de Bilibeu”, na qual os participantes se transmutam em “cães”, pintados e adornados com elementos naturais, simbolizando uma fusão festiva entre o humano, o animal e o divino. Nessa etapa, percorrem as aldeias de seu território em uma jornada intensa que dura cerca de doze horas e percorre, ininterruptamente, mais de trinta quilômetros sobre estradas de terra, grama, asfalto, barro, lama, e por entre florestas e cursos de água. Em cada casa em que param, animais e bebidas são lançados aos cachorros para ser caçados como oferendas a Bilibeu. Fisicamente extenuante, o percurso energiza e regozija a alma, repactuando a conexão espiritual com a terra e com os encantados.
Esse evento, que harmoniza tradições afro-indígenas e do catolicismo, é um momento de transe permeado por votos de fertilidade e prosperidade. A caminhada reúne, em si, aspectos de cerimônia espiritual, de celebração comunitária, de grande festejo e de afirmação política, e é, ainda, um importante rito de passagem para os homens, que participam como uma forma de marcar sua transição para a vida adulta, confirmando seu compromisso com a cultura e a continuidade de seu povo. Desde abril de 2017, quando a comunidade sofreu um brutal ataque perpetrado por agentes externos que feriram irreversivelmente várias pessoas, o Ritual de Bilibeu ganhou ainda mais centralidade, sendo transferido do Carnaval para o mês do ataque. A autodeclaração política do povo Akroá Gamella — cuja etnia já foi dada oficialmente como extinta — é uma resposta contundente à sociedade que frequentemente questiona sua identidade e seus direitos, e a todo custo tenta apagá-los.
O termo Rop Cateh – Alma pintada em Terra de Encantaria dos Akroá Gamella, escolhido para representar a participação do território no 38o Panorama, reflete a essência do Ritual de Bilibeu. A apresentação envolveu uma série de conversas e processos com os membros do Conselho de sua comunidade e com o recém-formado Coletivo Pyhan — que tem se organizado como corpo de comunicação da comunidade —, e contou também com a colaboração de dois artistas maranhenses que já tinham laços com o território e cujas práticas em tudo se relacionam com as questões do Panorama: Gê Viana e Thiago Martins de Melo. A partir de costuras e alinhamentos fundamentais, foram selecionadas filmagens — editadas em um único vídeo — e fotografias de diferentes autores que documentam, de modo implicado e com um olhar livre e poético, as atividades do ritual. Uma série de colagens manuais e pinturas produzidas por membros da comunidade em oficinas conduzidas no território pelos artistas colaboradores somam-se à apresentação. Nesses trabalhos, são visíveis gestos de afirmação que revelam laços familiares, atividades comunitárias, mapas subjetivos da terra e representações da fauna, da flora e dos encantados. O resultado é um grande painel multimídia de visualidade expressiva, sublinhando a explosão estética, a potência criativa e as discussões fundamentais sobre território, identidade e espiritualidade articuladas pelo povo Akroá Gamella.

by] Ana Mendes/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

the Other Side of the Grande River], 2018, fotografia digital [digital photography], foto de [photo by] Ana
Mendes/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Ana Mendes/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Cruupyhre Akroá Gamella/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Ana Mendes/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

photography], foto de [photo by] Ana Mendes/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

digital [digital photography], foto de [photo by] Énh Xym Akroá Gamella/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of]
Rop Cateh

Crêere Akroá Gamella/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Akroá Gamella/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

[digital photography], foto de [photo by] Ana Mendes/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh

photography], foto de [photo by] Crêere Akroá Gamella/Coletivo Pyhãn. Coleção [Collection of] Rop Cateh
componentes da instalação multimídia apresentada na exposição [components of the multimedia installation
shown in the exhibition]
Sallisa Rosa
Goiânia, GO, 1986
O chão sobe para ganhar formas pelas mãos de quem semeia, cuida, molda e dá contorno às memórias, fazendo girar num só torno os calores da alma, os pontos de resistência e as visões de futuro.
O trabalho de Sallisa Rosa é um exercício contínuo de vínculos com a terra e os territórios. Por meio de esculturas, instalações, performances, fotografias e vídeos, a artista dá vazão a experiências intuitivas que registram acontecimentos, firmam identidades e elaboram ficções sobre os fenômenos naturais e as relações sociais a partir de suas raízes na região Centro-Oeste. Como gesto ético e estético, sua prática afirma o compromisso com dinâmicas de compartilhamento e construções coletivas, tateando um campo de experiências que transcende agências individuais. O solo é matéria-prima e metáfora recorrente, de modo que sua produção muitas vezes se manifesta em peças e instalações marcadas pela cerâmica. Seu interesse é pela energia que vem do chão, pelos processos tradicionais envolvendo os quatro elementos e pelas compreensões sobre o tempo que percorrem esse manejo da matéria. Nesse sentido, a artista molda um punhado de terra não apenas com a intenção escultórica da forma, mas na busca pela conexão tátil com o telúrico, como portal espiritual para outras dimensões e temporalidades.
Sallisa Rosa apresenta no 38º Panorama um conjunto de esferas cerâmicas com marcações gráficas feitas com óxido de ferro. Nessa série, o conceito de “veneno” ganha um papel central sob diversos pontos de vista. A construção desses objetos se relaciona com ideias ligadas aos processos de envenenamento oriundos de traumas coloniais, atividades extrativistas, de manejo do solo e experiências pessoais. Nesse sentido, cada peça é um corpo cerâmico que representa uma expurgação de toxicidades e carrega, portanto, uma escarificação, ou uma cicatriz gravada como um testemunho da intoxicação passada, mas sobretudo dos caminhos orgânicos percorridos pelo tratamento, o antídoto e suas doses de cura.

Cortesia da artista e [Courtesy of the artist and] A Gentil Carioca
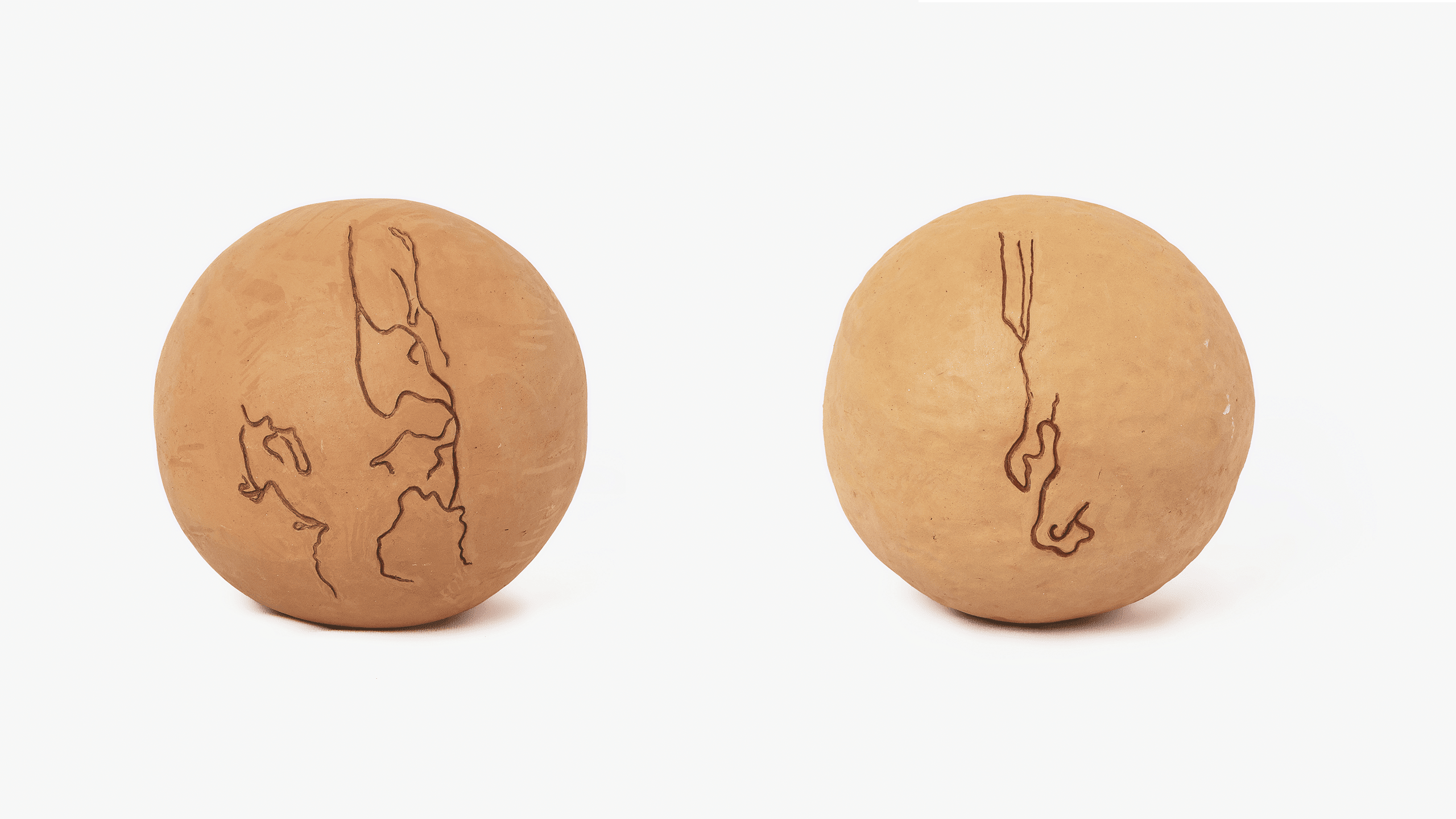
Solange Pessoa
Ferros, MG, 1961
A energia primeva coreografa sua multiplicação. Do calor das profundezas surgem as formas visíveis que se espalham pelo mundo em suas infinitas variações. Bichos, plantas, pedras e signos que guardam em si o equilíbrio caótico entre o parentesco universal e os sotaques locais, iluminando os segredos insondáveis que correm quentes pela superfície terrestre.
A obra de Solange Pessoa é um amplo tratado sobre as qualidades físicas e visuais do mistério vital, evocando imagens que emergem da fenda entre cultura e natureza para falar do sonho e da memória da Terra. Seus trabalhos não só abordam os aspectos essenciais da biosfera, mas também buscam revelar as fundações da linguagem como modo de associar ambas as dimensões. A artista trabalha com a reverência e a escuta profunda ao chamado da matéria, estabelecendo uma ligação mental, emocional e espiritual com os materiais que emprega. Ao recorrer ao uso de rochas, argila, terra e matéria orgânica, seus desenhos, pinturas, esculturas e instalações ressoam as forças primordiais do planeta, como erupções manifestas das energias latentes. Por meio de gestos elementares, Solange Pessoa realiza exercícios de síntese que assimilam as questões universais pertencentes a todas as eras e lugares, sem deixar de celebrar, no entanto, suas manifestações regionais. Há, em suas obras, as matrizes, modelos, símbolos e arquétipos, mas também há o que existe de mais específico. Nos ventos do tempo espiralar, rodopiam as repetições e os ecos de uma coisa na outra, mas também o caráter singular que pode se instalar em qualquer canto, seja como subjetividade ou costume coletivo. Suas interpretações dos movimentos da vida lidam com a morfologia e a fluidez das formas, com os hibridismos e as dinâmicas da mistura, e com a linha tênue entre permanência e impermanência, entre repetição e transmutação. São pistas sem destino, provocações sensíveis e bailados existenciais sobre o que nos cerca, o que nos forma, nossa origem, nosso lugar no mundo, nossa razão de ser.
Solange Pessoa participa do 38º Panorama com dois conjuntos de obras, revelando a coesão de um estilo profundo percolado numa gama de meios e soluções formais. O primeiro é uma constelação de mais de uma dúzia de esculturas de pedra-sabão, com obras das séries Caveiras (2016), Fontes e tanques (2016), Mimesmas (2016) e Dionísias (2017), além de peças isoladas. Essas esculturas sublinham o caráter único dessa rocha metamórfica densa e maleável, de textura oleosa e suave, tão abundante em Minas Gerais. Por isso, tem sido utilizada desde tempos coloniais na produção de utensílios, esculturas e elementos arquitetônicos, especialmente no período barroco. Cada pedra é esculpida negativamente, de modo a criar inscrições com padrões mínimos: curvaturas, buracos e espirais. São, portanto, ícones portadores de padrões que podemos observar em todos os cantos – na cúpula celestial, na crosta terrestre, nas formações biológicas – e que foram estudados e elaborados por incontáveis sociedades e culturas. Essas obras nos oferecem ideias de profundidade e movimento, da sobreposição de camadas, ciclos e processos de renovação que envolvem os fluxos vitais, evocando uma temporalidade alargada, como vestígios da gênese ou de uma era vindoura. O segundo conjunto é composto por três peças de cerâmica e lã (2019-2024) que se portam como resíduos minerais enigmáticos, fragmentos de rochas escuras ou carvões. São totens de alta densidade visual, que guardam a potência material de tempos imemoriais.

Coleção [Collection of] José Olympio da Veiga Pereira

[soapstone], 73 x 77 x 59 cm. Coleção [Collection of] José Olympio da Veiga Pereira

Coleção [Collection of] Daniel Feffer

[soapstone], 65 x 57 x 71 cm. Acervo [Collection] Juliana Siqueira de Sá

[Collection of Hollander-Yehudi and the artist]

Coleção [Collection of] Virginia Weinberg

[Courtesy of the artist and] Mendes Wood DM
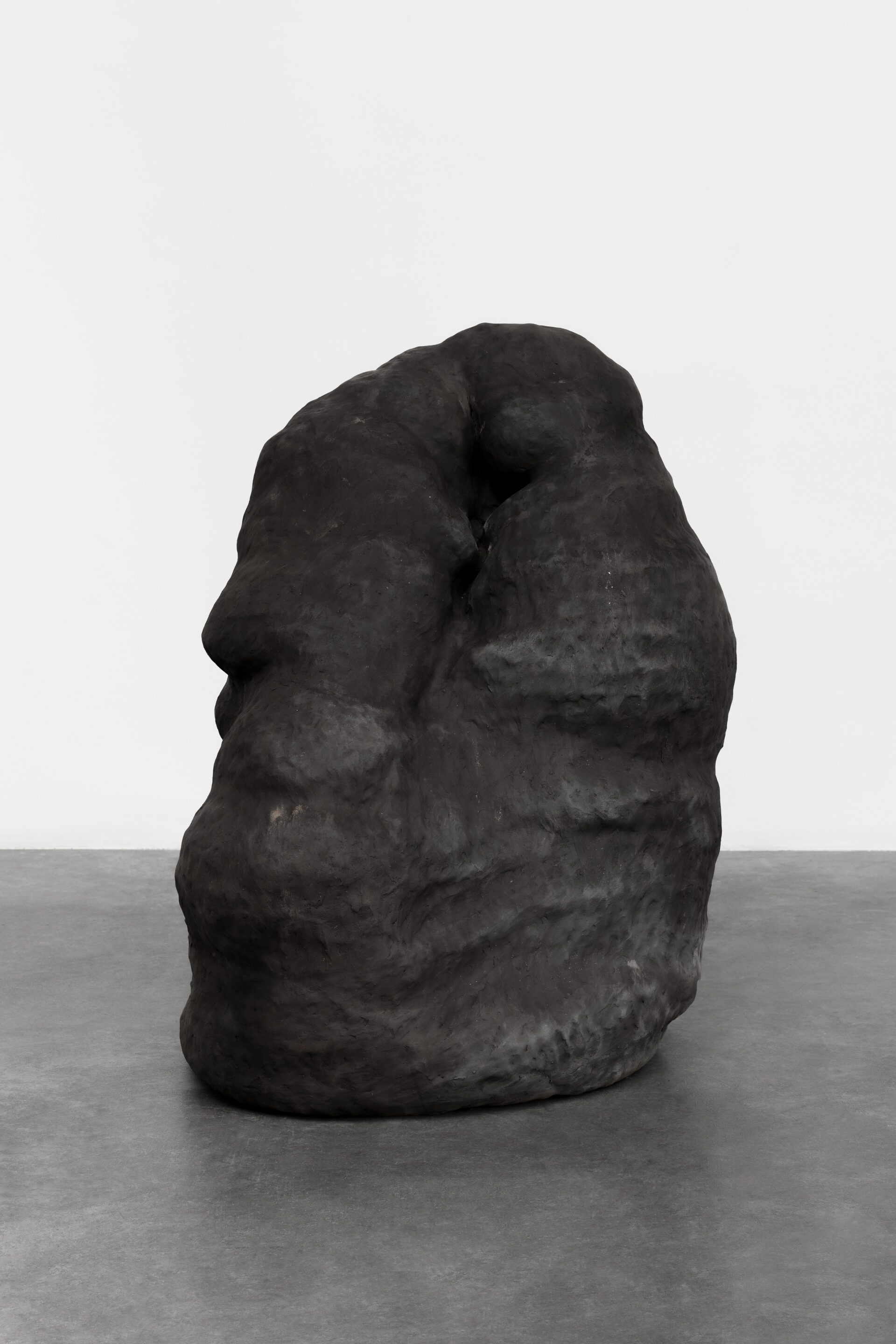
and] Mendes Wood DM

[Courtesy of the artist and] Mendes Wood DM

Tropa do Gurilouko
Criado no Rio de Janeiro, RJ, 2023
O estrondo de fogos nos céus e bexigas estalando no asfalto anunciam a saída apoteótica. As ruas em ebulição transbordam de temor e fascínio diante do grupo de gorilas enormes portando seus estandartes. O barulho é alto, e a festa não pede passagem, impondo-se com ritmo próprio, elevando as temperaturas para transformar a vida.
A Tropa do Gurilouko é uma turma de “bate-bolas” criada em 2023, quando uma brincadeira informal entre amigos ganhou corpo e ímpeto, explodindo em potência e popularidade. O bate-bola, também conhecido como “clóvis”, é um personagem clássico do Carnaval do Rio de Janeiro, caracterizado por trajes avolumados e coloridos, composto por uma roupa bufante, máscara, luva e sua marca registrada: uma bola de borracha ou de plástico presa por uma corda à extremidade de um bastão, usada para bater no chão. É o som forte e característico dessa batida que dá nome e anuncia a aparição do bate-bola, uma figura que tanto apavora quanto diverte. Sua criação vem da releitura de tradições europeias durante a Folia de Reis, e teve raízes fincadas durante as décadas de 1930 e 1940, sobretudo nas zonas norte e oeste do Rio e na Baixada Fluminense. Com o tempo, as turmas passaram a criar narrativas para cada saída e a se identificar por cores, estampas e acessórios específicos — como bexigas, bandeiras, sombrinhas e bichos de pelúcias —, além de hinos autorais. Entre os temas que emergiram estão figuras históricas, celebridades, super-heróis, personagens de filmes, desenhos animados, animes, monstros, animais, entre outros. Com a evolução da tradição, seja por criatividade ou necessidade, o modelo clássico do clóvis também deu lugar a trajes que encarnam outras figuras, como bruxas e gorilas.
É nesse contexto cultural, altamente territorializado, que surge a Tropa do Gurilouko no bairro carioca de Campo Grande. O grupo injeta nova energia na tradição dos bate-bolas, reafirmando seu vigor e inventividade estética. Na fusão de duas figuras clássicas do Carnaval, o bate-bola e o gorila, a Tropa do Gurilouko marca forte os aspectos do seu universo local. A cor e os acessórios de sua fantasia variam a cada ano, de modo que cada saída se torna única. O conjunto de calça e casaco demanda pelo menos 15 mil sacolas cortadas em fitas para ganhar suas proporções imponentes, e é complementado por uma máscara com olhos que acendem e a tradicional bexiga presa a um bastão. Os muitos meses de dedicação árdua culminam num intenso espetáculo. Ao abrir a porteira da casa em que se concentram, a saída do grupo eclode uma energia indizível, sob rojões, fumaças, cascatas de luz, rugidos e lapadas no chão, gritaria e gargalhadas. O bando em alvoroço encarna sua missão brincante, jogando com o poder da coesão coletiva, do anonimato individual e do personagem característico. A turma borra a linha entre o terror e a diversão, e conjuga a doçura da infância e a dureza da vida adulta para criar um momento de êxtase coletivo. O furor que trazem consigo é a melhor mistura do mistério, da fantasia e do júbilo que definem o espírito do Carnaval.
A Tropa do Gurilouko marca sua presença no 38º Panorama por meio de um exemplar da indumentária criada para o Carnaval de 2024, e de uma saída da turma por São Paulo, nas imediações do Museu de Arte Contemporânea (MAC) e do Parque Ibirapuera. A vestimenta traz a representação de um gorila de grande porte com seu “pelo” amarelo vibrante, tributo a um membro da Tropa falecido no ano anterior, que, em seu último Carnaval, estava vestido nessa cor. Já a saída busca criar uma aparição especial da turma em outra cidade e território cultural, e numa data descolada do Carnaval, sublinhando a força universal da performance do grupo.

amarradas em tecido [plastic bags tied to textile]. Coleção [Collection of] Tropa do Gurilouko. Registro fotográfico de [Photographic record by] Vincent Rosenblatt

[Outing of the Tropa do Gurilouko at the Campo Grande neighborhood in Rio de Janeiro],
2024, performance — indumentária e membros da Tropa [performance — garments and Tropa members], registro fotográfico de [photographic record by] Vincent Rosenblatt
Zahỳ Tentehar
Colônia, Reserva Indígena Cana Brava, MA, 1989
Ecos de temporalidades distintas ressoam por paisagens híbridas, resgatando a inteligência e a magia de um passado urgente para nos guiar por um futuro incerto. Na justaposição da mata original e das novas engrenagens de metal, as linhas invisíveis de força tornam-se presenças palpáveis, moldando os espaços e corpos que os habitam.
O trabalho de Zahỳ Tentehar é centrado na produção teatral e audiovisual, e fundamenta-se em suas raízes na Terra Indígena Cana Brava. Suas obras utilizam o corpo como matéria-prima elástica e flexível, compreendendo a dramaturgia e a performance como tecnologias indígenas. Em sua poética, aborda a vida como uma grande encenação, na qual somos todos autores, diretores e atores de nossas histórias. Inspirada pela “Poética do Oprimido”, de Augusto Boal, ela vê cada indivíduo como um “espect-ator” — alguém que simultaneamente age e observa, capaz de se emocionar com pensamentos e refletir sobre emoções. Em suas criações, a artista investiga a capacidade humana de criar e negociar verdades, construindo máscaras sociais que são, ao mesmo tempo, coerentes e contraditórias, dentro das normas comportamentais. Embora reconheça a opressão estruturante imposta pela sociedade do capital, Zahỳ Tentehar trabalha com a visão de que não estamos fatalmente definidos por seus desígnios. Como atriz e autora, ela busca transformar e transcender essas imposições, conectando-se a sua ancestralidade e aos movimentos de resistência que a cercam. Ao utilizar o teatro e o vídeo para ressignificar tradições, sua prática artística reflete a força histórica e a adaptação cultural dos povos indígenas diante das tramas complexas da modernidade e das inexoráveis transformações planetárias.
No 38º Panorama, Zahỳ Tentehar apresenta sua pesquisa mais recente, que desarma — por meio de uma forte visualidade e simbolismos marcantes, mas também de modo sensorial — a noção fixa que existe da tecnologia. A videoperformance intitulada Máquina ancestral: Ureipy (2023) é construída em dois canais, com a justaposição de duas dimensões opostas, nas quais uma mesma figura vive uma série de atos em busca da compreensão de sua natureza. Nessa ficção científica, uma entidade robótica solitária habita, a um só tempo, duas realidades: uma ancestral, em meio a um cenário ruinoso, e outra ligada à civilização tecnocrata, em um ambiente laboratorial. Em vez de oferecer respostas definitivas, a obra envolve o público em uma experiência sensorial que subverte percepções comuns e tateia os atravessamentos entre ancestralidade, humanidade e tecnologia. No lugar de um destino único e fatal, a artista aventa um futuro plural e suas múltiplas possibilidades vitais.


video, 11min, with sound]. Coleção da artista [Artist’s collection]
Criação e atuação [Created and performed by]: Zahỳ Tentehar. Direção criativa [Creative direction]: Zahỳ Tentehar e [and] Candombá (Daniel Wierman, Marcelo Hallit e [and] Philipp Lavra). Produtor executivo [Executive
producer]: Daniel Wierman. Efeitos visuais e cenografia [Visual effects and scenography]: Modular Dreams
(Priscilla Cesarino e [and] Danilo Barros), Danilo Rosa e [and] Marcelo Hallit. Primeira assistente de câmera e
logger [First camera assistant and logger]: Isadora Relvas. Operador de steadicam [Steadicam operator]: Murillo
Henrique, Breno BL. Trilha sonora e sonoplastia [Soundtrack and sound design]: Pedro Zopelar. Fotos de estilo
[Styling photography]: Philipp Lavra e [and] Isadora Relvas. Gradação de cores [Color grading]: Isabela Moura.
Figurinista [Costume designer]: Rosina Lobosco. Maquiadora [Make-up artist]: Camila Machado. Direção de
movimento [Direction of movement]: Elaine Erhardt Rollemberg. Produtor de cenário [Set producer]: Luiz Felipe
Bianchini. Catering: Sandra Godoy. Produtora artística [Arts producer]: Elaine Erhardt Rollemberg. Gaffer: Bruno
Obara. Elétrica [Electrician]: Heitor Nogueira. Motorista [Driver]: Marco Diogo.
Zimar
Matinha, MA, 1959
A careta apavora e espanta até a morte, mas também diverte a vida. Sua feição derretida, de olhos arregalados, orelhas grandes e a boca aberta, não revela se é de gente ou se é de fera. Levada pela toada, a figura dança e balança o quadril, armando a brincadeira, mexendo com quem passa, desfilando sua ginga, encantando as ruas com sua magia.
A arte de Zimar, como é chamado Eusimar Meireles Gomes, vem de sua ligação vital com o Bumba meu boi, manifestação cultural de maior importância na região onde vive, a Baixada Maranhense. A chamada “festa do boi” é uma celebração vibrante, que combina teatro, dança e música. Tendo como pano de fundo uma fazenda no Brasil colonial, envolve uma série de personagens arquetípicos do imaginário popular e intervenções sobrenaturais. A narrativa, que pode ter diversas variações, a depender da região e do grupo que a apresenta, tem como ponto central de sua trama o abate e a ressurreição de um boi, dramatizando e ritualizando a vida e a morte. A vivência de Zimar como brincante do Boi, e mais especificamente como quem incorpora o “cazumba” — ou “cazumbá” —, é o que impulsiona e define sua prática artística. O “cazumba” é um personagem que participa das versões do Bumba meu boi de alguns territórios do Maranhão. Sem espécie ou gênero definido, e com uma áurea mística, o “cazumba” dança e atua com irreverência e alegria, podendo também ser igualmente intimidante e assustador. Na representação dramática, geralmente age de modo travesso e imprevisível, cumprindo funções complementares e interagindo diretamente com o público. Seus trajes, ornamentados e repletos de detalhes, são marcados sobretudo pelas máscaras, também chamadas de “caretas” ou “queixos”.
Zimar começou a fazer caretas para uso próprio no início dos anos 2000, depois de ter machucado o rosto com uma máscara comprada. Com o objetivo de produzir peças que resolvessem o problema técnico do conforto
anatômico, ele acabou por dar vazão a uma explosão estética, firmando sua inventividade artística. Na primeira fase de sua produção, Zimar usou madeira de paparaúba, criando máscaras de cortes retos e feições rígidas. A partir de 2015, após sofrer um AVC que comprometeu sua disposição física para o talho, passou a utilizar capacetes de moto descartados e assimilar toda sorte de resíduos encontrados — como PVC, borracha, perucas e ossos de animais —, ressignificando esses materiais em composições singulares, que trazem mandíbulas articuladas, e que depois podem ser finalizadas com pó de serra, papel machê e pintura. Por meio de um raro entrelaçamento entre a liberdade de imaginação e o domínio da técnica, Zimar — que é reconhecido como mestre — subverte e inova a tradição das caretas de “cazumba”, introjetando nova energia nessa antiga cultura. De estilo inconfundível, suas máscaras trazem hibridismos quiméricos e fisionomias monstruosas, como se as expressões faciais das mais diversas feras tivessem sido cristalizadas por meio dos gestos do artista. A partir das sugestões dos próprios materiais encontrados, vão surgindo feições de cavalo, macaco, bode, porco, cachorro, onça, jacaré, pássaro e outros bichos inomináveis. A prática de Zimar soma-se à tradição imemorial da máscara como objeto de poder, capaz de conferir propriedades extraordinárias ou permitir a transfiguração de quem a veste. O próprio artista, com sua careta na cabeça, se transforma: não interpreta, mas incorpora o “cazumba”, esquecendo seu corpo físico e subjetividade para performar danças e gestos característicos, fazendo graça de todo tipo.
Para o 38º Panorama, Zimar apresenta um conjunto expressivo de dez máscaras. A constelação de caretas dá conta apenas de uma pequena parte da inesgotável força criativa do artista, mas revela os aspectos fundamentais de seu trabalho. Entre as peças, observamos elementos diversos e variadas características: chifres, cabelos, barbas, bocas redondas e outras de bico pronunciado. As caretas são expostas numa espécie de diagrama de cinco pontas, posicionando cada obra em um ponto, em diferentes elevações. O dispositivo confere dinâmica ao conjunto, reforçando a vivacidade das máscaras, ao mesmo tempo em que sublinha o aspecto místico e ritualístico das obras, como um altar que celebra a figura do “cazumba”.










Créditos
Publicação Acessível
Organização
Leonardo Sassaki
Roteirista de audiodescrição
Dylan Garbini
Consultoria de audiodescrição
Cida Leite
EXPOSIÇÃO EXHIBITION
realização production
Museu de Arte Moderna de
São Paulo
curadoria curatorship
Germano Dushá
Thiago de Paula Souza
curadoria-adjunta associate curator
Ariana Nuala
produção executiva executive production
Luciana Nemes (coord.)
Ana Paula Pedroso Santana
Bianca Yokoyama (PJ)
Elenice dos Santos Lourenço
Erika Hoffgen (PJ)
Marcela Tokiwa Obata dos
Santos
Paola da Silveira Araujo
projeto expográfico exhibition design
Alberto Rheingantz
assistência assistance
Beatriz Sallowicz
identidade visual visual identity
Fabiano Procopio
Raul Luna
comunicação visual visual communication
Fabiano Procopio
coordenação editorial editorial coordination
Renato Schreiner Salem
execução do projeto expográfico execution of
exhibition design
Secall Cenografia
conservação conservation
Fabiana Oda
montagem installation
Ck Black Art Handler
KBedim Montagem e
Produção Cultural
Luiz83
MReneé Arte Produção e
Montagem Phina
projeto de iluminação lighting design
Anna Turra Lighting Design
equipamento de iluminação lighting
equipment
Santa Luz
ampliações fotográficas coloridas full-color
photo enlargement
Giclê
adesivação fotográfica photo plotting
Insign
impressão e instalação da comunicação visual
printing and installation of visual
communication
Diferente MKT
consultoria audiovisual e acompanhamento
técnico audiovisual consultancy
and technical support
Estúdio Preto e Branco
consultoria acústica acoustic consultancy
Léo Pires Porto Braga
equipamento de áudio e vídeo audio and
video equipment
MAXI Áudio Luz e Imagem
molduras frames
Capricho Molduras
transporte shipping
Millenium Transportes
tradução para o inglês English translation
Fabricia Ramos
revisão e preparação de texto copy editing
and proofreading
Regina Stocklen
apoio residência artística support from artist
residency programmes
Casa Líquida
FAAP
YBYTU
CATÁLOGO CATALOG
realização production
Museu de Arte Moderna de
São Paulo
curadoria curatorship
Germano Dushá
Thiago de Paula Souza
curadoria-adjunta associate curator
Ariana Nuala
organização e textos curatoriais organization
and curatorial texts
Germano Dushá
Thiago de Paula Souza
Ariana Nuala
textos gerais general texts
Germano Dushá
Fabricia Ramos
Ariana Nuala
ensaios essays
abigail Campos Leal
Denise Ferreira da Silva
edson barrus
Eliane Potiguara
Jackson Augusto
Marcos Queiroz
Nina da Hora
Sidarta Ribeiro
Sidnei Barreto Nogueira
Thiagson
Walla Capelobo
edição editing
Fabricia Ramos
identidade visual visual identity
Fabiano Procopio
Raul Luna
projeto gráfico graphic design
Fabiano Procopio
coordenação coordination
Ane Tavares
produção gráfica graphic production
Leandro da Costa
coordenação editorial editorial coordination
Renato Schreiner Salem
assistência assistance
Rafael Franceschinelli
Roncato
acompanhamento curatorial curatorial
support
Gabriela Gotoda
tradução para o inglês English translation
Fabricia Ramos
revisão e preparação de texto copy editing
and proofreading
Regina Stocklen
fotos photos
Adriano Amaral/Alberto
Rheingantz (p. 163)
Alberto Rheingantz (p. 181, 215)
Amina Alexandre (p. 222, 223)
Ana Pigosso (p. 175, 176, 257–261)
Anna Van Waeg (p. 275↓)
Carole Lessire (p. 276, 277)
Clara Martins (p. 205–207)
Danilo Lins Galvão (p. 271–273)
Davi Pontes (p. 182)
Ding Musa (p. 177, 209-211, 221, 225)
Edouard Fraipont, cortesia
courtesy of Gomide&Co
(p. 251–255)
Emerson Silva (p. 185–193)
Estúdio em Obra (p. 196, 197, 292,
293, 315–321, 329, 330, 332↑)
Everton Ballardin (p. 243–247)
Filipe Berndt (p. 230, 231, 234,
235, 297)
Frederico Filippi (p. 195, 198, 199)
Gabriela Lacet (p. 263)
Gabriel Massan (p. 201-203)
Germano Dushá (p. 28, 29, 34, 35,
40, 41)
Gui Gomes (p. 283–287)
João Lima (p. 331, 332↓, 333–335)
Jonas Van & Juno B. (p. 216–218)
Julia Thompson (p. 229, 232, 233)
Laís Machado (p. 179)
Lewis Reynold (p. 169)
Lucas de Godoy (p. 171–173)
Marcio Lima (p. 212–213)
Marcus Deusdedit (p. 249)
Marina Paixão (p. 264, 265)
Mateus Rubim (p. 239, 241)
Noara Quintana (p. 279–281)
Pedro Agilson, cortesia courtesy
of Sallisa Rosa e and
A Gentil Carioca (p. 311–313)
Philipp Lavra (p. 327)
Ricardo Costa (p. 164–168)
Ricardo Miyada (p. 183)
Ruy Teixeira (p. 221, 224–227)
Sergio Guerini (p. 289–291)
Steve Coimbra (p. 46)
Victor Hugo Mori (p. 50)
Vincent Rosenblatt (p. 323–325)
Werner Strouven (p. 275↑)
tratamento de imagem e impressão photo
retouching and printing
Ipsis
WEBSITE E AMBIENTE DIGITAL 3D
WEBSITE AND 3D DIGITAL
SPACE
realização production
Museu de Arte Moderna de
São Paulo
organização e textos curatoriais organization
and curatorial texts
Germano Dushá
Thiago de Paula Souza
Ariana Nuala
textos gerais general texts
Germano Dushá
Fabricia Ramos
Ariana Nuala
coordenação coordination
Germano Dushá
identidade visual visual identity
Fabiano Procopio
Raul Luna
design gráfico graphic design
Raul Luna
desenvolvimento development
Edu Porciuncula
ambiente 3D 3D space
Franco Palioff
trilha sonora soundtrack
José Hesse
SÉRIE DE VÍDEOS VIDEO SERIES
realização production
Museu de Arte Moderna de
São Paulo
concepção conception
Ane Tavares
Germano Dushá
Thiago de Paula Souza
Ariana Nuala
Leticia Rheingantz
Marina Paixão
Jamyle Rkain
direção direction
Germano Dushá
captação recording
Marina Paixão
Leticia Rheingantz
edição editing
Marina Paixão
identidade visual visual identity
Fabiano Procopio
Raul Luna
design gráfico e animações graphic design
and motion graphics
Raul Luna
trilha sonora soundtrack
José Hesse
PODCAST
realização production
Museu de Arte Moderna de
São Paulo
patrocínio sponsorship
Nubank e and EMS, através
da through Lei federal
de incentivo à cultura,
Ministério da Cultura,
Governo Federal, Brasil
União e Reconstrução
concepção conception
Ane Tavares
Germano Dushá
Thiago de Paula Souza
Ariana Nuala
direção e produção executiva direction and
executive production
Trovão Mídia
pesquisa e roteiro research and script
Flavia Martin
edição, mixagem e montagem de som editing,
mixing and sound assembly
Pedro Vituri
narração narration
Adriana Couto
trilha sonora soundtrack
José Hesse
COLEÇÃO-CÁPSULA CAPSULE
COLLECTION
realização production
Museu de Arte Moderna de
São Paulo
Hang Loose
direção criativa creative direction
Germano Dushá
Gustavo Martins
Marina Terpins
coordenação coordination
Yasmin Porto
design gráfico graphic design
Gustavo Martins
desenvolvimento de produto product
development
Bianca Naufel
Cosma Alves
Fernando Araújo
AGRADECIMENTOS
ACKNOWLEDGEMENTS
Act. Art Consulting Tool
A Gentil Carioca
Alberto Srur
Almeida & Dale
Amanda Carneiro
André Boll
Antoine Simeão Schalk
Assembleia Legislativa do
Estado do Acre
Beatriz Lemos
Bruce Albert
Casa do Povo
Casa Líquida
CASERÊ
Christian Proença
Daniel Feffer
Daniel Jabra
Dimitri Kuriki Yoshinaga
Fortes D’Aloia & Gabriel
Francisca Clara Reynolds
Marinho
Fundação Armando Alvares
Penteado
Fundação Bienal de São
Paulo
Galatea
Galeria Cavalo
Galeria Marco Zero
Gomide&Co
Hutukara Associação
Yanomami
Instituto de Pesquisas
Energéticas e
Nucleares IPEN/CNEN/
SP
Instituto Mestre Nado
Ivani Yunes
Jaime Martins Secall
José Olympio da Veiga
Pereira
Juliana Siqueira de Sá
Lima Galeria
Lucas F. Arruda Atelier de
Artes
Luciana Itanifè
Manoel da Cunha Macedo
Filho
Maria Rita de Carvalho
Drummond e and
Rodolfo Aranha Alves
Barreto
Marina Dalgalarrondo
Marlova Dornelles
Mateus Nunes
Matheus Yehudi
MAXI Áudio Luz e Imagem
Mendes Wood DM
Millan
Mitre Galeria
Monica Hollander
Museu Afro Brasil Emanoel
Araujo
Museu de Arte
Contemporânea da
Universidade de São
Paulo
Museu de Zoologia da
Universidade de São
Paulo
Museu Nacional da Cultura
Afro-Brasileira
Newkerison Costa dos Santos
Pablo Santos Almeida
Patrícia Dias
Paulo Darzé Galeria
Podeserdesligado
Povo Akroá Gamella
Rafael Moraes
Rafael Ribeiro Menezes
Renato Silva
Safira Sacramento
Samuel Antônio Corrêa de
Lacerda
Santa Luz
Sebastião Abreu
Secall
Simone de Natividade
Studio Advânio Lessa
UMA PAZ: Universidade
Aberta do Meio
Ambiente e da Cultura
de Paz
Virginia Weinberg
Vivian Gandelsman
YBYTU
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS
SPECIAL THANKS
ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e às suas equipes, pela parceria institucional com o MAM São Paulo e a colaboração inestimável com a exposição to the Museum of Contemporary Art of the University of São Paulo and their staff, for the institutional partnership withthe MAM São Paulo and their invaluable collaboration to the exhibition; ao Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, à CASERÊ, e à UMA PAZ: Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, pelo apoio na apresentação de partes da obra de Advânio Lessa to the Afro Brazil Museum Emanoel Araujo, to the Legislative Assembly of the State of São Paulo, to CASERÊ, and to UMA PAZ: Free University of Environment and Culture of Peace, for the support in exhibiting parts of the work by Advânio Lessa; às residências artísticas Casa Líquida, FAAP, e YBYTU, pelo apoio em receber os artistas Davi Pontes, Marcus Deusdedit, e Noara Quintana, respectivamente to the artist residency programmes Casa Líquida, FAAP, and YBYTU, for the support in hosting artists Davi Pontes, Marcus Deusdedit, and Noara Quintana, respectively; e às instituições e coleções particulares, que generosamente emprestaram obras para a exposição. Agradecemos também aos artistas, autores, e detentores de direitos autorais que autorizaram a reprodução das obras neste catálogo to the institutions and private collections that generously loaned works for the exhibition. We are also thankful to the artists, authors, and copyright holders who licensed the reproduction of the works in this catalog.
MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO
presidente de honra honorary president
Milú Villela
diretoria management board
presidente president
Elizabeth Machado
vice-presidente vice president
Daniela Montingelli Villela
diretora jurídica legal director
Tatiana Amorim de Brito
Machado
diretor financeiro financial director
José Luiz Sá de Castro Lima
diretores directors
Camila Granado Pedroso
Horta
Marina Terepins
Raphael Vandystadt
conselho deliberativo advisory board
presidente president
Geraldo José Carbone
vice-presidente vice president
Henrique Luz
conselheiros board members
Adolpho Leirner
Alfredo Egydio Setubal
Andrea Paula Barros
Carvalho Israel da
Veiga Pereira
Antonio Hermann Dias de
Azevedo
Caio Luiz de Cibella de
Carvalho
Cláudia Farkouh Prado
Eduardo Brandão
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Eduardo Saron Nunes
Eduardo Sirotsky Melzer
Erica Jannini Macedo
Fábio de Albuquerque
Fábio Luiz Pereira de
Magalhães
Francisco Pedroso Horta
Helio Seibel
Jean-Marc Etlin
Jorge Frederico M. Landmann
Lucia Hauptman
Luís Terepins
Luiz Deoclécio Massaro
Galina
Maria Regina Pinho de
Almeida
Mariana Guarini Berenguer
Mário Henrique Costa Mazzilli
Martin Grossmann
Neide Helena de Moraes
Paulo Setubal Neto
Peter Cohn
Renata Mei Hsu Guimarães
Roberto B. Pereira de Almeida
Rodolfo Henrique Fischer
Rolf Gustavo R. Baumgart
Salo Davi Seibel
Sérgio Ribeiro da Costa
Werlang
Sergio Silva Gordilho
Susana Leirner Steinbruch
comitê cultural e de comunicação cultural
and communications committee
coordenação coordination
Fábio Luiz Pereira de
Magalhães
membros members
Andrea Paula Barros
Carvalho Israel da
Veiga Pereira
Camila Granado Pedroso
Horta
Eduardo Saron Nunes
Elizabeth Machado
Fábio de Albuquerque
Jorge Frederico M. Landmann
Maria Regina Pinho de
Almeida
Martin Grossmann
Neide Helena de Moraes
Raphael Vandystadt
comitê de governança governance committee
coordenação coordination
Mário Henrique Costa Mazzilli
membros members
Daniela Montingelli Villela
Elizabeth Machado de Oliveira
Erica Jannini Macedo
Geraldo José Carbone
Henrique Luz
Mariana Guarini Berenguer
Renata Mei Hsu Guimarães
Sérgio Ribeiro da Costa
Werlang
Tatiana Amorim de Brito
Machado
comitê financeiro e de captação financial and
fundraising committee
coordenação coordination
Francisco Pedroso Horta
membros members
Cláudia Farkouh Prado
Daniela Montingelli Villela
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elizabeth Machado
Jean-Marc Etlin
José Luiz Sá de Castro Lima
Lucia Hauptman
Luís Terepins
Peter Cohn
Renata Mei Hsu Guimarães
Roberto B. Pereira de Almeida
Rodolfo Henrique Fischer
Rolf Gustavo R. Baumgart
Salo Davi Seibel
Sérgio Ribeiro da Costa
Werlang
Sergio Silva Gordilho
Susana Leirner Steinbruch
comitê cultural e de comunicação cultural
and communications committee
coordenação coordination
Fábio Luiz Pereira de
Magalhães
membros members
Andrea Paula Barros
Carvalho Israel da
Veiga Pereira
Camila Granado Pedroso
Horta
Eduardo Saron Nunes
Elizabeth Machado
Fábio de Albuquerque
Jorge Frederico M. Landmann
Maria Regina Pinho de
Almeida
Martin Grossmann
Neide Helena de Moraes
Raphael Vandystadt
comitê de governança governance committee
coordenação coordination
Mário Henrique Costa Mazzilli
membros members
Daniela Montingelli Villela
Elizabeth Machado de Oliveira
Erica Jannini Macedo
Geraldo José Carbone
Henrique Luz
Mariana Guarini Berenguer
Renata Mei Hsu Guimarães
Sérgio Ribeiro da Costa
Werlang
Tatiana Amorim de Brito
Machado
comitê financeiro e de captação financial and
fundraising committee
coordenação coordination
Francisco Pedroso Horta
membros members
Cláudia Farkouh Prado
Daniela Montingelli Villela
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elizabeth Machado
Jean-Marc Etlin
José Luiz Sá de Castro Lima
Lucia Hauptman
Luís Terepins
núcleo panorama panorama art hub
coordenação coordination
Camila Granado Pedroso
Horta
membros members
Alberto Srur
Ana Beatriz Penha Gonçalves
Antonia Bergamin, Conrado
Mesquita e and Tomás
Toledo
Antonio Almeida e and Michele
Uchoas de Paula
Cleusa de Campos Garfinkel
Carlos Dale Junior e and
Roberta Dale
Daniel Augusto Motta
Diego Fernandes e and Dani
Romani Fernandes
Eduardo e and Ariely Farah
Eduardo Suassuna e and
Marcelle Farias
Fátima e and Marco Antonio
Lima
Felipe Dmab, Matthew Wood e
and Pedro Mendes
Guilherme Martins Duarte e
and Victoria Steinbruch
Ian Duarte e and Allann Seabra
Jessica Cinel
Luciana Caravello
Luiz Alberto Danielian e and
Ludwig Danielian
Malvina Sammarone
Maria Luísa Barros
Marília Chede Razuk
Milton Goldfarb
Odine e and Marcos Ribeiro
Simon
Olavo Egydio Setubal Junior
Paula Azevedo
Pedro Henrique Carvalho de
Assis Martins
Renata Queiroz de Moraes
Ricardo Garin Ribeiro Simon
Rodrigo Mitre
Teodoro Bava e and Eduardo
Baptistella Jr
Teresa Cristina R. Ralston
Botelho Bracher
Thiago Gomide e and Fabio
Frayha
Tomás Mousinho Gomes
Carvalho Silva
Vanessa e and Bruno Amaral
Vilma Eid
núcleo contemporâneo contemporary art hub
coordenação coordination
Camila Granado Pedroso
Horta
membros members
Adriana de C. Leal Andreoli
Ana Carmen Longobardi
Ana Eliza Setubal
Ana Lopes
Ana Lucia Siciliano
Ana Paula Cestari
Ana Paula Vilela Vianna
Ana Serra
Ana Teresa Sampaio
Andrea Gonzaga
Anna Carolina Sucar
Antonio de Figueiredo Murta
Filho
Antonio Marcos Moraes
Barros
Beatriz Freitas Fernandes
Távora Filgueiras
Beatriz Yunes Guarita
Bianca Cutait
Bruna Riscali
Camila Barroso de Siqueira
Camila Tassinari
Carolina Costa e Silva Martins
Cintia Rocha
Cleristton Cruz Rodolfo
Martins
Cleusa de Campos Garfinkel
Cristiana Rebelo Wiener
Cristiane Quercia Tinoco
Cabral
Cristina Baumgart
Cristina Canepa
Cristina Stanowski Herz
Sorrentino
Cristina Tolovi
Daniela Bartoli Tonetti
Daniela M. Villela
Daniela Steinberg Berger
Eduardo de Vicq
Eduardo Mazilli de Vassimon
Esther Cuten Schattan
Felipe Akagawa | Angela
Akagawa
Fernanda Mil-Homens Costa
Fernando Augusto Paixão
Machado
Flávia Regina de Souza
Oliveira
Florence Curimbaba
Gustavo Clauss
Gustavo Herz
Hena Lee
Isabel Pereira de Queiroz
Isabel Ralston Fonseca de
Faria
Janice Mascarenhas Marques
José Eduardo Nascimento
Judith Kovesi
Juliana de Souza Peixoto
Modé
Juliana Vignol Gutierrez da
Cruz
Karla Meneghel
Luciana Lehfeld Daher
Luisa Malzoni Strina
Márcio Alaor Barros
Maria Cláudia Curimbaba
Maria das Graças Santana
Bueno
Maria do Socorro Farias de
Andrade Lima
Maria Julia Freitas Forbes
Maria Teresa Igel
Mariana de Souza Sales
Mariana Schmidt de Oliveira
Iacomo
Marina Lisbona
Mônica Mangini
Monica Vassimon
Nadja Cecilia Silva Mello
Isnard
Natalia Jereissati
Patricia Magano
Paula Almeida Schmeil Jabra
Paulo Setubal Neto
Raquel Steinberg
Regina de Magalhaes Bariani
Renata Nogueira Studart do
Vale
Renata Paes Mendonça
Rosa Amélia de Oliveira
Penna Marques Moreira
Rosana Aparecida Soares de
Queiróz Visconde
Rosana Wagner Carneiro
Mokdissi
Sabina Lowenthal
Sérgio Ribeiro da Costa
Werlang
Silvio Steinberg
Sonia Regina Grosso
Sonia Regina Opice
Tais Dias Cabral
Telma Andrade Nogueira
Titiza Nogueira
Vera Lucia Freitas Havir
Wilson Pinheiro Jabur
Yara Rossi
colaboradores staff
curador-chefe chief curator
Cauê Alves
superintendente executivo chief operating
officer
Sérgio Miyazaki
acervo collection
coordenação coordination
Patrícia Pinto Lima
analista analyst
Marina do Amaral Mesquita
assistentes assistants
Bárbara Blanco Bernardes de
Alencar
Camila Gordillo de Souza
Taline de Oliveira Bonazzi (PJ)
técnico em manuseio art handler
Igor Ferreira Pires
assistência à presidência, curadoria e
superintendência management
board, curatorship, and
superintendence assistance
Daniela Reis
biblioteca library
supervisor em museologia museology
supervisor
Pedro Nery
bibliotecário documentalista documentation
librarian
Victor de Almeida Serpa
assistente assistant
Felipe de Brito Silva
comunicação communications
coordenação coordination
Ane Tavares
analistas analysts
Jamyle Hassan Rkain
Rachel de Brito Barbosa
designers
Paulo Vinícius Gonçalves
Macedo
Rafael Soares Kamada
produção e edição de vídeo videomaker
Marina Paixão/Planes
estagiário intern
Nicolas Oliveira Souza
assessoria de imprensa press office
a4&holofote comunicação
curadoria curatorship
especialista em acessibilidade e ações
afirmativas specialist in
accessibility and affirmative action
Gregório Ferreira Contreras
Sanches
analista de curadoria curatorial analyst
Gabriela Gotoda
estagiária intern
Laura Almeida Nobre de
Sousa
educativo education
coordenação coordination
Mirela Agostinho Estelles
analista analyst
Maria Iracy Ferreira Costa
educadores educators
Amanda Alves Vilas Boas
Oliveira (PJ)
Amanda Harumi Falcão
Amanda Silva dos Santos
Caroline Machado
Leonardo Sassaki Pires
Luna Souto Ferreira
Maria da Conceição Ferreira
da Silva Meskelis
Sansorai de Oliveira
Rodrigues Coutinho
estagiários interns
Bárbara Barbosa de Araújo
Góes
Gabe Nascimento
Pedro Henrique Queiroz Silva
administrativo financeiro financial
administration
coordenação coordination
Gustavo da Silva Emilio
comprador buyer
Fernando Ribeiro Morosini
analistas analysts
Anderson Ferraz Viana
Janaina Chaves da Silva
Ferreira
Renata Noé Peçanha da Silva
assistente assistant
Roberto Takao Honda
Stancati
auxiliar auxiliary assistant
Lucas Corcini e Silva
estagiário intern
Paulo Henrique da Silva
Magalhães
jurídico legal
advogada lawyer
Renata Cristiane Rodrigues
Ferreira (BS&A Borges Sales &
Alem Advogados)
estagiária intern
Vitória Martins Venancio Paes
de Carvalho (BS&A Borges
Sales & Alem Advogados)
relacionamentos e negócios institutional
relations and business
coordenação coordination
Larissa Piccolotto Ferreira
analista analyst
Marcio da Silva Lourenço
relacionamentos institutional relations
analistas analysts
Lara Mazeto Guarreschi
(Clube de Colecionadores
Collectors’ Club)
Mariana Saraceni Brazolin
(Programas Institucionais
Institutional Programs)
negócios business
supervisor de negócios business supervisor
Fernando Araujo Pinto dos Santos
analistas analysts
Giselle Moreira Porto
(Cursos Courses)
Tainã Aparecida Costa
Borges (Loja Shop)
assistentes assistants
Camila Barbosa Bandeira
Oliveira (Loja Shop)
Guilherme Passos (Loja Shop)
estagiária intern
Thayná Aparecida da Silva
parcerias e projetos incentivados partnerships
and cultural incentive law projects
coordenação coordination
Kenia Maciel Tomac
parcerias partnerships
analistas analysts
Beatriz Buendia Gomes
Isabela Marinara Dias
estagiária intern
Renata Rocha
projetos incentivados cultural incentive law
projects
analistas analysts
Deborah Balthazar Leite
Valbia Juliane dos Santos
Lima
Marisa Tinelli, Simone
Meirelles e and Sirlene
Ciampi (Odara Assessoria
Empresarial em Projetos Culturais
LTDA)
patrimônio premises and maintenance
coordenação coordination
Estevan Garcia Neto
assistente assistant
Alekiçom Lacerda
estagiário intern
Vitor Gomes Carolino
manutenção predial building maintenance
André Luiz (Tejofran)
Deivid Cicero da Silva (Avtron
Engenharia)
Venicio Souza (Formata Engenharia)
bombeira civil fire brigade
Silvia Ariane (Tejofran)
limpeza cleaning
Tejofran
segurança patrimonial property insurance
Power Segurança
bilheteria ticket office
Lucas Fernandes da Silva
monitoramento e orientadores de público
monitoring and audience guidance
Power Systems
produção de exposições exhibition production
coordenação coordination
Luciana Nemes
produtoras producers
Ana Paula Pedroso Santana
Bianca Yokoyama da Silva (PJ)
Elenice dos Santos Lourenço
Erika Hoffgen (PJ)
Marcela Tokiwa Obata dos
Santos
estagiária intern
Paola da Silveira Araujo
recursos humanos human resources
coordenação coordination
Karine Lucien Decloedt
analista analyst
Débora Cristina da Silva
Bastos
tecnologia da informação information
technology
coordenação coordination
Nilvan Garcia de Almeida
suporte técnico technical support
Felipe Ferezin (INIT NET)
Gabriella Shibata (INIT NET)
mantenedores sponsors
platina platinum
3M do Brasil
Bradesco
Dasa
EMS
Grupo Ultra
ouro gold
Agibank
BMA
BNP Paribas
Cimed
CSN
Dexco
Grupo Comolatti
Iochpe Maxion
Lefosse
Leo Madeiras e Leo Social
Pinheiro Neto
Singulare
TBE Alupar
Tivit
TozziniFreire Advogados
Unipar
Vivo
prata silver
Bloomberg
Grupo Comporte
Marsh & McLennan
PWC
Verde Asset
parcerias institucionais institutional
partnerships
ABGC
Africa
BMA
Canopy
Centro Universitário Belas
Artes
Cinema Belas Artes
Casa Líquida
Deutsche Bank
FAAP
Gomide & Co
Gusmão & Labrunie
Propriedade Intelectual
Hand Talk
Hugo Boss
ICIB – Instituto Cultural Ítalo-
Brasileiro
Inner Light
Interlight Iluminação
James Lisboa Leiloeiro Oficial
Lefosse Advogados
Neovia
Picolin
Saint Paul – Escola de
Negócios
Senac
Seven
YBYTU
parcerias de mídia media partnerships
BeFree Mag
Canal Arte 1
Eletromidia
Estadão
JCDecaux
Piauí
Quatro Cinco Um
player oficial official player
Spotify
programas educativos educational programs
contatos com a arte contacts with art
Grupo Ultra
domingo mam mam sunday
MAM São Paulo
igual diferente different equal
3M do Brasil
programa de visitação visitation program
MAM São Paulo
arte e ecologia art and ecology
Unipar
família mam mam family
MAM São Paulo
O Museu de Arte Moderna de São Paulo está à disposição das pessoas que eventualmente queiram se manifestar a respeito de licença de uso de imagens e/ou de textos reproduzidos neste material, tendo em vista que determinados autores e/ou representantes legais não responderam às solicitações ou não foram identificados ou localizados. The Museu de Arte Moderna de São Paulo is available to people who might come forward regarding the license for use of images and/or texts reproduced in this material, given that some authors and/or legal representatives did not respond to requests or were not identified or found.
38º Panorama da Arte Brasileira: Mil graus. Germano Dushá, Thiago de Paula Souza (curadoria e texto); Ariana Nuala (curadoria adjunta e texto); Abigail Campos Leal, Denise Ferreira da Silva, Edson Barrus, Eliane Potiguara, Jackson Augusto, Marcos Queiroz, Nina da Hora, Sidarta Ribeiro, Sidnei Barreto Nogueira, Thiagson, Walla Capelobo (texto); Ane Tavares (coordenação); Renato Schreiner Salem (coordenação editorial); Fabricia Ramos (tradução); Regina Stocklen (revisão e preparação de texto)
São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2024.
384 p. : il.
Textos em Português e Inglês
ISBN 978-65-84721-17-3
1. Museu de Arte Moderna de São Paulo. 2. Arte Contemporânea
Séculos XX e XXI – Brasil. I. Título. II. Dushá, Germano. III. Souza, Thiago de
Paula. IV. Nuala, Ariana.
CDU: 7.09
CDD: 7.037(81)
Ficha catalográfica elaborada por: Victor de Almeida Serpa e CRB-7/7178/O.