

Sumário
- Apresentação.
- Arte moderna e contemporânea em foco
- MAM São Paulo:encontros entre o moderno e o contemporâneo
- Entre o moderno e o contemporâneo, o fim da história da arte e a indeterminação.
- Coleção MAM São Paulo:onde arte modernae contemporânea seencontram.
- Encontros com os públicosMAM Educativo.
- Natureza: fim da representação.
- Ambiente Urbano: habitat da modernidade.
- Corpos: políticas da relação.
- Formas de construir e romper.
- Fragmentos: gestos e abstrações.
- Mídias: tradições atualizadas.
- Créditos.
Apresentação.
Encontros entre o moderno e o contemporâneo é uma mostra que aborda parte fundamental
da identidade do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo). As discussões sobre
os vínculos entre arte moderna e contemporânea, tanto nas exposições quanto nos cursos e nas
ações educativas, além de estar na gênese do acervo do MAM desde o final dos anos de 1960, são centrais para o museu. O catálogo da mostra inclui texto do curador-chefe do MAM, Cauê Alves,
sobre a relação entre arte moderna e contemporânea do ponto de vista da teoria da arte e texto da curadora Gabriela Gotoda, que problematiza as definições de moderno e contemporâneo pela perspectiva da história do próprio MAM. Esta publicação conta ainda com a colaboração do MAM Educativo, com um texto sobre visitas mediadas e relatos do público. A exposição, parceria entre o
Centro Cultural Fiesp e o MAM São Paulo, materializa os esforços do museu de atuar em sinergia com outras instituições culturais. Tratase de uma oportunidade valiosa de levar a coleção do MAM para a Avenida Paulista e ampliar a sua visibilidade. Assim, coerente com sua história e identidade, o MAM realiza sua missão de difundir a arte moderna e contemporânea, ao mesmo tempo que fortalece sua marca como museu dinâmico, aberto a parcerias e que valoriza a democratização da arte e o diálogo com outras instituições.
Elizabeth Machado Presidente da Diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Arte moderna e contemporânea em foco
A Galeria de Arte do Centro Cultural Fiesp tem a satisfação de abrigar a exposição MAM São Paulo:
encontros entre o moderno e o contemporâneo. A mostra reúne ícones da história da arte para
debater e refletir sobre os possíveis marcos de transição entre a arte moderna e a arte contemporânea, por meio do acervo do Museu de
Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo). A exposição proporciona ao visitante aprender e refletir sobre o contexto cultural e os fatos históricos que permearam a concepção e criação das obras, bem como as reverberações que essas obras exercem no tempo presente. O SESI-SP é uma instituição que trabalha pela educação de forma ampla e a cultura tem papel de destaque. Assim, todas as ações e projetos desenvolvidos pela instituição visam à formação de novos públicos em artes, a difusão e o acesso à cultura de forma gratuita, além da promoção da economia criativa nacional.
SESI-SP.
MAM São Paulo:
encontros entre o moderno e o contemporâneo
A coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com mais de 77 anos de história, é marcada
por transformações e reformulações que refletem sua importância para a arte moderna e contemporânea no Brasil. Desde a segunda metade da década de 1960, o acervo do MAM vem sendo renovado e ampliado. Contando com doações significativas de colecionadores, críticos e outros incentivadores da arte, assim como dos próprios artistas, o MAM reúne hoje mais de 5 mil obras. Grande parte delas, porém, corresponde à chamada “arte contemporânea”, que se
refere, de modo geral, à produção dos artistas nos últimos 60 anos. Esse contingente supera em
quantidade e volume as obras de “arte moderna”, aquelas usualmente vinculadas às vanguardas
modernistas da primeira metade do século XX. Diante do encontro entre arte moderna e contemporânea no acervo do MAM, podemos refletir sobre o debate recorrente em torno das definições de “modernidade” e “contemporaneidade” e os modos como estas se relacionam
com as produções artísticas. Afinal, as narrativas históricas que pontuam a arte moderna e a
arte contemporânea numa linha do tempo nem sempre dão conta de determinar a sua separação, à
medida que partidos estéticos e assuntos convergem e se misturam, inclusive em inúmeras obras
pertencentes à coleção do MAM. Se o início da arte moderna se deu com as vanguardas europeias
na virada entre os séculos XIX e XX, a produção dos modernistas brasileiros se estendeu pela
maior parte desse último século, colocando-a, assim, em um ritmo próprio de elaboração e superação. De fato, o início da produção contemporânea no Brasil pode ser compreendido a partir
do desdobramento de uma das últimas vanguardas modernistas, o construtivismo, nas vertentes
concretista e neoconcretista e seu diálogo com vanguardas distópicas como a pop art.
A arte moderna nasce como uma ruptura com o passado e com a arte acadêmica. Já a arte
contemporânea representa, para muitos, uma quebra em relação aos preceitos modernos, como
o formalismo e a especificidade técnica dos suportes, introduzindo novas linguagens e mídias. A
noção de vanguarda, típica da arte moderna, que sonhou em revolucionar o mundo e
representou uma promessa de liberdade, tende a se perder no momento contemporâneo. Na arte
mais recente, a ideia romântica de um mundo melhor perde espaço, assim como a crença na razão e no cientificismo, dando lugar para reflexões sobre a insustentabilidade dos nossos modos de vida e para microutopias almejadas individualmente.
Obras de diferentes períodos da história da arte brasileira recente estão reunidas em seis núcleos na exposição: “Natureza: fim da representação”, “Ambiente urbano: habitat da modernidade”, “Corpos: políticas da relação”, “Formas de construir e romper”, “Fragmentos, gestos e abstrações”, e “Mídias: tradições atualizadas”. Esses núcleos temáticos aproximam produções de tempos e contextos distintos para demonstrar que a recorrência de questões da modernidade na contemporaneidade é um dado próprio do tempo vivido e muitas vezes em períodos sobrepostos. No interior dos núcleos, trabalhos produzidos por artistas em atividade dialogam com obras vinculadas às vanguardas modernistas. Seja através de qualidades visuais, ou de procedimentos técnicos e conceituais, essas obras prolongam até os dias atuais questões inicialmente desveladas pela modernidade industrial, que continuam sendo agravadas pelos esforços desenvolvimentistas e pelo avanço tecnológico. A percepção de continuidade nessas formas de pensar e revelar a realidade é justamente a ferramenta crítica que a sociedade necessita para lidar com os desafios distópicos que se apresentam a todo o mundo. O acervo atual do MAM nos coloca, assim, questões que esbarram em problemáticas culturais, sociais e históricas: Qual é a relação entre as ideias de “moderno” e “contemporâneo”? Em que diferem e o que as aproxima? E como isso implica as nossas formas de produzir cultura e narrar a história? Trata-se apenas de uma distinção de períodos ou estilos? Certamente há diferenças históricas e teóricas que merecem ampla discussão, mas, afinal, é possível traçar com precisão a fronteira visual e temporal entre a arte moderna e a arte contemporânea? De que modos so se relaciona com a percepção do tempo histórico e do tempo vivido? A exposição aponta para essas questões, não para respondêlas definitivamente, mas sim para contribuir com outras formas de
abordagem, oferecendo ao público autonomia para se surpreender com as reflexões despertadas pela arte, seja de qual tempo ela for.
curadores Cauê Alves e Gabriela Gotoda.
Entre o moderno e o contemporâneo, o fim da história da arte e a indeterminação.
Definir o que seja a arte moderna e suas diferenças em relação à arte contemporânea, que para alguns autores teria posto fim à história da arte, não é tarefa simples. O moderno não é apenas um conceito referenciado no tempo e numa época histórica, assim como arte contemporânea não é apenas a arte moderna feita hoje pelos artistas da atualidade. A noção de arte moderna também diz respeito a um (ou vários) estilo(s), uma vez que nem tudo o que foi produzido entre o último terço do século XIX até mais ou menos a década de 60 do século XX é moderno. Os modernos, mesmo que sob certa perspectiva possam ser vistos em continuidade com a arte que os antecedeu, colocaram se em franco embate com a arte acadêmica e oficial dos salões, que nem por isso deixou de ser produzida ao longo dos séculos XIX e XX. Segundo o crítico de arte estadunidense Arthur Danto, “a história da arte evoluiu internamente, a contemporânea passou a significar uma arte produzida dentro de certa estrutura de produção jamais vista antes”.¹ Essa estrutura envolve um enorme circuito de arte com apoio institucional e de mercado de proporções sem precedentes antes da arte pop. “Da mesma forma que o ‘moderno’ veio a denotar um estilo e mesmo um período, e não apenas arte recente, ‘contemporâneo’ passou a designar algo mais do que simplesmente a arte do momento presente”.² Segundo o crítico, a arte contemporânea “designa menos um período do que o que
acontece depois que não há mais períodos em alguma narrativa mestra da arte, e menos um estilo
de fazer arte do que um estilo de usar estilos”.³ No circuito da arte atual, é recorrente o discurso que reafirma uma dicotomia entre “moderno” e “contemporâneo”, já que este se caracterizaria por uma espécie de “desordem informativa”,
de “entropia estética” e de total liberdade, onde tudo está permitido uma vez que não há mais limites
históricos e tampouco uma clara oposição entre arte e não-arte. Trata-se do sentimento de que não
há uma direção ou traço único que defina o período. Um ponto central na argumentação de Danto é a discussão do trabalho de Andy Warhol, Brillo Box, de 1964, uma caixa de sabão em pó que, embora feita de madeira e impressa em silk screen, visualmente não se distingue de qualquer outra que esteja na prateleira de um supermercado. A partir desse trabalho, já não há mais nada que permita a distinção entre um objeto mundano qualquer e uma obra de arte. Não haveria limites entre arte e não-arte, ou melhor, essa definição deixa de estar no campo da percepção sensível e se desloca para o pensamento e para a narrativa da história da arte. Para Andy Warhol, ainda segundo Danto, sequer haveria a necessidade de um artista encontrar um estilo próprio, uma espécie de sistema de equivalências, um modo pelo qual o artista é reconhecível pelos outros. Um artista pode produzir num momento obras pop, em outro expressionistas e, na semana seguinte, geométricas. Isso seria indício da liberdade total da arte contemporânea.
O crítico ítalo-brasileiro Lorenzo Mammì, ao contrário, compreende que a crise da noção de estilo
individual, ao invés de levar a uma ampliação da liberdade, indica uma maior rigidez.
Mesmo dentro da mesma
personalidade, não podemos
deixar de notar que o maior dos
artistas modernos, Picasso,
experimentou uma variedade
enorme de estilos conflitantes,
às vezes dentro de uma mesma
obra. E que, em geral, quase
todos os artistas do modernismo
mostraram ao longo de sua obra
uma variedade de recursos muito
maior do que Andy Warhol, que,
no entanto, segundo Danto, seria
o iniciador do trânsito livre entre
os estilos.⁴
O que parece substituir a noção de estilo na arte contemporânea, considerando que o processo é cada vez mais valorizado, é a reiteração de certos gestos e procedimentos técnicos (o silk- screen de Warhol) que acabam ocupando esse lugar. É como se o estilo se tornasse um procedimento, algo de que o artista tem todo o conhecimento e que, portanto,não será mais “o emblema de uma maneira de habitar o mundo”.⁵ No caso de Warhol, tudo se passa como se a pintura já existisse antes mesmo de ser pintada. A isso se acrescenta o ritmo acelerado com que surgem novos trabalhos sem que eles tenham a possibilidade ou intenção de instituir um estilo novo. Esses mesmos trabalhos são rapidamente descartados para dar lugar a novos. Seria justamente isso que impossibilitaria, segundo o historiador da arte alemão Hans Belting, um modelo de história da arte que tenha como fundamento o estilo de uma época e a lógica interna da arte. É isso que proporcionaria a dissolução
da unidade interna da história da arte ou de sua narrativa, ao menos de uma história da arte vista
como universal. O principal alvo das críticas de Danto é a narrativa modernista do mais influente crítico de arte moderna estadunidense, Clement Greenberg,⁶ que buscou definir a essência do modernismo a partir de uma ideia de pureza e de autoconsciência da pintura moderna em direção à sua planaridade, ou seja, daquilo que é próprio e exclusivo da pintura. Segundo Danto, com a ausência de uma linha narrativa única, nossa época abre-se a grandes possibilidades experimentais. O fim de qualquer narrativa é o que marca o fim da história da arte e, segundo o autor, baseado em Belting,⁷ do mesmo modo que existe arte antes da era da arte (que se inicia no Renascimento), continuará havendo arte após o fim da arte. Trata-se do fim de uma história da arte linear ou, como elabora Belting: “do fim de determinado artefato, chamado história da arte, no sentido do fim de regras do jogo”,⁸ mesmo que de outra maneira a história prossiga. Deixa de existir uma história da
arte contada a partir de estilos ou uma história da arte distinta da história da cultura. Assim, ao mesmo tempo em que se extinguem as vanguardas, desaparecem as limitações sobre o modo como
o trabalho de arte poderia se formar. Passou a ser cada vez mais recorrente a noção de apropriação
de outras imagens, em que, obviamente, a noção de estilo uniforme não é mais relevante. Belting e, principalmente, Danto se valem da noção hegeliana de fim da arte “como tomada de consciência da verdadeira natureza filosófica da arte”.⁹ Para esses autores, se o Espírito em Hegel se desenvolve em três etapas, da religião em direção à arte e desta em direção à filosofia, a nossa época marca justamente a perda da importância da arte para a pura reflexão, o puro pensamento.
A arte deixa de ser, em Hegel, a manifestação do Espírito Absoluto, tal como fora na Grécia antiga.A arte – tendo se tornado autorrefletiva desde a arte moderna, com a “Era dos Manifestos” – passou a trazer para dentro de si o pensamento filosófico. A predição de Hegel seria confirmada assim, segundo Danto, pela própria história da arte que a sucedeu. A narrativa da arte termina quando a natureza filosófica da arte passa ao primeiro plano.
Agora, disse Hegel, e ele estava
certo, a arte “nos convidava a
uma contemplação intelectual”
especificamente sobre sua
própria natureza, esteja sua
contemplação sob a forma de
arte em um papel autorreferencial
e exemplar ou na forma de
filosofia real.¹⁰
O contemporâneo, para Danto, seria um período de maturidade da arte, momento em que esta teria abandonado o seu viés excessivamente materialista, sua preocupação com pigmento, superfície, forma etc., ou seja, aquilo que a definia em sua pureza interna, no sentido proposto por Greenberg, para se aproximar da filosofia. Com isso, a visibilidade desloca-se do centro da discussão estética. A essência da arte deixou de ser o campo do visível para pertencer, prioritariamente, ao campo do pensamento, ou seja, cruza-se o limiar para uma arte conceitual. Assim, ainda que não se tenha transformado em filosofia, a arte ao menos passoua compreender a sua natureza filosófica.
Para Danto, mesmo que continue existindo arte após o “fim da arte”, ela não está inserida numa narrativa unificadora, que se encerrou por volta dos anos de 1970 e 1980. Tudo o que se fez em arte desde então seria compreendido em um período pós-histórico. Os artistas desse período passaram a ignorar os “critérios modernistas”, reconhecendo que a narrativa do modernismo havia chegado ao fim. Ainda segundo Danto, que vem da tradição da filosofia analítica, o único pensador na história da estética que compreendeu o conceito de arte em toda a sua complexidade foi Hegel. Segundo o crítico estadunidense, “nenhum filósofo levou tão a sério a dimensão histórica da arte”.¹¹ Exceções são feitas a Nietzsche e a Heidegger. É preciso pontuar que o pensamento de Nietzsche¹² sobre a história é oposto à filosofia da história de Hegel e sua teleologia idealista, já que Nietzsche traz a ideia do “eterno retorno” e uma concepção circular do tempo — como se a história fosse um grande relógio de ponteiros que tende sempre a recomeçar. Nesse sentido, haveria para Nietzsche certas engrenagens ocultas da história que são fixas. Trata-se de uma recusa do tempo
histórico e linear, uma vez que as repetições pressupõem a temporalidade como eternidade. Por outro lado, talvez Danto salve Heidegger porque, em A origem da obra de arte, publicada em 1950, ele escreveu que era cedo para afirmar se o pensamento de Hegel era verdadeiro ou falso.
A decisão final acerca do
veredicto de Hegel ainda não foi
proferida […]. A decisão acerca
do veredicto de Hegel será
proferida, se o chegar a ser, a
partir da própria verdade do ente
e a propósito dela. Mas até lá, o
veredicto de Hegel permanece
válido. Só por isso é que é
necessária a pergunta sobre
se a verdade, que o veredicto
anuncia, será definitiva, e o que
se passa, se assim for.¹³
Enquanto Heidegger questiona qual é a essência da obra de arte, Danto se confessa um essencialista,¹⁴ ou seja, sua noção de arte tem algo de atemporal e é elaborada abstratamente pela reflexão, mesmo que ele cite inúmeros artistas ao longo de sua obra e se baseie em exemplos concretos. A história faria parte da extensão do conceito de arte. Ou então, seu conceito de arte, na verdade, é a culminância da história da arte: no caso, a autoconsciência de sua natureza filosófica. O problema é justamente a conciliação entre essa absoluta liberdade da arte contemporânea citada pelo autor e a sua noção essencialista de arte. Danto irá tentar conciliar seu essencialismo ao historicismo hegeliano, daí a enorme presença da narrativa em seu pensamento. Para ele, a arte
sempre está ligada a uma narrativa, por isso nem tudo pode ser arte em todas as épocas.
Citando uma passagem de Wölfflin,¹⁵ Danto irá justificar pela narrativa o fato de Brillo Box de
Warhol não ser vista como arte em todos os tempos, assim como o readymade de Marcel Duchamp.
Portanto, nada impede que no futuro existam modos de arte hoje inimagináveis. O conceito filosófico
de arte de Danto precisará ser universal e abarcar não apenas um estilo ou narrativa particular, mas tudo o que se conhece por arte ao longo da história. Se o que é ou não arte deixa de depender
apenas do campo sensível ou da história da arte, para estar vinculada ao pensamento e a filosofia da
arte, de fato o que chega ao fim é certa tradição crítica calcada na visibilidade, representada por Greenberg. Danto aponta justamente o fato de as narrativas definirem a natureza da arte a partir
de uma noção muito particular — e excludente — de arte. Entretanto, há uma multiplicidade e
pluralidade na arte contemporânea que nenhum estilo ou definição lateral poderia abarcar.
Para Danto, não seria correto dizer que a história da arte parou, como se o tempo deixasse de
transcorrer, e sim que a história da arte está acabada “no sentido de que passou a ter uma espécie de autoconsciência, convertendo-se, de certo modo, em sua própria filosofia: um estado de
coisas que Hegel previu em sua filosofia da história”.¹⁶ De fato, mesmo que condene a visão da
história da arte moderna como um percurso teleológico, Danto acaba, indiretamente, aceitando-a. Para ele, haveria uma lógica interna à história, certo encadeamento necessário, pelo menos até a arte
moderna. A arte pós-histórica estaria livre disso, seria o momento da supressão dessa linha progressiva. Mesmo que o pensamento de Danto nos ajude a compreender as diferenças entre a arte moderna e a contemporânea e a transformação da relação entre arte e utopia, alguns filósofos do século XX, como o francês Maurice Merleau-Ponty, nos permitem dizer que não há um fim da arte nem propriamente uma elevação da arte para uma condição de autoconsciência ou autorreflexão
filosófica. Não seria preciso decretar o fim da arte ou o fim da filosofia, uma vez que, sendo diferentes, ambas podem se reencontrar sem que uma precise sucumbir à outra.
Para Merleau-Ponty, há diferença entre arte e filosofia e se a arte se tornasse filosofia ela deixaria de
ser arte. Entre as diferenças entre um acontecimento artístico e um acontecimento não-artístico está a sua fecundidade. Para que uma ação artística não seja superficial e insignificante terá que abrir
caminho e, do seu próprio interior, gerar um porvir. Está contido no presente — em uma ação atual ou em uma obra de arte — aquilo que ainda virá. Não é possível determinar como, quando e tampouco o que virá, apenas que algo virá. O futuro é, portanto, o que é prometido pelo próprio presente.
Mas o presente, assim como qualquer obra de arte, não contém previamente o que irá acontecer ou
os desdobramentos que um artista ainda irá inventar, apenas contém uma abertura, uma possibilidade para que outras coisas aconteçam a partir dele.
Segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben, a contemporaneidade seria “uma singular relação com
o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”.¹⁷ Aqueles que se identificam plenamente com o próprio tempo não são contemporâneos porque não conseguem vê-lo. Diferente da etimologia da palavra em que contemporâneo está ligado ao que ocorre no mesmo tempo, haveria algo de inatual em sua definição, quer dizer, uma dissociação entre tempos, um anacronismo. Há, portanto, algo de inapreensível no contemporâneo. Na impossibilidade de determinar com precisão o que seria atual ou inatual, conclui-se que existe sempre algo de arcaico no contemporâneo, ou seja, uma relação com o originário. As relações entre o moderno e o contemporâneo passam, assim, por uma ambiguidade e indeterminação. A história não pode estar destinada a ter uma conclusão, culminando no fim da história da arte ou no momento pós-histórico. É preciso manter as significações abertas sem delimitar seu início e fim precisos, ainda mais quando lidamos com obras de arte, que possuem múltiplos e contraditórios sentidos de acordo com o contexto curatorial em que são mostradas.
Cauê Alves.
1. Danto, A. Após o fim da arte: A arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: Odysseus Editora, 2006 [1997], p. 12.
2. Idem, ibidem, p. 12-3.
3. Idem, ibidem, p. 13
4. Mammì, Lorenzo. Mortes recentes da arte. Novos Estudos CEBRAP, n. 60, p. 81, jul. 2001.
5. Merleau-Ponty, M. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. Textos Escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p. 342.
6. Greenberg, Clement. Pintura modernista. In: Ferreira, Glória; Cotrin, Cecília (org.). Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de Janeiro:
Funarte; Jorge Zahar, 1997.
7. Belting, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac Naify, 2006 [1995].
8. Idem, ibidem, p. 9.
9. Danto, op. cit., p. 34.
10. Danto, op. cit, p. 164.
11. dem, ibidem, p. 217.
12. Nietzsche, F. Escritos sobre história. Rio de Janeiro: Ed. PUC – Rio; São Paulo: Loyola, 2005.
13. Heidegger, Martin. A origem da Obra de Arte. Trad. Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70, 2008.
14. Conforme define Danto em Após o fim da arte: “Por ‘essencialista’ refiro-me à condição de ser uma definição mediante condições necessárias e suficientes, à maneira filosófica canônica” (op. cit. p. 215)
15. Wölfflin, Heinrich. “Prefácio da sexta edição” Conceitos fundamentais da história da arte: o problema da evolução dos estilos na arte mais recente. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. IX-X.
16. Danto, A. A transfiguração do lugar-comum. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 26.
17. Agamben, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outras ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009, p.59.
Coleção MAM São Paulo:
onde arte moderna
e contemporânea se
encontram.
Uma série de circunstâncias históricas faz da coleção de artes visuais do Museu de Arte Moderna de São Paulo o contexto de um encontro constituinte entre a arte moderna e a arte contemporânea.
Fundado em 1948, nos moldes do Museu de Arte Moderna de Nova York, patrocinado pela autoridade cultural e política de Nelson Rockefeller, que ocupava a presidência daquele museu, o MAM São Paulo participou diretamente no processo de institucionalização da arte moderna no Brasil. Com a atuação ativa de artistas, críticos e escritores que buscavam instaurar no contexto local o suposto espírito revolucionário das vanguardas transatlânticas, rompendo com a arte acadêmica do período colonial, o MAM também promoveu as primeiras edições da Bienal de São Paulo, apresentando ao público e aos artistas brasileiros a produção mais recente de diferentes partes do mundo (com o destaque usual às vanguardas europeias e estadunidenses). Através dessa relação com o meio artístico local e da promoção recorrente de um evento internacional, o primeiro acervo
do museu foi se constituindo com obras dos grandes artistas do período, muitos representantes
conhecidos dos movimentos nacionais e internacionais das vanguardas modernistas do século
XX. Reunindo obras de Henri Matisse, Pablo Picasso, Paul Klee, Jacob Lawrence, Tarsila do Amaral,
Anita Malfatti, Lasar Segall, Maria Martins e Alfredo Volpi, entre outros, esse acervo foi transferido do MAM para a Universidade de São Paulo em 1963. Concomitante a isso, houve a emancipação da Bienal, que passou a ser realizada por uma fundação criada exclusivamente para este fim. Ambos os fatos resultaram de decisões de Ciccillo Matarazzo, fundador e então presidente do MAM, e impactaram profundamente a história, a estrutura e a missão do museu dali em diante.
Não é a intenção desse texto refletir extensivamente sobre esses fatos históricos. No entanto, é importante destacar o que sucedeu à transferência do acervo inicial do MAM à USP — notadamente,
a criação do seu Museu de Arte Contemporânea — e a premissa colocada em prática com o surgimento desse novo museu: a musealização da arte moderna foi e continuaria sendo o paradigma
institucional da arte contemporânea. Entre a história do momento que se convencionou chamar “moderno” e do momento que chamamos de “contemporâneo” aconteceu a assimilação daquilo que se chama “modernidade” na forma de novas instituições culturais, incumbidas de incorporá-la no
processo de homogeneização cultural do cânone. As vanguardas e suas invenções foram primeiro
posicionadas em oposição radical, até mesmo rebelde, ao regime estético que dominava o campo
das artes desde o Renascimento; e, em seguida, na véspera do prazo de validade do seu estatuto
de novidade, passaram a ser promovidas pelas instituições que, para sobreviverem à sua contemporaneidade, precisaram se renovar. Essa constatação é ainda mais clara quando consideramos que, paralelo à fundação do MAC USP, esforços eram feitos para manter vivo o MAM, mesmo desprovido de sede e coleção. A coincidência entre a quase dissolução e a consequente reformulação de um museu dedicado à arte moderna e a fundação pari passu de um museu dedicado à arte contemporânea é a marca sincrônica do ciclo de gênese, consolidação e falência do espírito vanguardista sobre a modernidade no interior do seu processo de institucionalização.
Após meia década de vida nômade, o MAM São Paulo conquistou uma nova sede com a concessão
municipal do edifício sob a marquise do Parque Ibirapuera, decretada em 1967, mesmo ano em que
recebeu como legado uma grande parte da coleção de Carlo Tamagni, importante colecionador da arte moderna brasileira, reintroduzindo à nova coleção do MAM alguns dos modernistas brasileiros
citados anteriormente. O museu foi reinaugurado em 1969 com a primeira edição do Panorama da
Arte Brasileira, então chamado de “Panorama de Arte Atual Brasileira”, uma mostra recorrente dedicada a promover a produção artística mais recente no país, incluindo as obras mais atuais de artistas já consolidados, assim como trabalhos mais experimentais de jovens artistas.
Através das 38 edições do Panorama realizadas até hoje, o MAM construiu um dos mais importantes acervos institucionais da chamada “arte contemporânea brasileira”, sendo pioneiro, inclusive,
no processo de musealização de diversas novas mídias e linguagens, como a videoarte, a instalação, a vídeo-instalação e a performance. Premiações, aquisições patrocinadas, e doações voluntárias dos artistas participantes possibilitaram a incorporação de obras de artistas relevantes e em atividade nas últimas décadas, como Tunga, Carlos Fajardo, Ernesto Neto, Laura Lima e Rosana Paulino, entre outros. Ao mesmo tempo, os Panoramas também viabilizaram a entrada de obras de artistas já consagrados no acervo do MAM, como Arcangelo Ianelli, Emanoel Araújo, Alfredo Volpi, Lothar Charoux, Rubem Valentim e Franz Weissmann, nomes representativos da arte moderna brasileira que preservaram a marca de seus estilos até as suas produções mais tardias. Assim, a perda do acervo original e a recomposição iniciada nos anos de 1960 convergiram na característica da coleção do
MAM que buscamos destacar na exposição: o convívio imprevisto entre obras de artistas considerados modernos e obras produzidas nas últimas sete ou seis décadas, da chamada “arte contemporânea”. É como se, na coleção do MAM, a suposta promessa de superação da tradição naturalista e acadêmica, proferida pela arte moderna em sua postura utópica e vanguardista, e a aparente prova da sua falha, evidenciada pela arte contemporânea e seu fatalismo distópico, fossem forçadas a conviver em mútua realização. Mas, para vislumbrar e dar sentido a essa coexistência,
seria necessário distinguir definitivamente uma de outra? Talvez seja natural imaginar que, para reconhecer o encontro entre diferenças, devemos focar nos contrastes entre elas, contornando
as formas e nuances das suas divergências, que justificariam a importância de tentar aproximá-
las. Muitas teorias e perspectivas filosóficas foram elaboradas nas últimas décadas no esforço
de elucidar as especificidades da arte moderna e da arte contemporânea por meio da ideia
de “modernidade”, conceito com caráter de processo efêmero- histórico, que teria propiciado o surgimento das vanguardas e, consequentemente, a ruptura e o contraste realizados pelas
produções mais recentes. O filósofo Jacques Rancière, porém, pontua que:
A ideia de modernidade é
uma noção equívoca que
gostaria de produzir um corte
na configuração complexa
do regime estético das artes,
reter as formas de ruptura,
os gestos iconoclastas etc,
separando-os do contexto
que os autoriza: a reprodução
generalizada, a interpretação, a
história, o museu, o patrimônio…
Ela gostaria que houvesse
um sentido único, quando a
temporalidade própria ao regime
estético das artes é a de uma
co-presença de temporalidades
heterogêneas.
A noção de modernidade
parece, assim, como inventada
de propósito para confundir a
inteligência das transformações
da arte e de suas relações
com as outras esferas da
experiência coletiva.¹⁸
A arte moderna e a arte contemporânea coexistem para além de uma relação de detrimento e oposição, pois ambas se informam e se relacionam através de referências e contextos paralelos, sobrepostos cultural e politicamente na experiência coletiva, seguindo o pensamento de Rancière. O que isso aponta é que a definição ideal, seja ela positiva ou negativa, pode causar inconsistências. Alfred Barr, primeiro diretor do MoMA, publicou um texto em 1934 apontando justamente para a variabilidade consecutiva nas atribuições de “moderno” na linha do tempo histórico e na narrativa
então vigente sobre a arte das vanguardas.¹⁹A “história moderna” seria uma expressão ambígua e flexível, com datas variáveis a depender da oposição eleita. Por exemplo, se vista em oposição à
história clássica ou antiga, a história moderna teria se iniciado com a queda do Império Romano. Mas, se o período medieval for encarado com alguma autonomia, a era moderna teria se iniciado com a queda de Constantinopla ou com a descoberta das Américas, ou, ainda, se o foco for a história da
Europa moderna, esse período teria a Revolução Francesa ou a Guerra Franco-Prussiana como ponto de partida. Da mesma forma, atribuir o termo “moderno” à arte com algum grau de precisão cronológica (ocidental) significaria ignorar que o seu uso ocorre ao menos desde o Renascimento, quando esse adjetivo era usado como marca de aprovação das novas emulações da arte greco-romana, e que, em seguida, com a guinada barroca, adquiriu tons de reprovação. Segundo Barr,
Em termos cronológicos, o
termo “arte moderna”
é tão elástico que só pode
ser definido escassamente.
E, em termos coloquiais, a
expressão “arte moderna”
é usada de forma alheia à
cronologia acadêmica. “Arte
moderna” é recorrentemente
um assunto para debate, para
ser atacado ou desfigurado,
para servir de bandeira aos
progressistas, ou de alerta
para os conservadores. Nesse
sentido, a palavra “moderna”
se torna um problema que tem
menos a ver com tempo do que
com preconceito. […] A verdade
é que a arte moderna não pode
ser definida em qualquer grau
de finalidade no tempo ou no
caráter, e qualquer tentativa de
fazê-lo pressupõe uma fé cega,
conhecimento insuficiente,
ou uma falta acadêmica
de realismo.²⁰
A convergência entre arte moderna e contemporânea ocorre naturalmente na coleção do MAM São Paulo por circunstâncias históricas, mas, na experiência compartilhada do tempo-espaço presente, ela se dá pela diversidade de temporalidades vividas ou rememoradas, que mantêm as produções que se dirigem à modernidade em estado de relatividade e significação permanente. Afinal, as vanguardas modernistas são chamadas assim precisamente pela percepção de que aquilo que propunham estava à frente do seu tempo, projetando-se de forma progressiva ao futuro, direcionando-se, assim, a uma modernização idealizada, e relativa ao passado. Já a arte que
é contemporânea aos dias atuais e às últimas décadas não deixa de se dirigir à modernidade, mas à nossa modernidade atual — essa que já apresenta uma série de falências e decepções com a herança dos modernistas. Diante disso, a postura utópica de transformação da realidade através da arte seria uma ingenuidade abstrata?
Ao propor diálogos ponderados entre obras de períodos diferentes, de perspectivas conceituais
ou formais diversas e de procedimentos técnicos distintos, a exposição e o recorte que ela
faz da coleção do MAM São Paulo sugere que, no encontro físico e público entre arte moderna e
contemporânea, as diferenças e especificidades não são definitivas, tampouco são essenciais para
que seja possível uma experiência estética e cultural. E, mesmo quando buscamos lastros para
estabilizar definições, o encontro espacial entre as obras ainda é capaz de introduzir novos sentidos
e percepções, suspendendo o peso de uma existência inaudita no espaço-tempo presente.
Além de contemplar peças emblemáticas presentes na coleção, a curadoria da exposição se debruçou sobre as obras que foram inseridas no acervo do MAM pela doação Tamagni de 1967, a
primeira incorporação que estreou a sua reconstrução, e por doações recentes, como a de Rose e Alfredo Setubal, de 2024, que transferiu ao museu obras contemporâneas, realizadas nos últimos 20 anos, e trabalhos das décadas de 1950 e 60 de artistas considerados modernos, reiterando a natureza dupla da coleção — sempre e ao mesmo tempo moderna e contemporânea. Além disso, a mostra foi organizada em núcleos que elencam questões caras às narrativas que acabam por distanciar as produções artísticas segundo critérios cronológicos ou teóricos. Os temas abordados
em cada núcleo podem ser colocados, em grande parte, em relação aos paradigmas históricos
da representação da natureza, ou da representação naturalista da realidade; da suposta dicotomia
entre figuração e abstração; do caráter construtivo da abstração; e da apropriação conceitual de
suportes não convencionais à arte. As obras tridimensionais de Ione Saldanha [p. 46-7], presentes
no centro do primeiro núcleo da exposição, “Natureza: fim da representação”, exemplificam e sintetizam algumas dessas relações. Artista liminar, que não pode ser facilmente classificada
como moderna ou contemporânea, Ione Saldanha se apropriou de troncos de bambus, medindo
quase 4 metros de altura, e os tornou suporte de uma pintura colorida e linear. A textura lisa e a
segmentação anelar comuns ao tronco do bambu foram recobertos por faixas de tinta acrílica, que
variam de cor e tamanho, mas que uniformemente se impõem sobre a ordem natural dessa espécie.
Subtraindo a natureza dela mesma, sem negá-la completamente, esse trabalho produz, assim, uma nova e ainda reconhecível materialidade. A procedência dessas obras no acervo do MAM não pode ser ignorada frente à sua virtude sintética: foram doadas pela artista na ocasião do primeiro Panorama, em 1969. Naquele momento, Ione Saldanha já era uma artista de carreira consolidada,
premiada dois anos antes na Bienal de São Paulo. Assim como muitas das obras apresentadas
na mostra de reinauguração do MAM, esse conjunto introduziu novas possibilidades técnicas
e conceituais para a produção artística daquele período. Sua condição tridimensional não comporta facilmente a classificação de “escultura”, pois não houve o ato de esculpir, propriamente, em sua realização. Tampouco poderia ser chamada de “pintura”, considerando que aquilo que convencionou-
se chamar assim pressupõe um suporte bidimensional. A disposição espacial dessas obras, especificamente orientada pela artista em um descritivo de montagem guardado no arquivo do acervo do MAM junto com os documentos da doação, talvez as coloque, hoje, próximas à ideia
de “instalação”, à medida que conduzem e conformam uma ambientação própria no local que ocupam e ressignificam. É justamente a imprecisão ou instabilidade de qualquer tentativa de submetê-las a uma definição, seja ela relacionada à arte moderna ou à arte contemporânea, que
fazem dessas obras um símbolo do encontro entre o moderno e o contemporâneo, que acontece
entre e no interior de um grande contingente de obras na coleção do MAM São Paulo.
Gabriela Gotoda.
18. Rancière, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2009, p. 37.
19. Barr Jr., Alfred H. “Modern and ‘Modern’”. Bulletin. Nova York: Museum of Modern Art, 1934. Disponível em https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/185/releases/MOMA_1933-34_0052.pdf. Acesso em 20 de março de 2025.
20. Ibid., tradução da autora.
Encontros com os públicos
MAM Educativo.
No início de uma visita mediada, costumamos nos apresentar. Sendo assim, façamos isso aqui também: somos a equipe do MAM Educativo composta por educadores e educadoras multidisciplinares, com seus saberes específicos e coletivos. Buscando elaborar uma reflexão sobre os termos “moderno” e “contemporâneo”, compartilharemos percepções vivenciadas em visitas, a
partir das nossas experiências com diversos públicos. Em nossa prática educativa no MAM São Paulo, partimos de perguntas disparadoras como “o que é um museu?”. Algumas respostas
emergem do público: “um lugar de coisas antigas”, “um lugar que tem dinossauros”, “um lugar que
guarda histórias”, entre outras. Diante dessas falas, observamos os encontros e desencontros das
expectativas dos públicos. Já quando perguntamos sobre o que tem em um museu de arte, muitas
vezes, a resposta é simplesmente “arte”. Mas, o que é arte? “Pintura”, “estátua”, “escultura”, “quadro”, “desenho”. Também chegam indagações como: “Vamos ver a Monalisa? Vamos ver o Van Gogh?”, “Picasso?”, “Leonardo da Vinci?”. Quando questionamos sobre o contexto da arte brasileira, às vezes surge o nome de “Tarsila do Amaral” ou “aquela pintura do pézão”. Especificando ainda mais: o que é o Museu de Arte Moderna e o que tem nele? Recebemos respostas do tipo: “artes modernas, novas”,“coisas tecnológicas e atuais”. O que em si apresenta uma contradição: o museu
enquanto um lugar antigo, porém com coisas modernas. Ocorre que, em muitos ciclos expositivos, o MAM São Paulo apresenta exposições de arte contemporânea. E daí surge uma nova pergunta: o que é contemporâneo? Geralmente um silêncio se instaura. Algumas pessoas dizem ser algo parecido com moderno, já outras dizem ser o oposto. Percebemos que o termo “contemporâneo” não parece tão familiar quanto “moderno”. O segundo é mais presente no cotidiano, frequentemente associado à ideia de mudança e ruptura com o passado. A palavra é usada para descrever a temporalidade e os avanços urbanos: “esse prédio é muito moderno”, “este tênis é moderno”, “você é super moderno”. Já contemporâneo remete à coexistência no mesmo tempo, como, por exemplo, ser contemporâneo de alguém. No entanto, para muitos, o termo soa distante e acadêmico. Colocando-nos em relação com as diversas percepções do que pode ser moderno e contemporâneo, buscamos privilegiar a experiência e fruição estética do público com a obra de arte, considerando sempre os seus
repertórios e contextos socioculturais. Isto, tendo em vista que, independente do período da obra, as discussões e leituras construídas têm o potencial de nos levar a questões éticas, estéticas e políticas
da sociedade em que vivemos. E nós vivemos no agora, junto aos públicos. Estes, tão importantes
para o campo da arte, têm em sua força e influência a possibilidade de experimentar, participar e tensionar as concepções a respeito de termos como contemporâneo e moderno, uma vez que são eles que entram no museu com sua bagagem. Entre o moderno e o contemporâneo, sempre houve e haverá… o público.
Amanda Alves Vilas Boas Oliveira,
Amanda Harumi Falcão, Amanda Silva dos Santos, Barbara Góes, Caroline Machado, Leonardo Sassaki, Luna Aurora Souto Ferreira, Maria Ferreira, Maria Iracy Costa, Mirela Estelles, Pedro Queiroz,
Sansorai Oliveira.
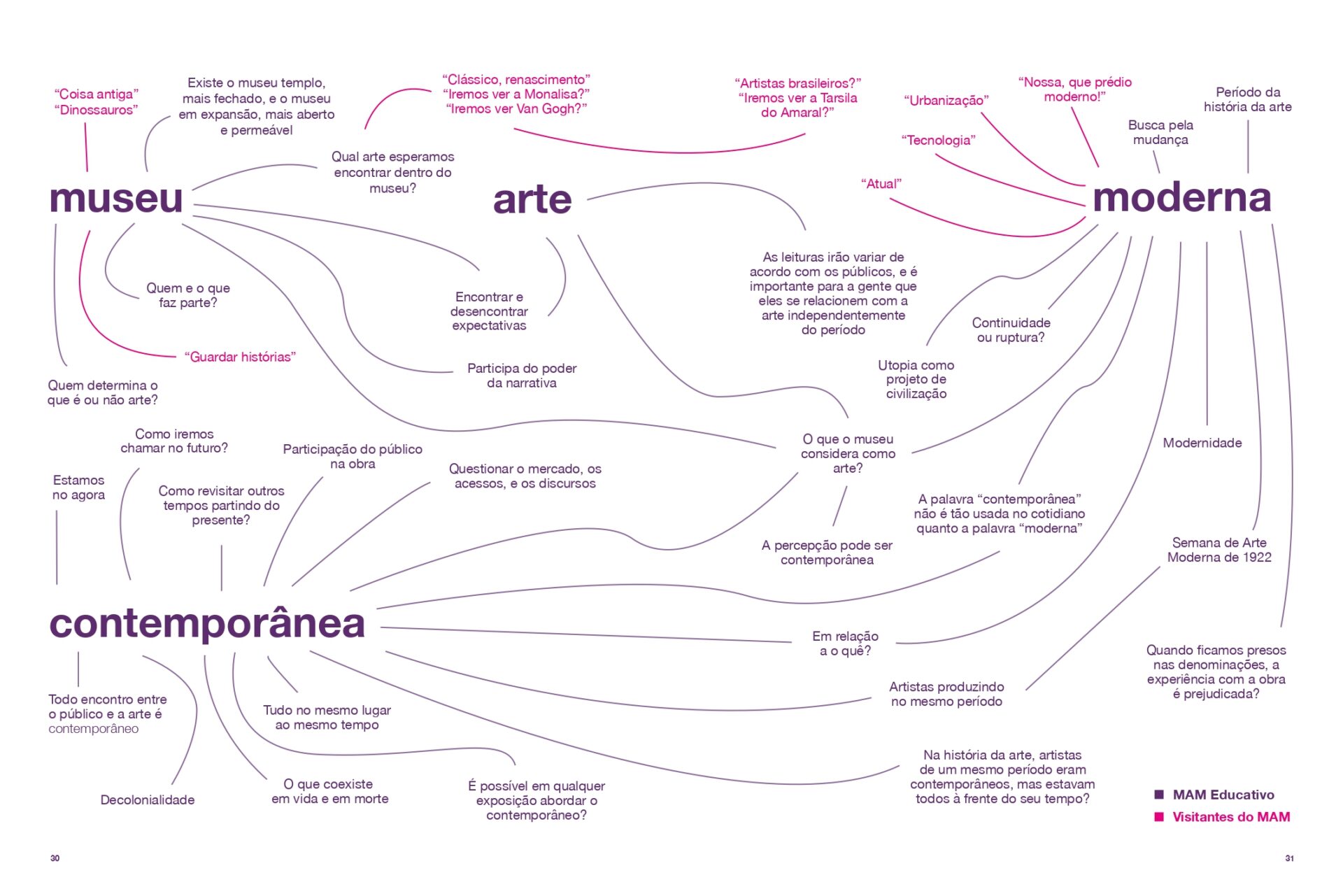
Natureza: fim da representação.
Por um longo período da história, a representação fidedigna da natureza foi considerada a finalidade absoluta da arte. As vanguardas modernistas e os artistas contemporâneos recusam essa prescrição e propõem novas formas de imaginar e refletir sobre as relações que estabelecemos com o mundo natural e seus elementos. As obras de Victor Brecheret e John Graz apresentam figuras por meio de volumes e desenhos sucintos, que correspondem às formas naturais sem a pretensão de imitá-las, realçando, em vez disso, seus traços mais significativos. A escultura de Siron Franco reproduz todos os aspectos físicos de um casulo, mas a semelhança é contestada pelo tamanho muito maior que o dos casulos encontrados na natureza. A pintura de Raoul Dufy e as gravuras de Oswaldo Goeldi e Carlos Vergara se aproximam pela expressividade das imagens: na primeira, as pinceladas coloridas
dão forma e movimento a um vaso de flores estático; na segunda, as linhas e manchas produzidas pela impressão xilográfica criam uma cena de mistério e melancolia; e, na terceira, o uso do óxido de ferro para imprimir a imagem de um peixe é indissociável da condição ambiental em que atualmente vivem muitos animais. As obras de Haruka Kojin e Ione Saldanha criam abstrações a partir da potência estética de elementos naturais combinados a cores sintéticas, e a pintura de Leonilson se apropria dos aspectos físicos do rio para criar metáforas de estados emocionais, fazendo da objetividade da natureza uma via de subjetivação.



Onça [Jaguar], 1930 granito [granite], 56 x 119 x 28 cm Doação [Donated by] Francisco Matarazzo Sobrinho, 1969.
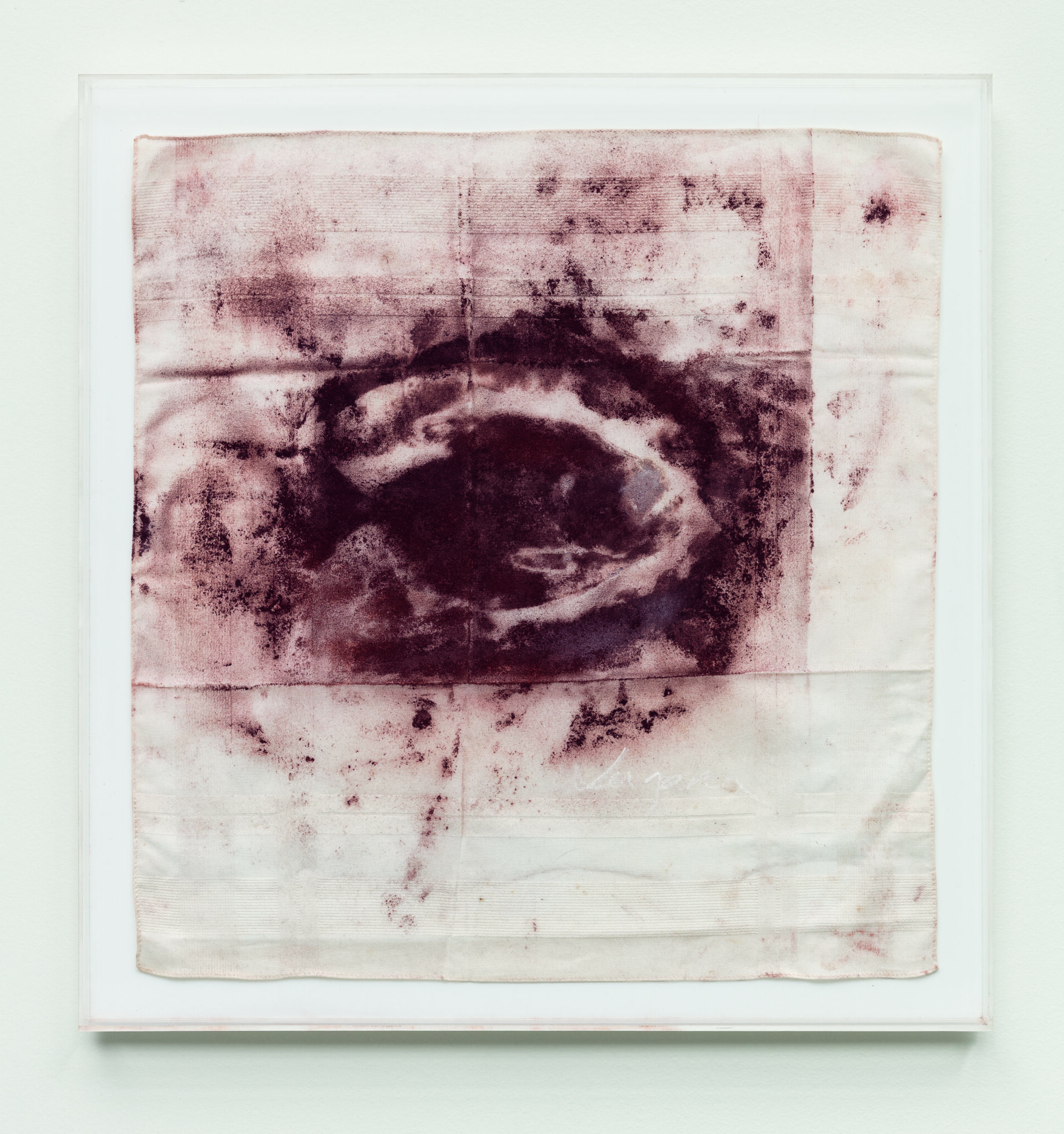


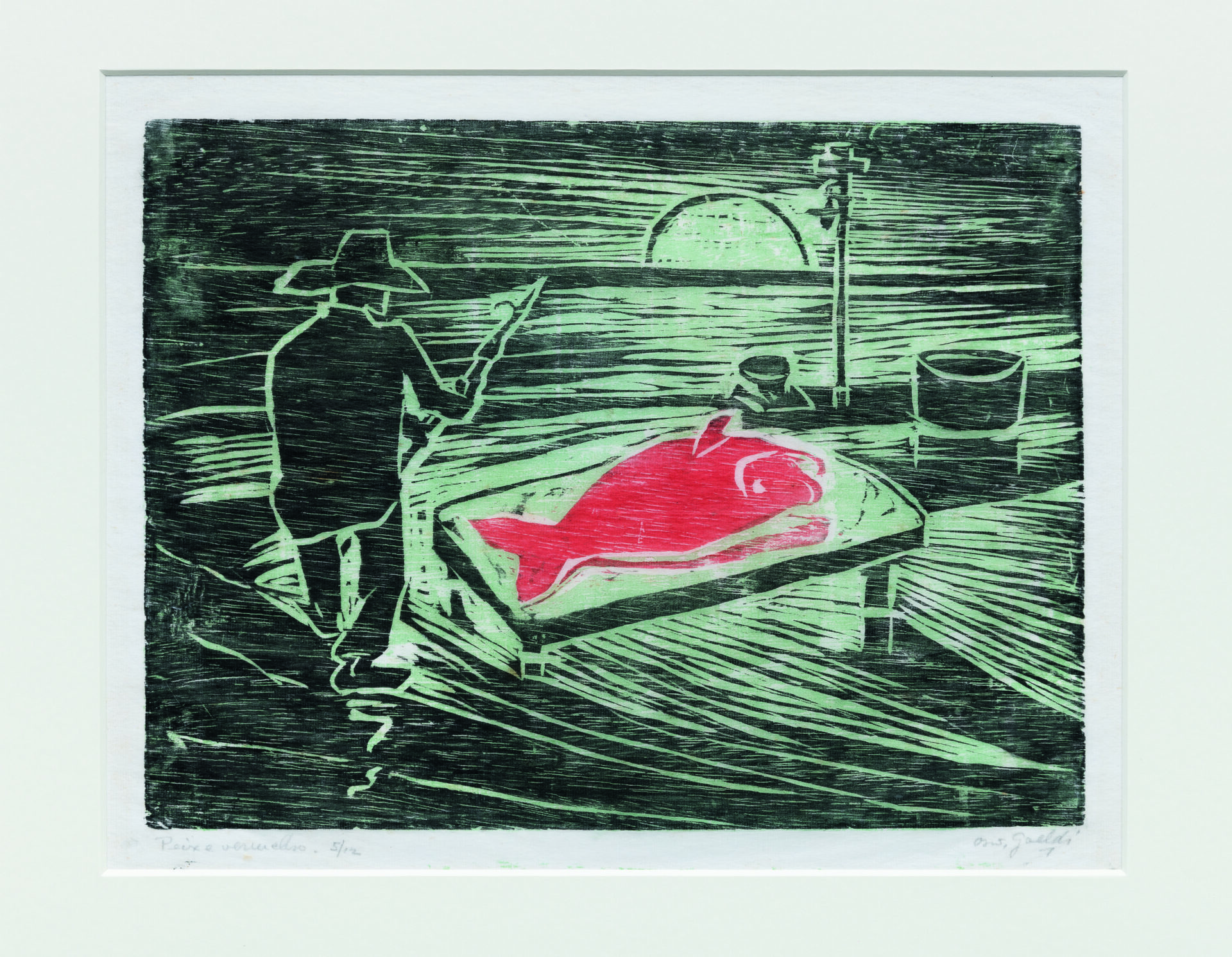
xilogravura sobre papel arroz [woodcut on rice paper], 30 x 41 cm Doação [Donated by] Milú Villela, 2006 © Goeldi, Oswaldo – Projeto Goeldi / AUTVIS, Brasil, 2025.
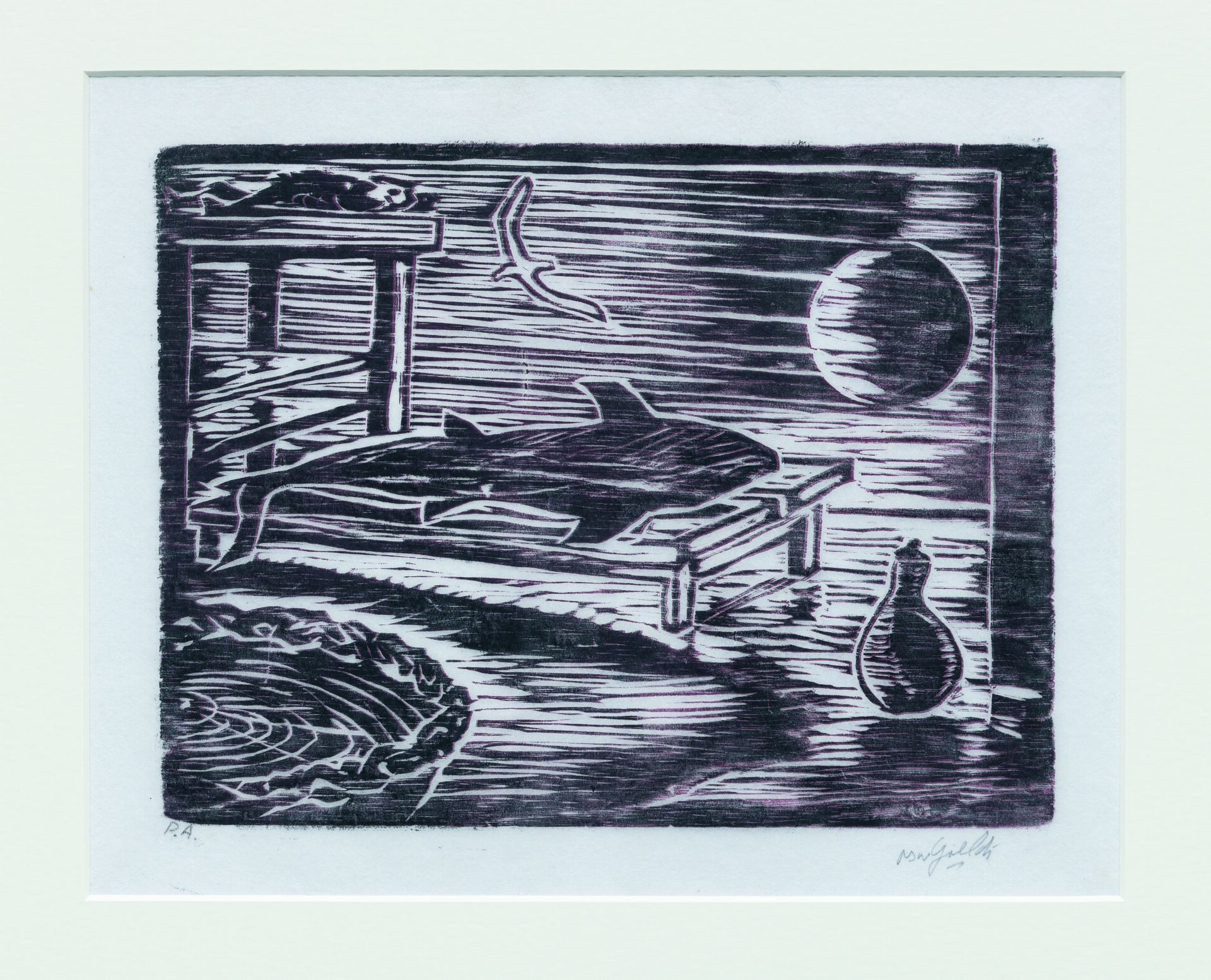


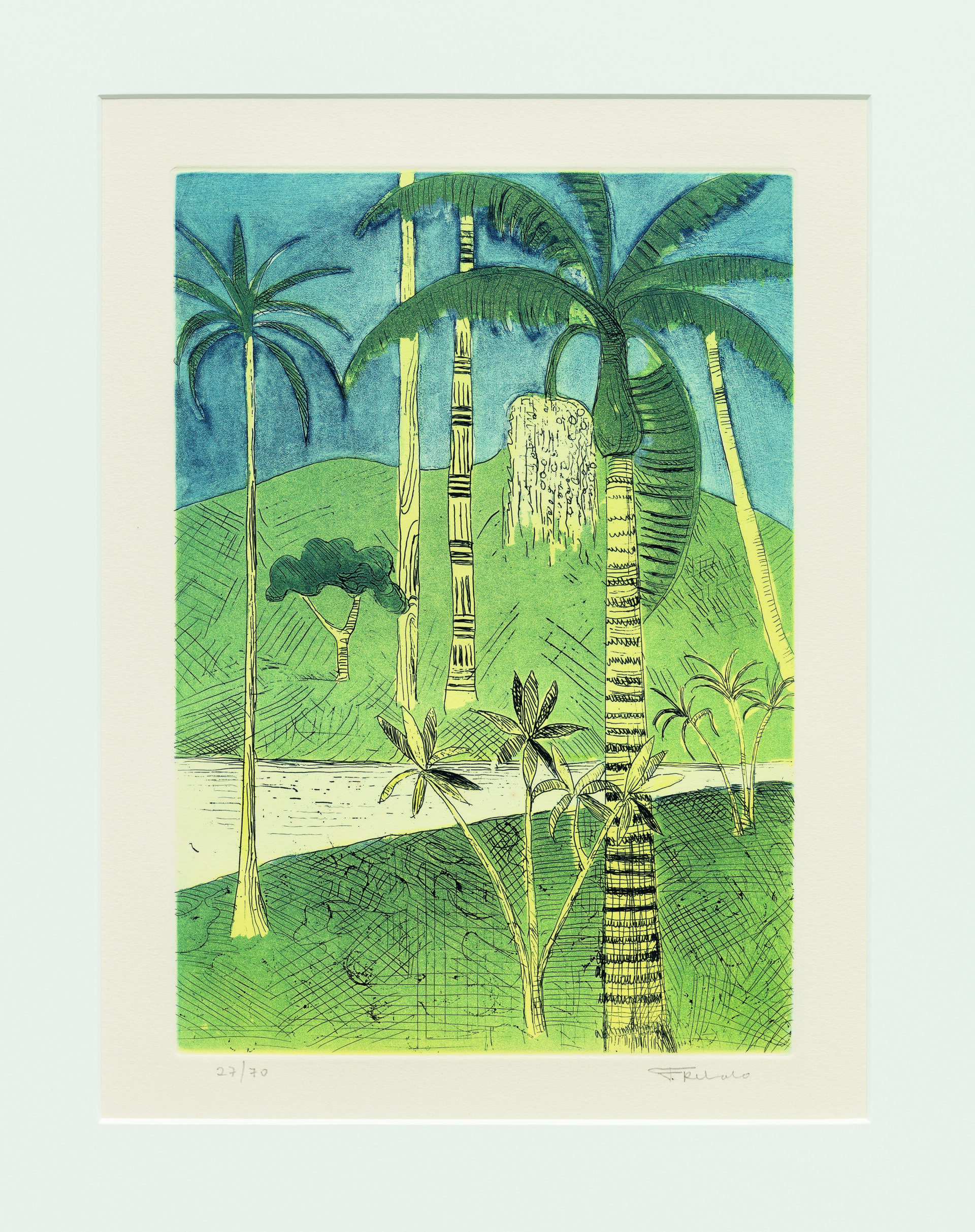
Doação [Donated by] Instituto Rebolo, 2003.



Sem título [Untitled], 1978 papel colado, pastel e aquarela sobre papel [pasted paper, pastel, and watercolor on paper], 47,2 x 25 x 2,5 cm (com moldura [framed]) Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.

Sem título [Untitled], 1978 aquarela, pastel e grafite sobre papel [watercolor, pastel, and graphite on paper], 47,5 x 24,5 x 2,5 cm (com moldura [framed]) Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.
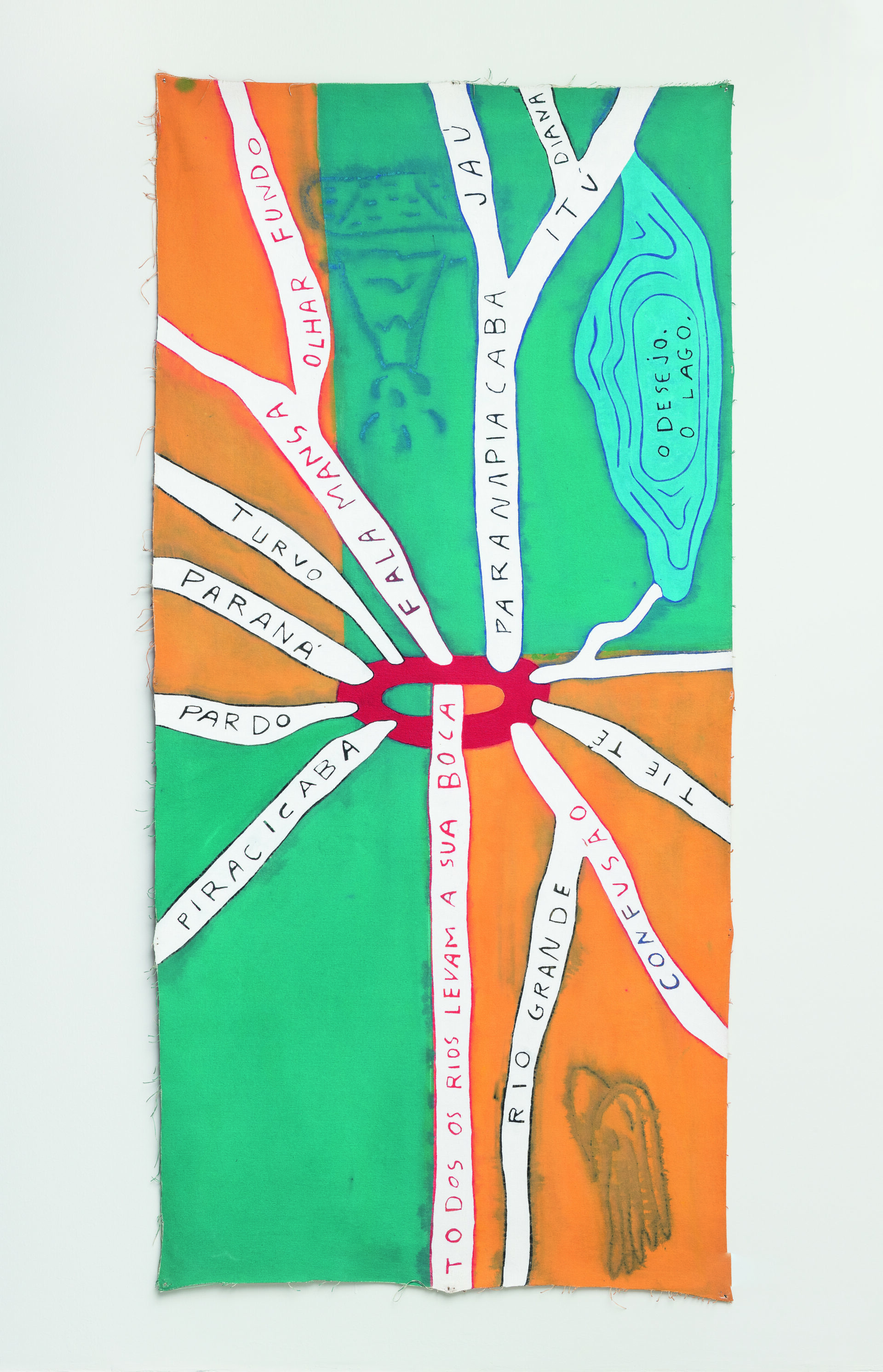

[Seascape With Cyanobacteria], 2017 afresco [fresco], 63 x 63 cm Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.
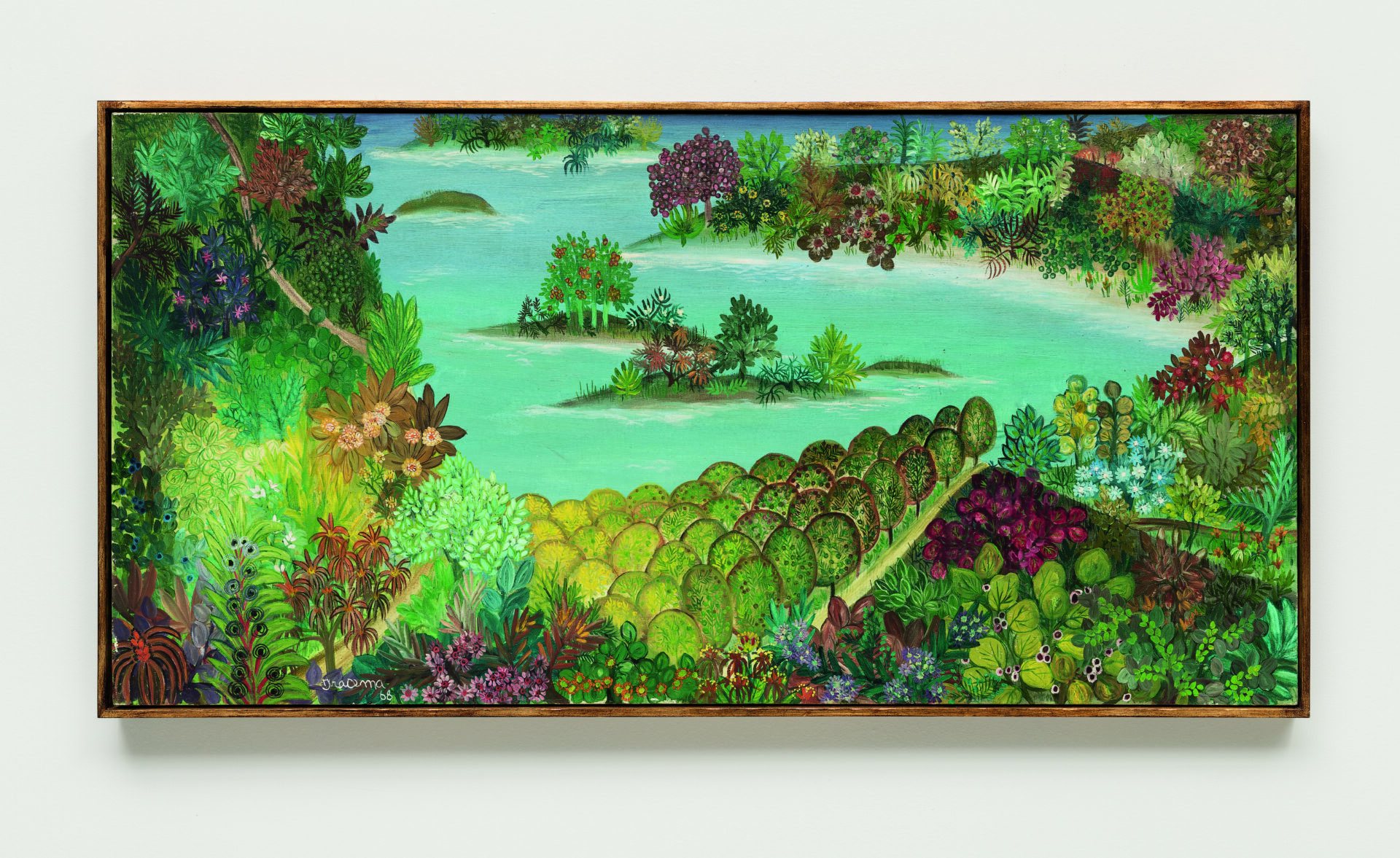
óleo sobre tela [oil on canvas], 52,8 x 102,5 x 5,5 cm Doação artista [Donated by the artist], 1969.

papel e adesivo colados, colagem de tecido e couro e lápis de cor sobre papel [pasted paper and adhesive, fabric and leather collage, and colored pencil on paper], 71 x 99,5 cm Doação artista [Donated by the artist], 2000.

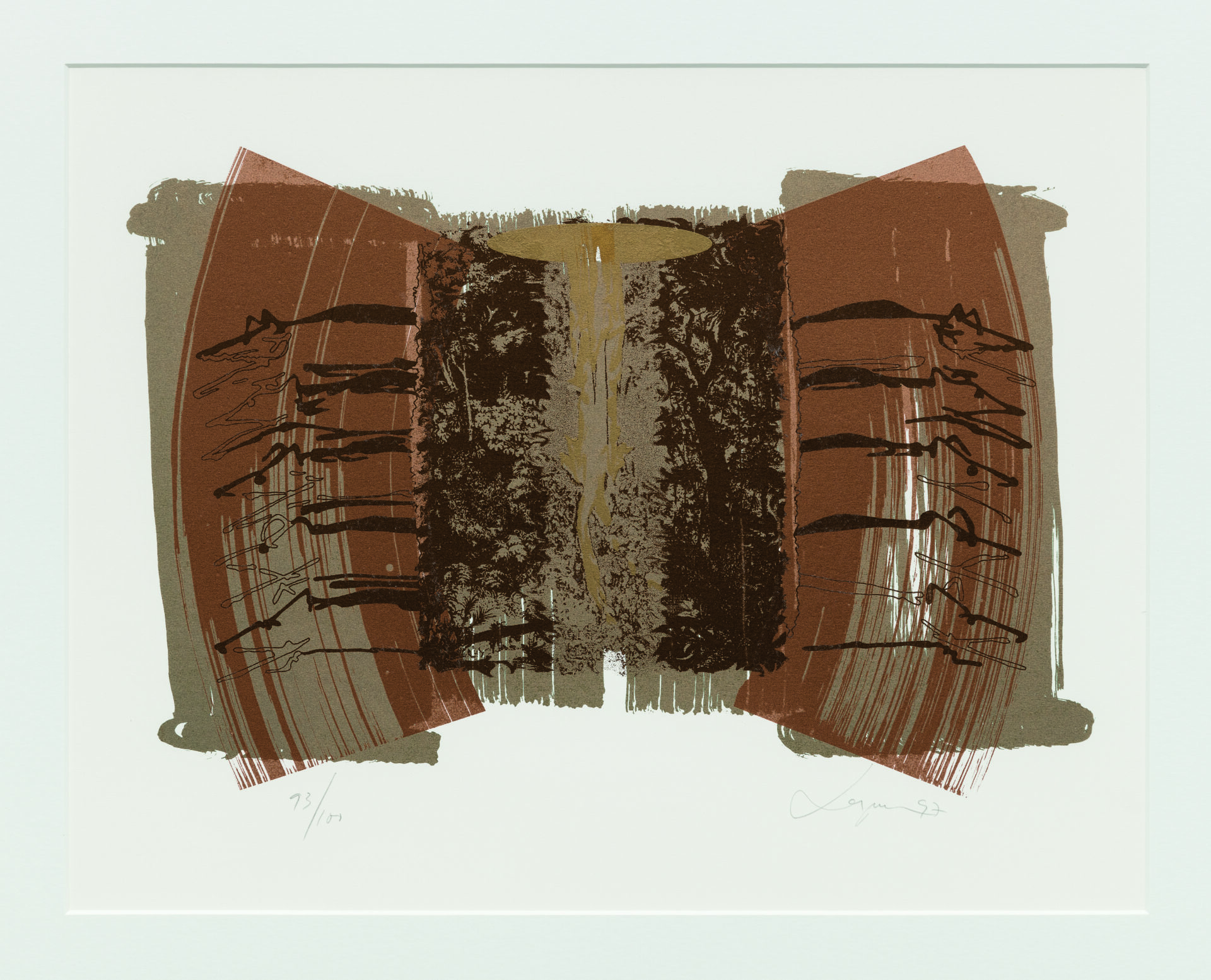

[artificial flowers glued on acrylic], 140 x 465 cm Doação artista [Donated by the artist], 2008.
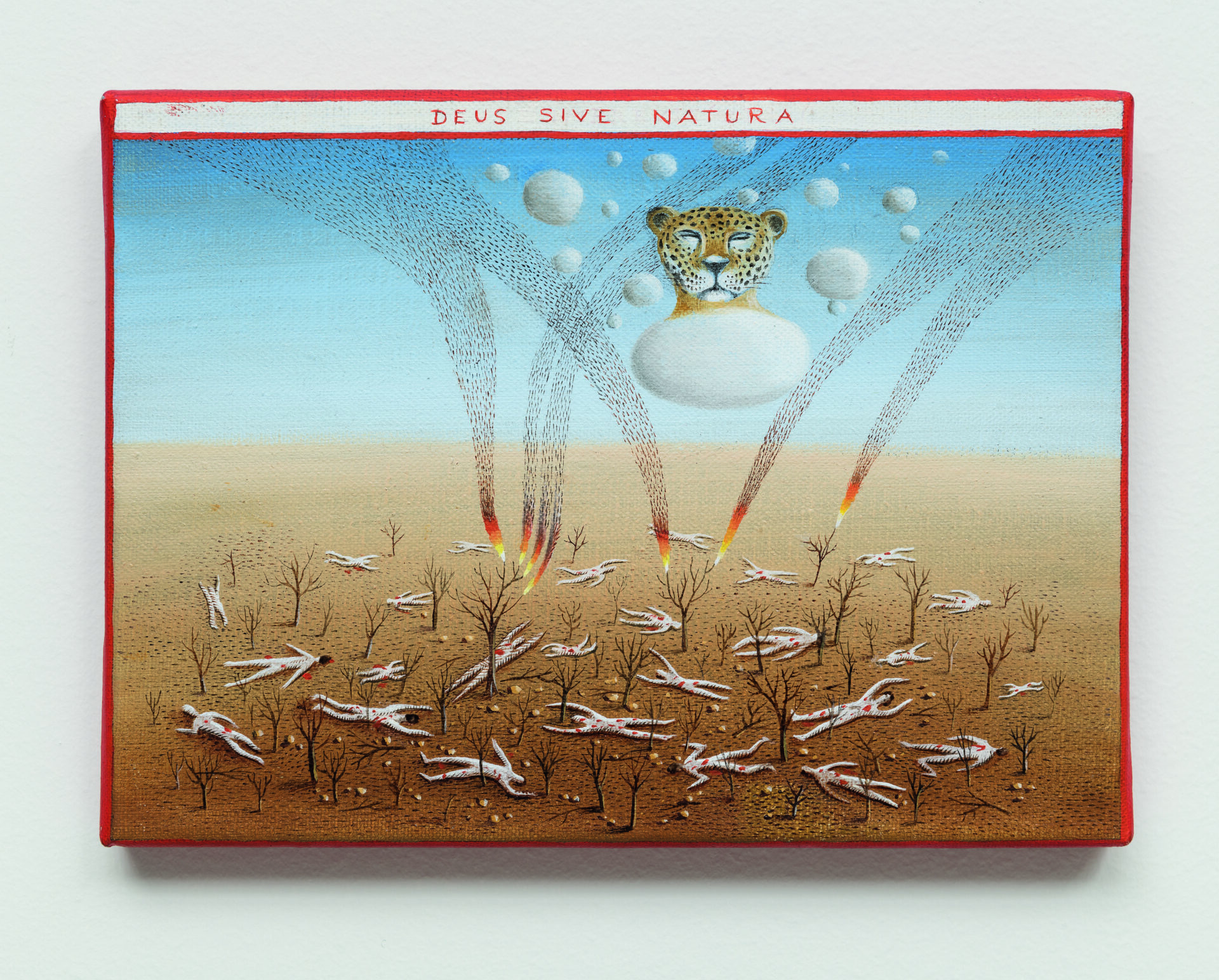
Ambiente Urbano: habitat da modernidade.
A noção de modernidade está profundamente ligada, do ponto de vista histórico e cultural, ao ambiente urbano e ao processo de industrialização. Entretanto, diversas pinturas modernas dos anos de 1930 e 1940, como as de Di Cavalcanti, Rebolo, Tarsila do Amaral e José Antonio da Silva, representam subúrbios e arredores de cidades quando a urbanização ainda era muito incipiente. Em vez da vida urbana, com prédios e pontes, Tarsila do Amaral elege vistas de uma fazenda, com pequenas casas, árvores e cactos. José Antonio da Silva retrata vilas ainda pouco urbanizadas, em que se reconhecem o empório, o transporte a cavalo e uma vida social distante da velocidade da cidade contemporânea. Nessa época, a pintura de muitos modernistas se aproxima de formas
mais tradicionais e valoriza cenas populares e evocativas da cultura nacional. Já obras de artistas contemporâneos, como Leda Catunda — que representa o prédio envidraçado do MAM no Parque Ibirapuera —, Shirley Paes Leme — que, a partir de um filtro de ar-condicionado, condensa a poluição do ar de São Paulo — e André Komatsu — com vidros ou vitrines quebrados e remendados com compensado —, revelam uma cidade que, mesmo com áreas verdes para o lazer e os museus, é insalubre e convive com atos de violência.

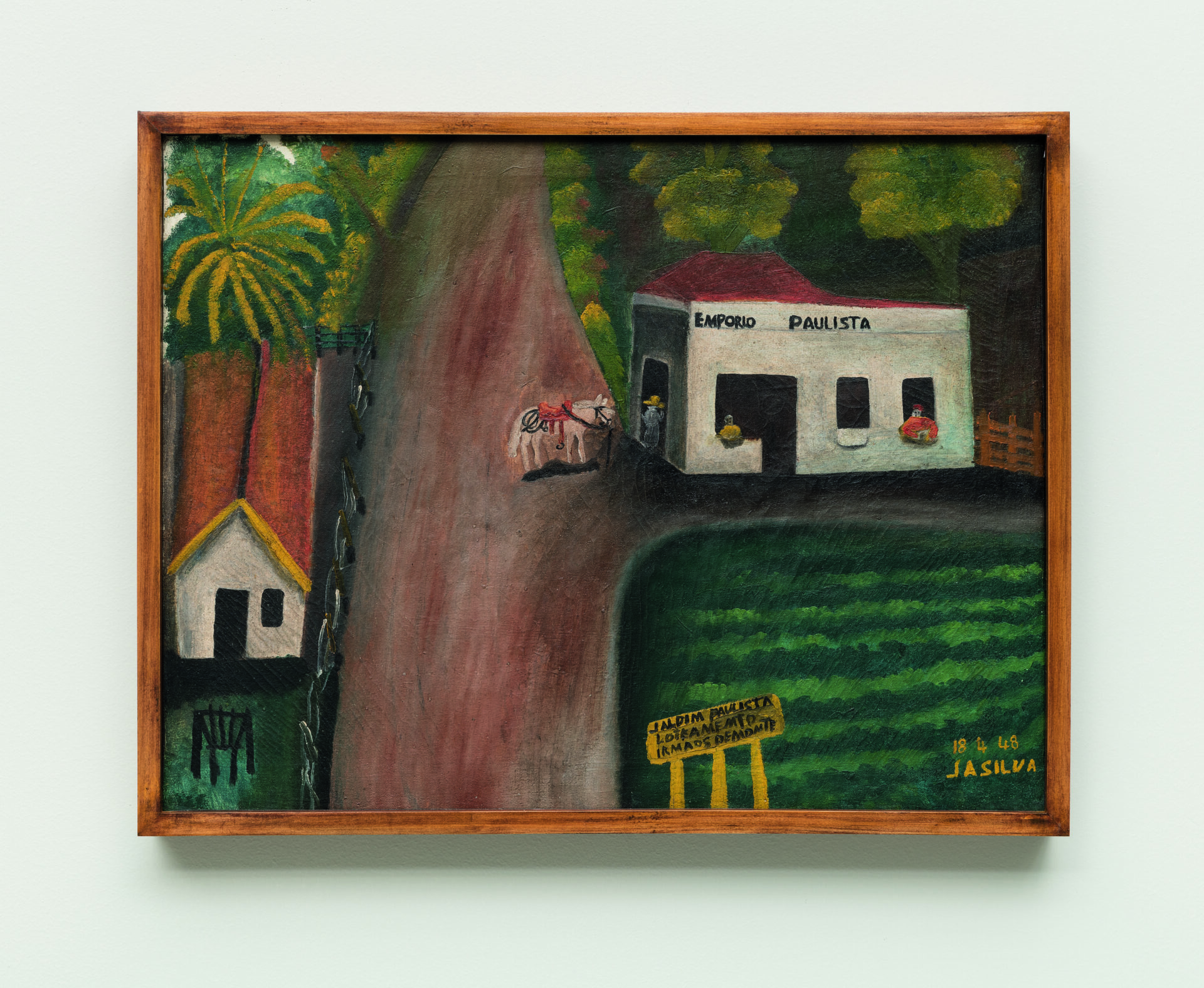
Jardim Paulista [Jardim Paulista Neighbourhood], 1948 óleo sobre tela [oil on canvas], 34,4 x 45 cm
Doação [Donated by] Carlo Tamagni, 1967.


Doação [Donated by] Carlo Tamagni, 1967.

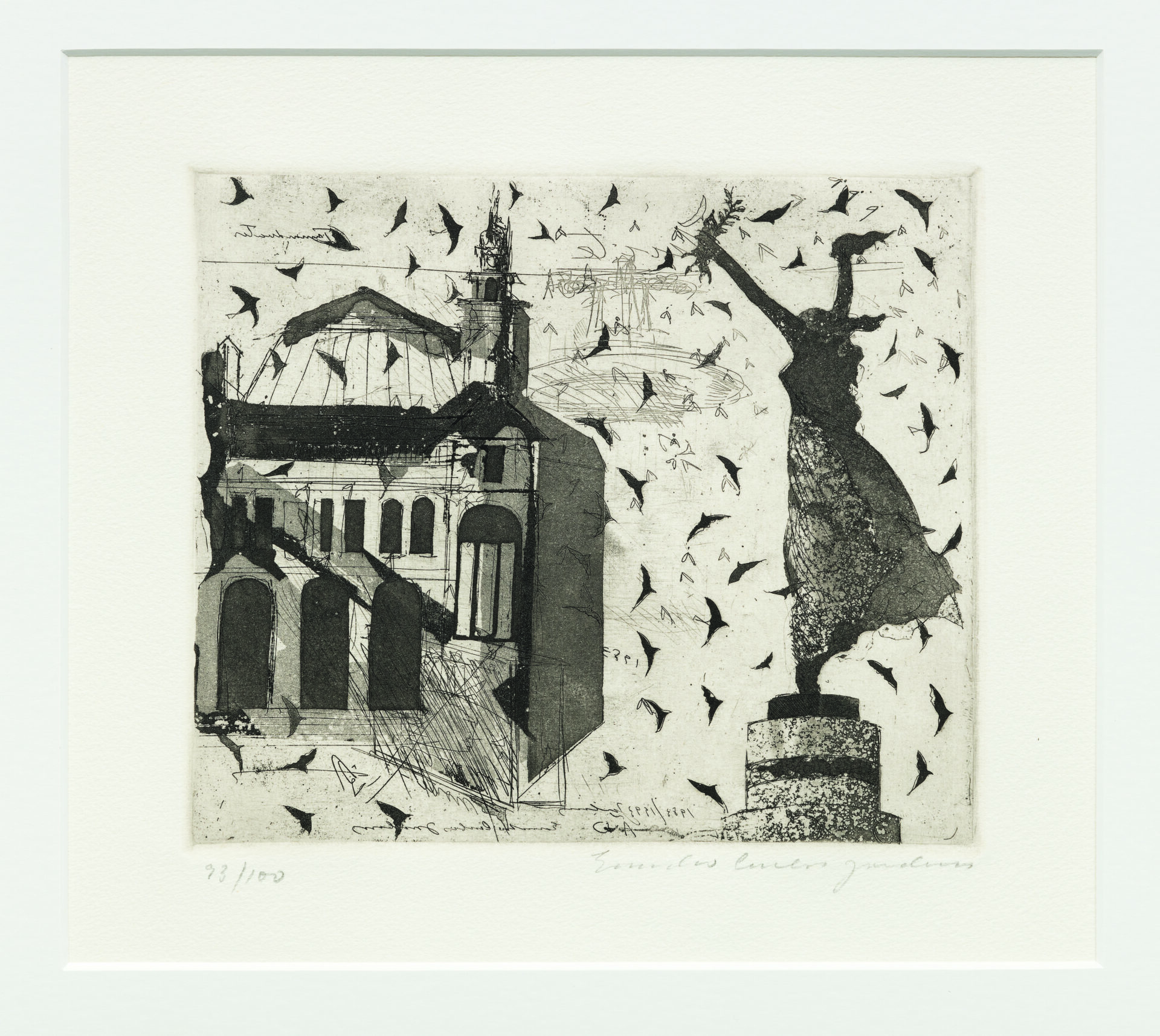

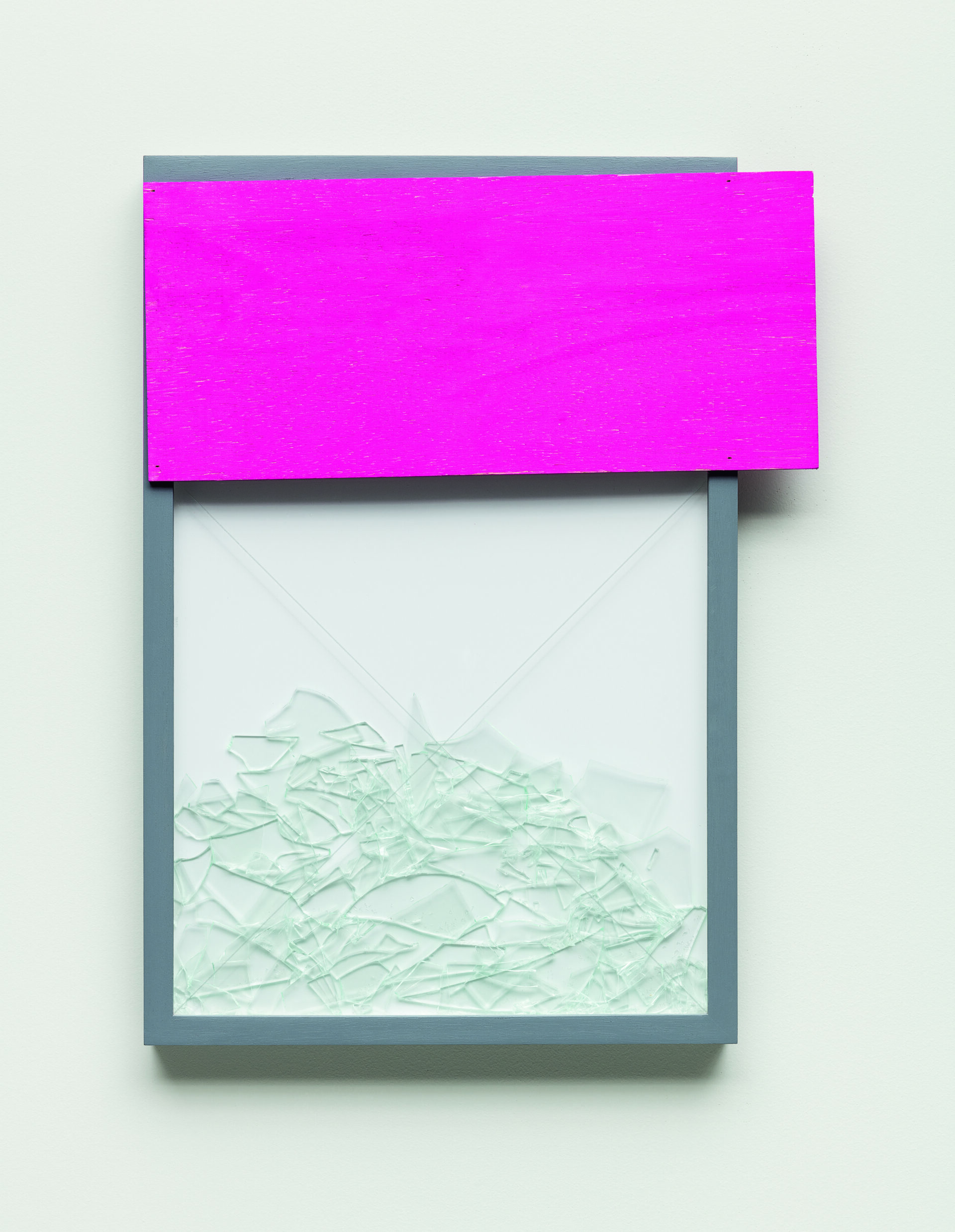



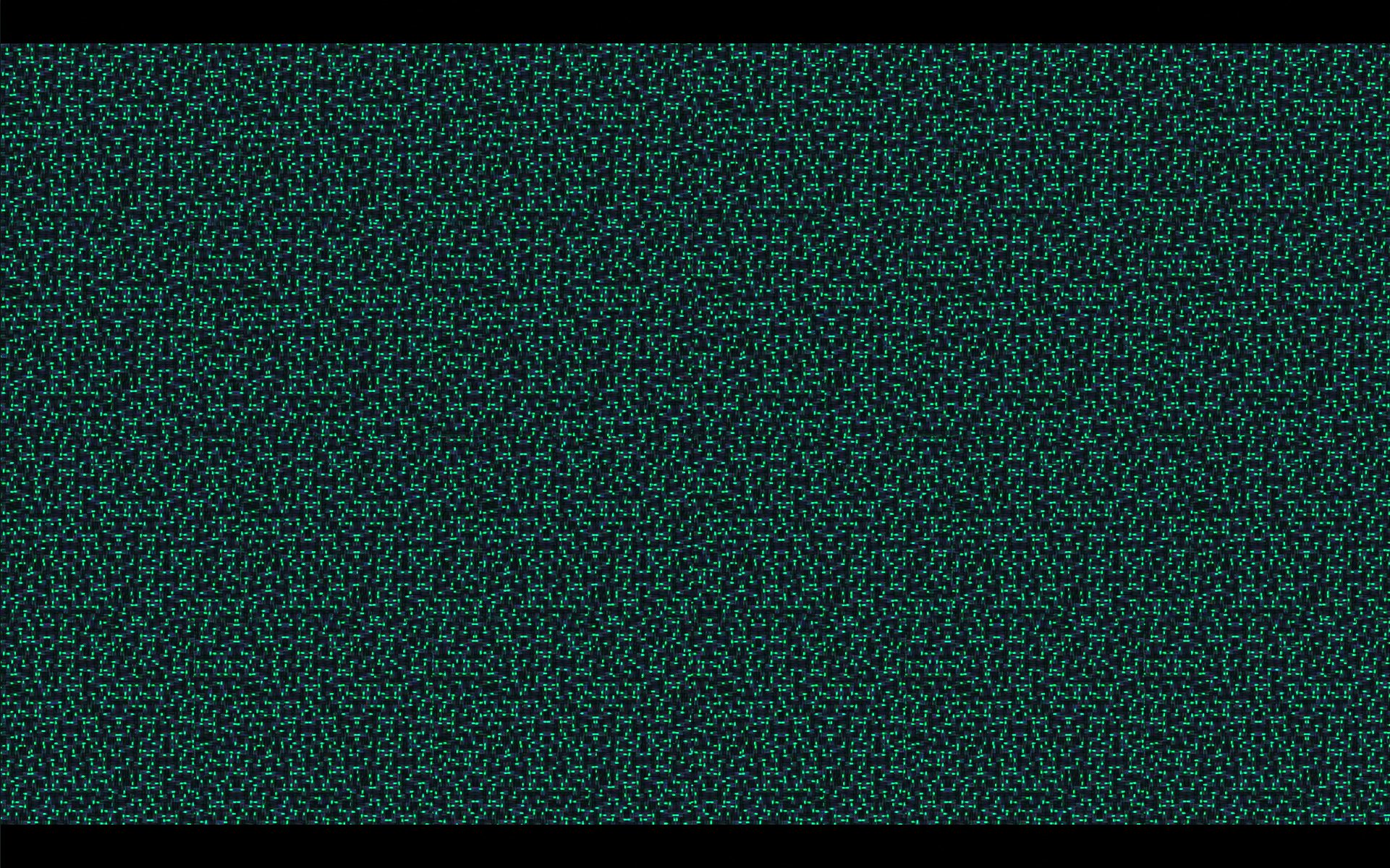
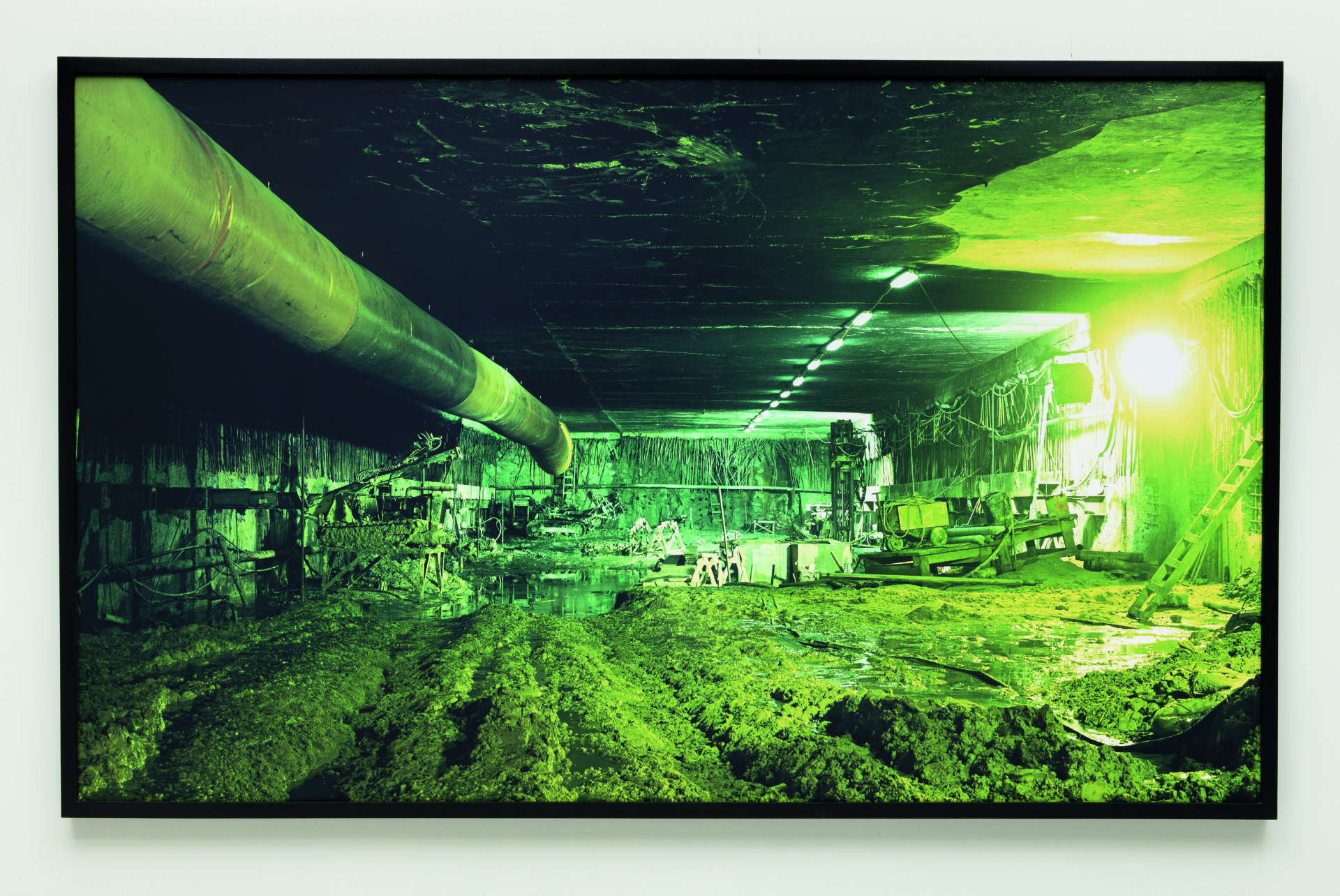
Corpos: políticas da relação.
As formas de representação do corpo humano na arte moderna e contemporânea sugerem
que as relações que estabelecemos a partir e através dele são repletas de jogos de poder.
Algumas dessas relações ocorrem naturalmente, como as afetivas e familiares, enquanto outras
resultam de condições e contextos específicos de aproximação e afastamento de corpos em
situações dinâmicas. Nas gravuras de Candido Portinari, que ilustraram uma edição especial
de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, vemos uma série de cenas com personagens do romance; seus gestos, vestimentas e interações parecem sugerir, mesmo sem a presença do texto, as relações que se estabelecem entre eles. Na pintura de Heitor dos Prazeres e nas aquarelas de Lívio Abramo, as diferentes posturas corporais, além dos vestidos e saias esvoaçantes, impregnam de dinamicidade as imagens de dança. Os trabalhos de Ismael Nery, Anna Maria Maiolino, Antonio Henrique Amaral e Marco Paulo Rolla apresentam corpos que sugerem relações de intimidade a partir de perspectivas diferentes, ora mais simbólicas, ora mais literais. As pinturas de Rubens Gerchman e Claudio Tozzi introduzem relações de ordem social e política,
acentuadas pelo contexto nacional de ditadura militar no período em que foram realizadas. Os
retratos de Flávio de Carvalho e Samson Flexor dialogam com questões da representação de
uma identidade, utilizando-se da fragmentação cubista como estratégia visual da subjetividade.
As obras de Letícia Parente, Ana Maria Tavares e Tunga não apresentam corpos, mas aludem
à sua presença quando refletimos sobre a funcionalidade dos objetos retratados.


água-forte sobre papel [etching on paper], aprox. 40 x 30 cm cada [each] Aquisição [Acquired by] MAM São Paulo, 1996 Direito de reprodução gentilmente cedido por João Candido Portinari.
[Reproduction rights kindly granted by João Candido Portinari.].
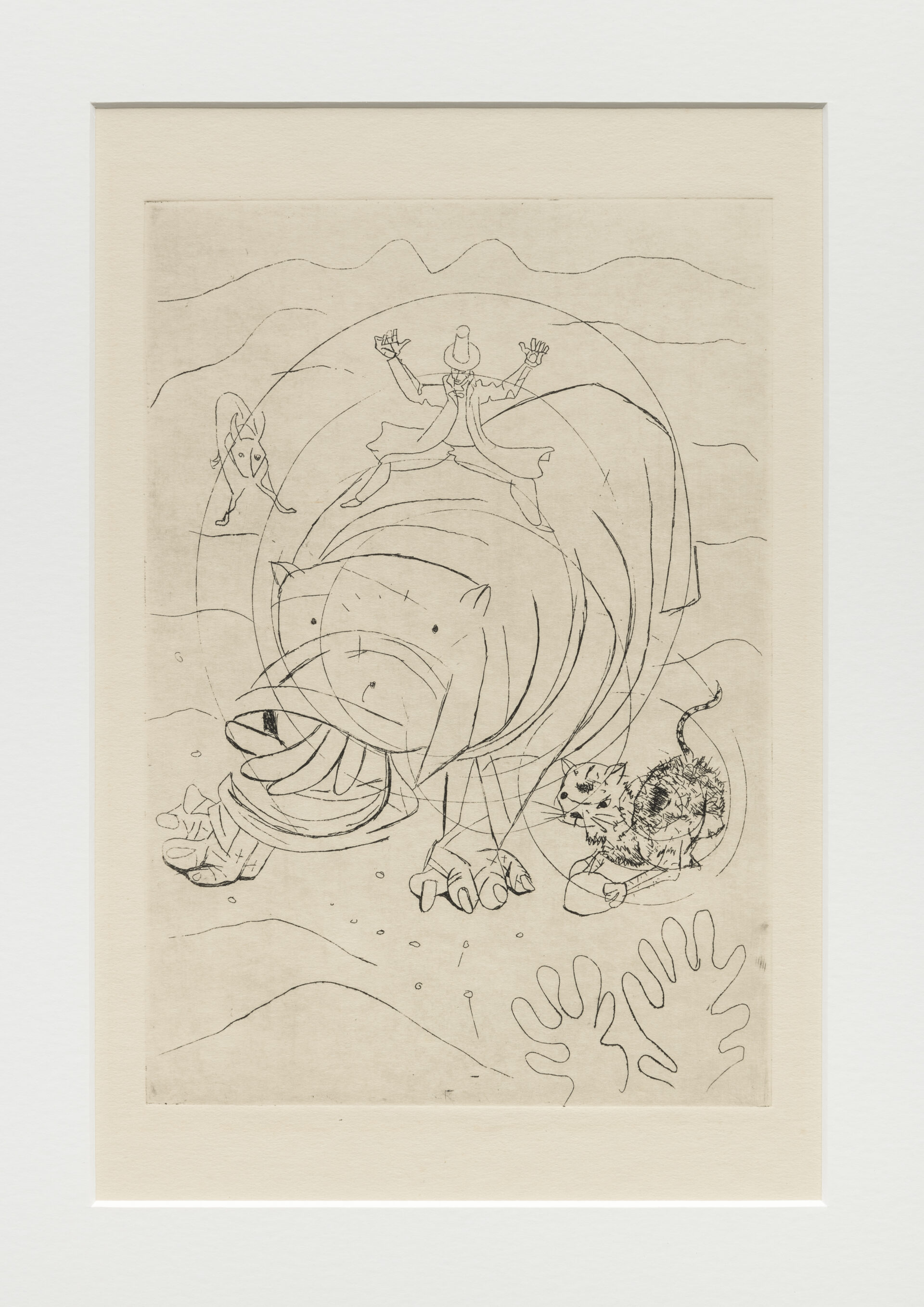
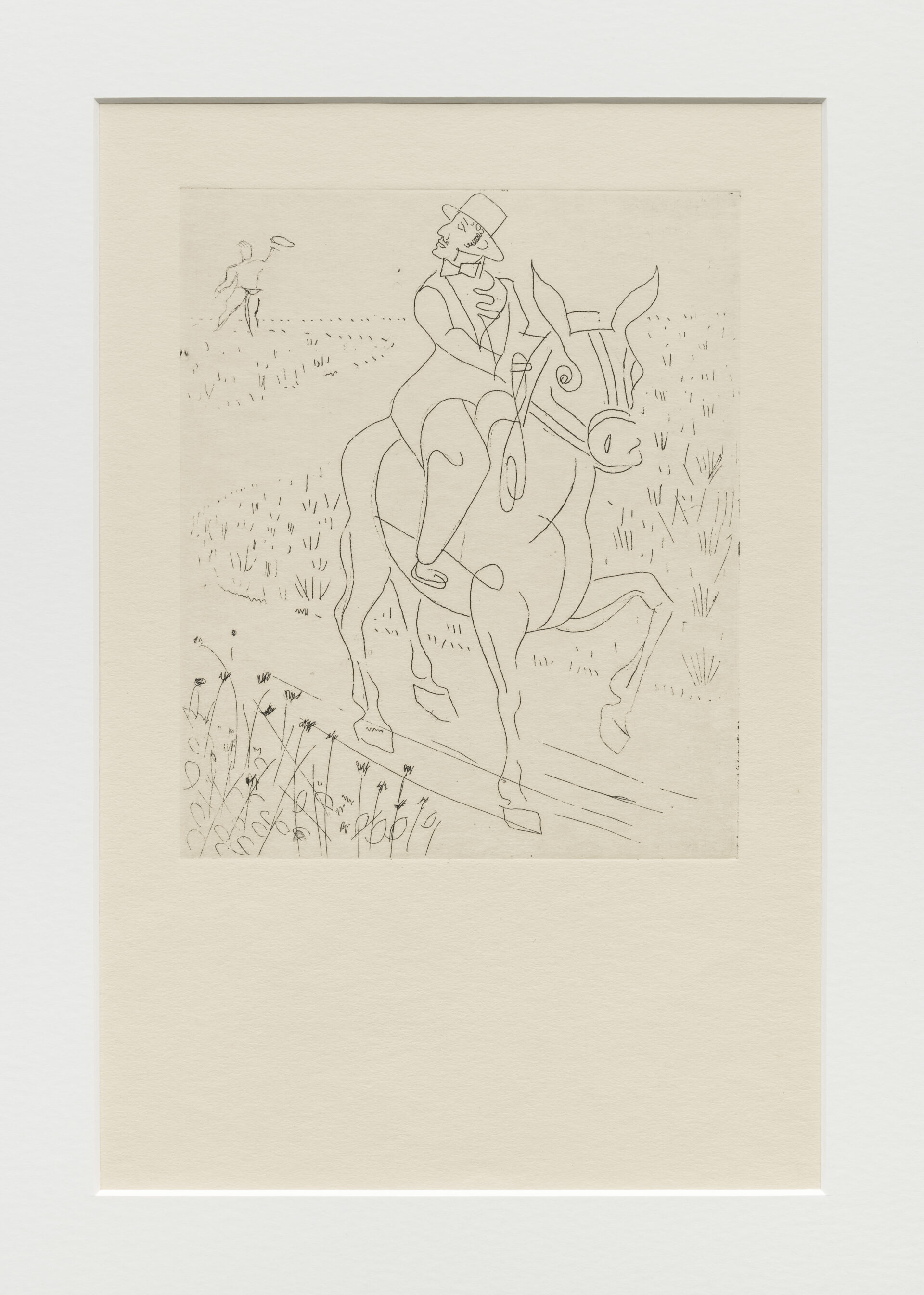
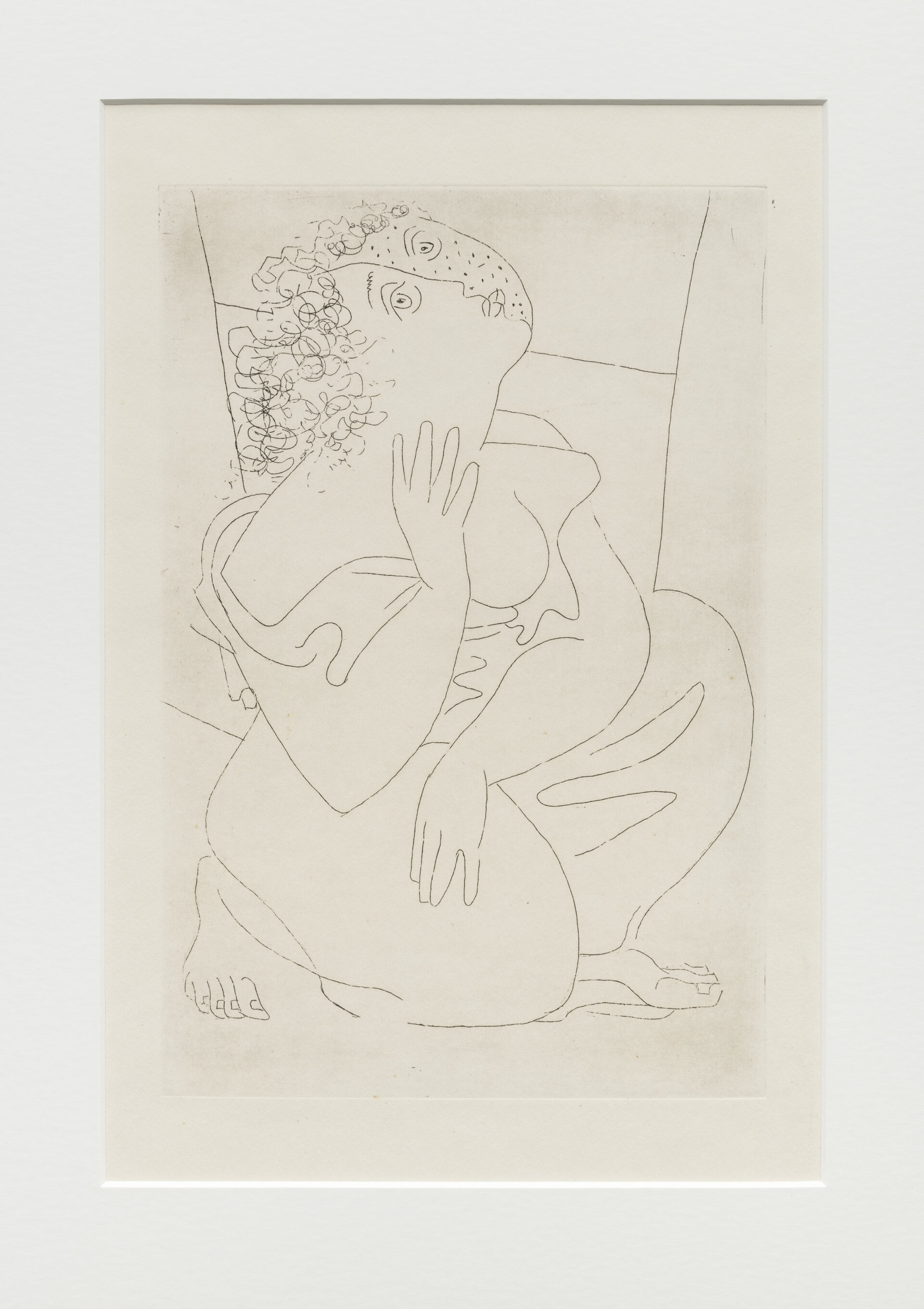
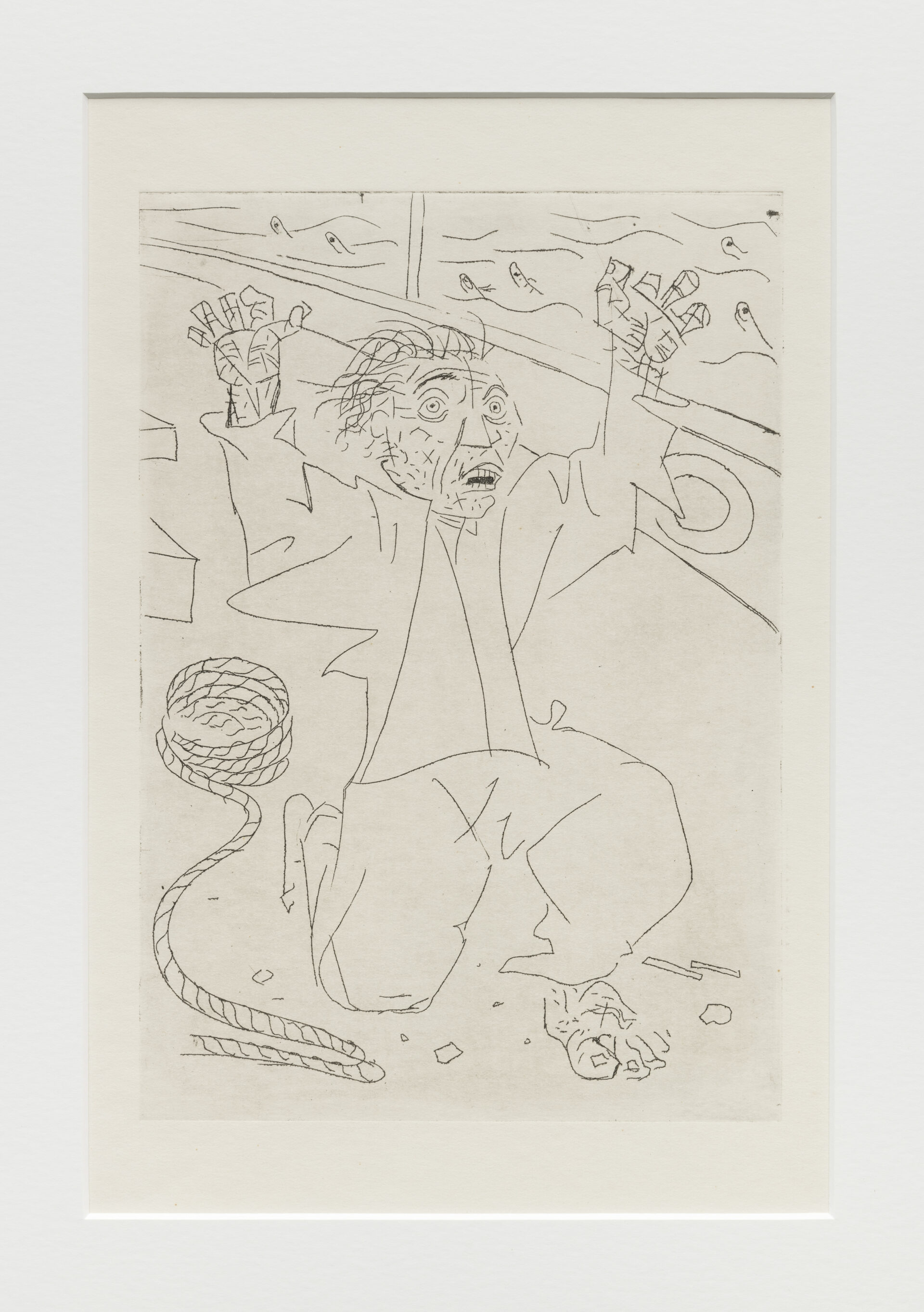

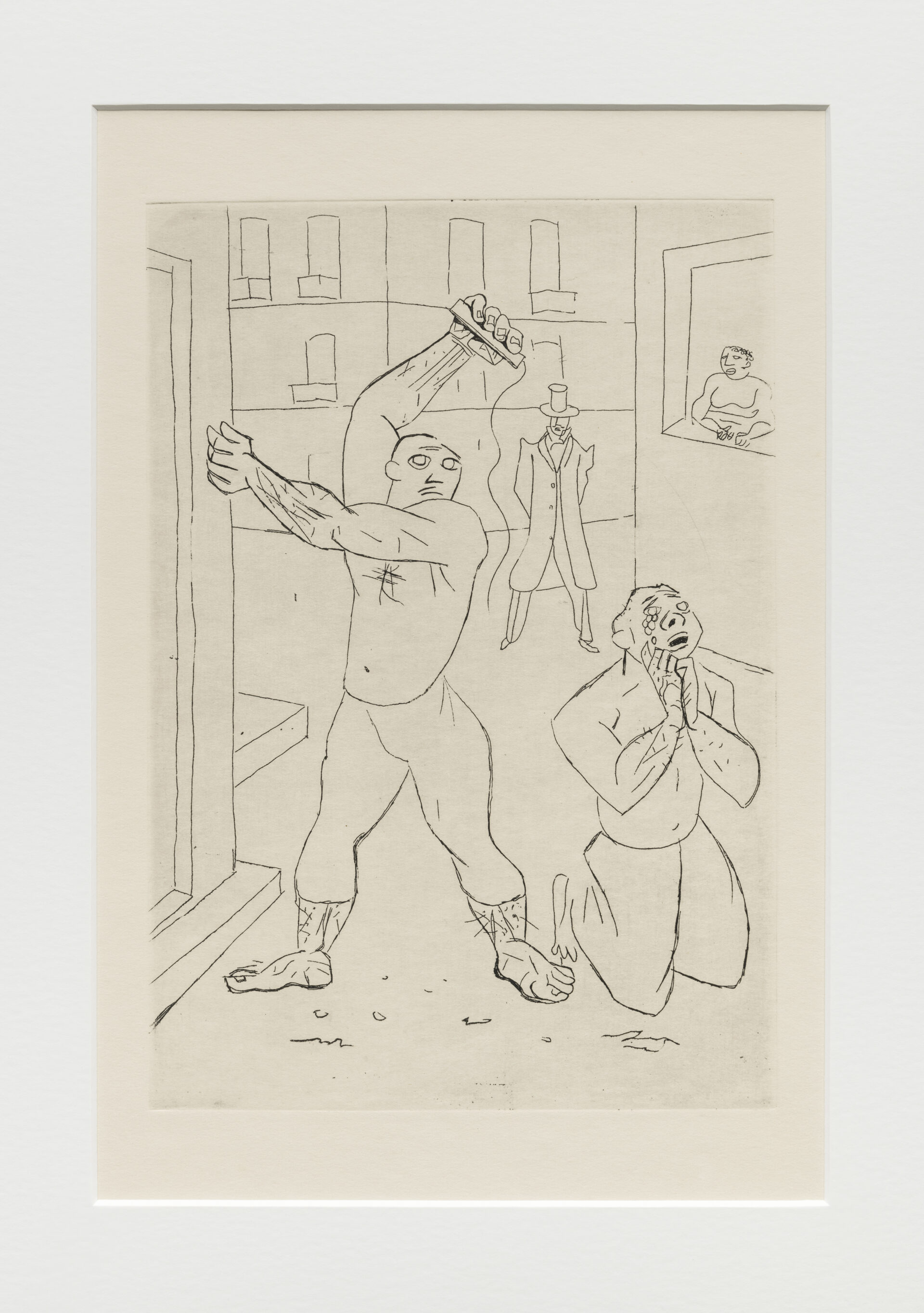
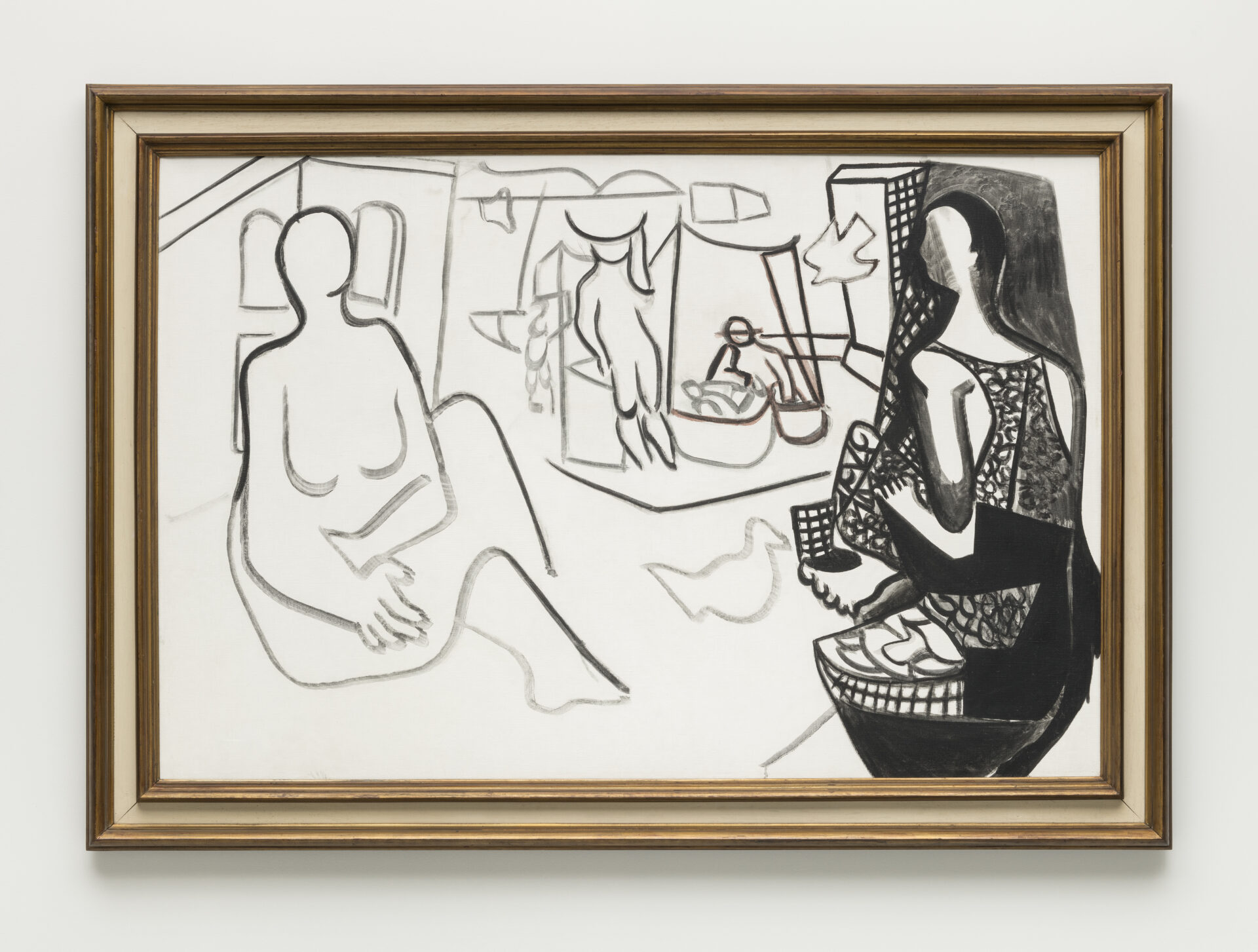
óleo sobre tela [oil on canvas], 119 x 168 x 8 cm Obra inacabada: esta foi a última pintura em que o artista trabalhou antes de seu falecimento. [Unfinished work: this was the last painting the artist
worked on before his death.] Doação [Donated by] Elisabeth Di Cavalcanti, 1977 © Di Cavalcanti / AUTVIS, Brasil, 2025.

Nu no chuveiro [Nude in the Shower], 1955 óleo sobre tela [oil on canvas], 61 x 46 cm Espólio [Estate of] Maria da Glória Lameirão de Camargo Pacheco e [and] Arthur Octávio de Camargo Pacheco, 1996.

óleo sobre tela [oil on canvas], 50,2 x 61,3 cm Doação [Donated by] Iracema Arditi, 1972.
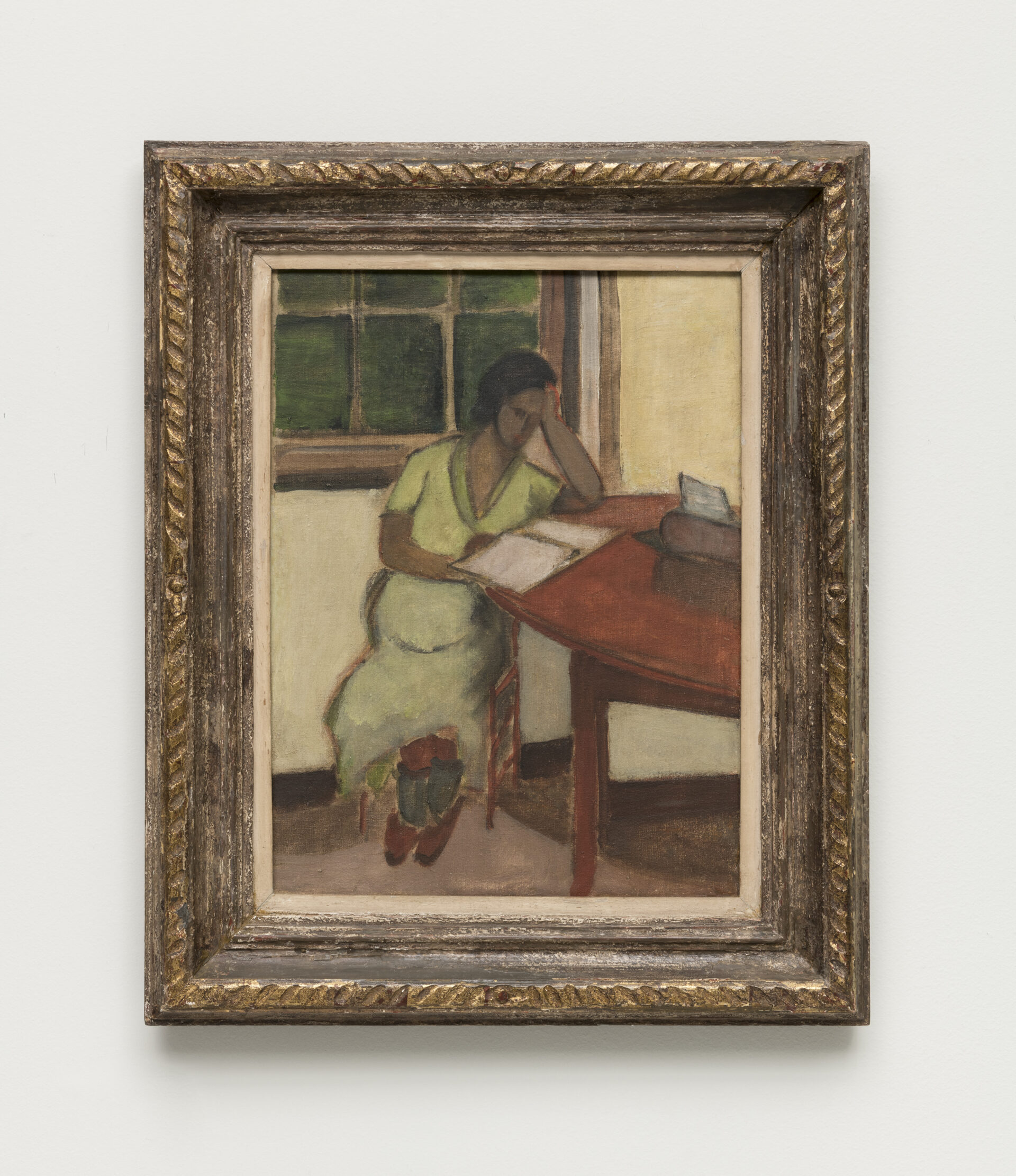


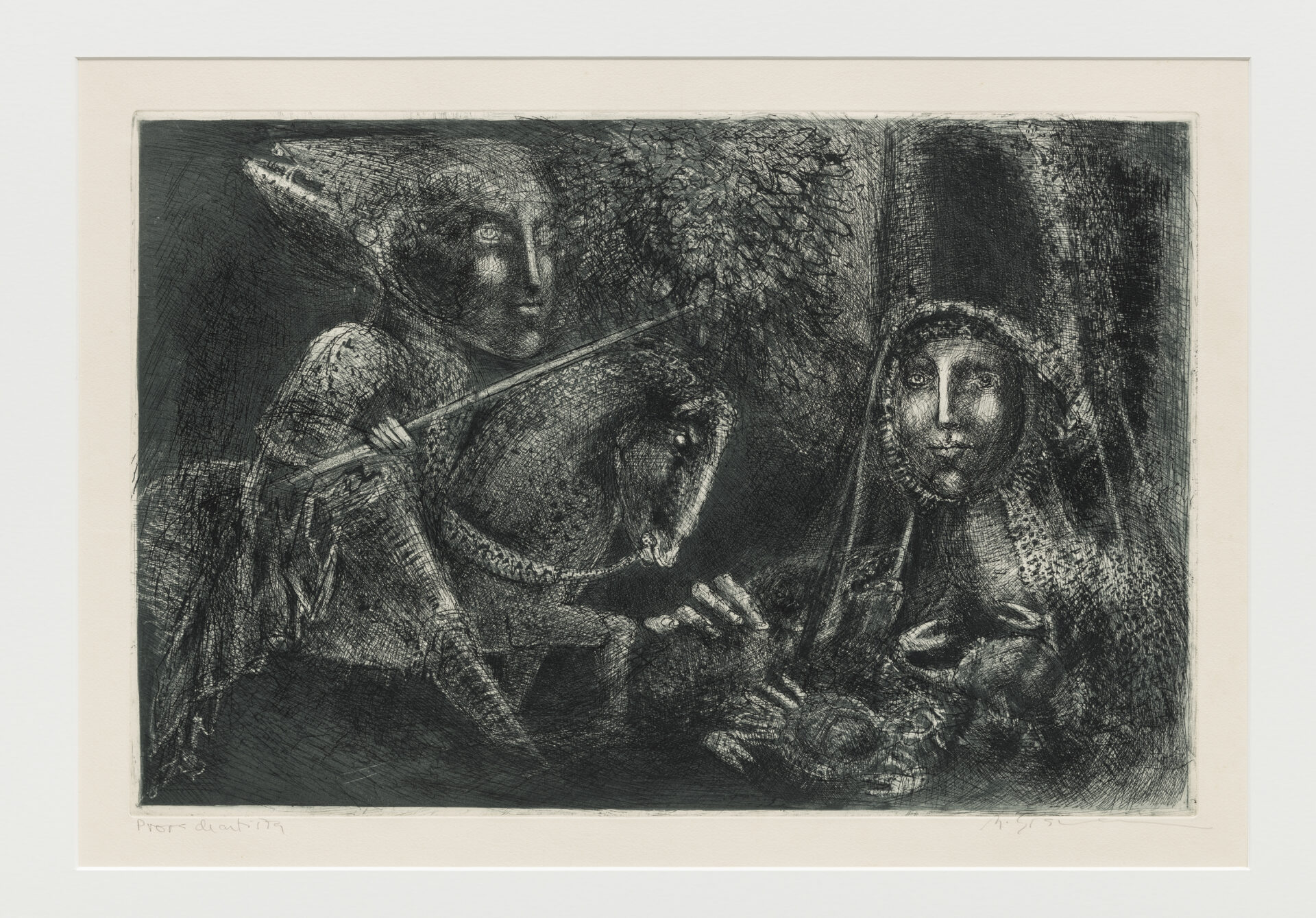
Doação artista [Donated by the artist], 1969.

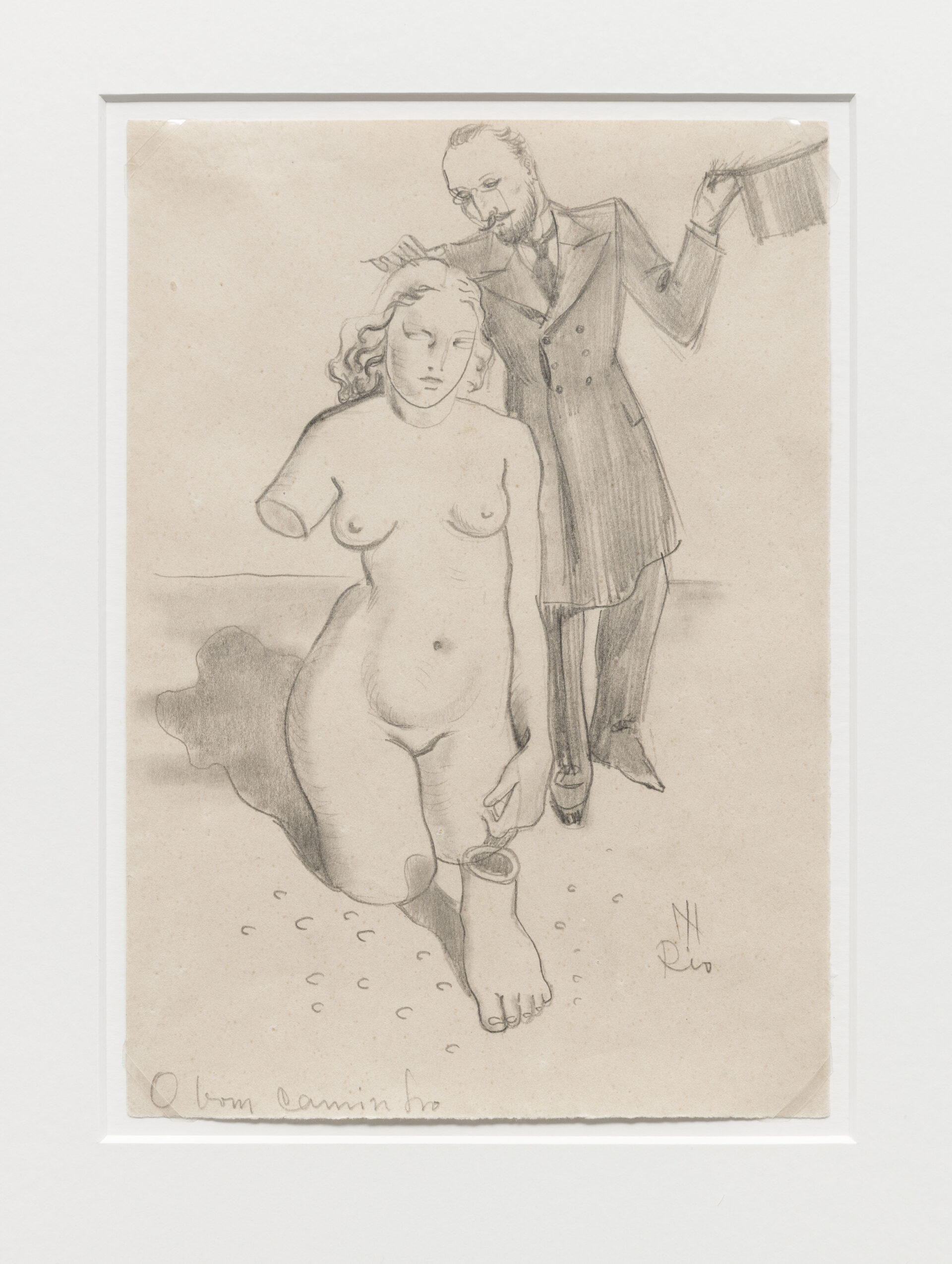
Aquisição [Acquired by] MAM São Paulo, 1968.
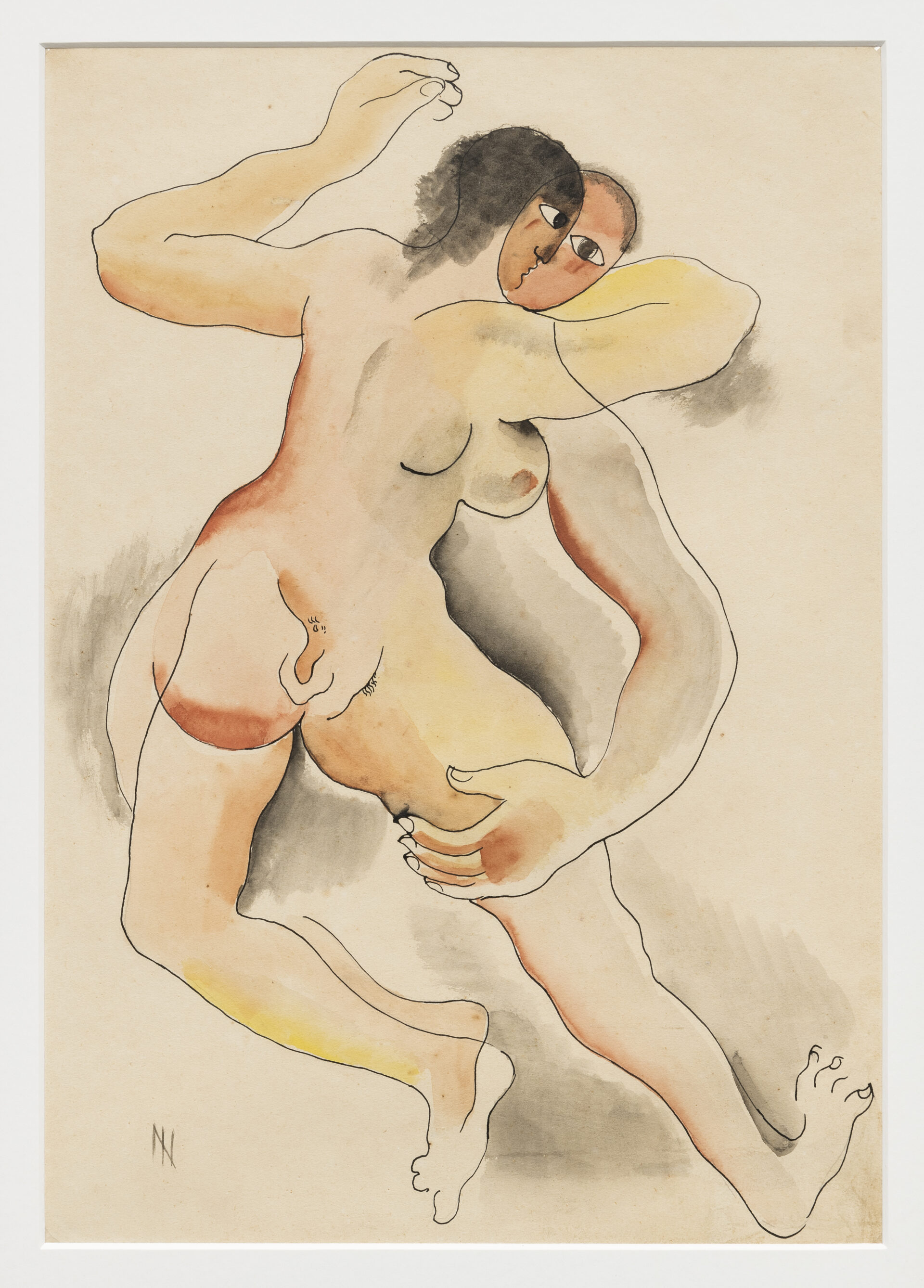
e [and] Arthur Octávio de Camargo Pacheco, 1996.

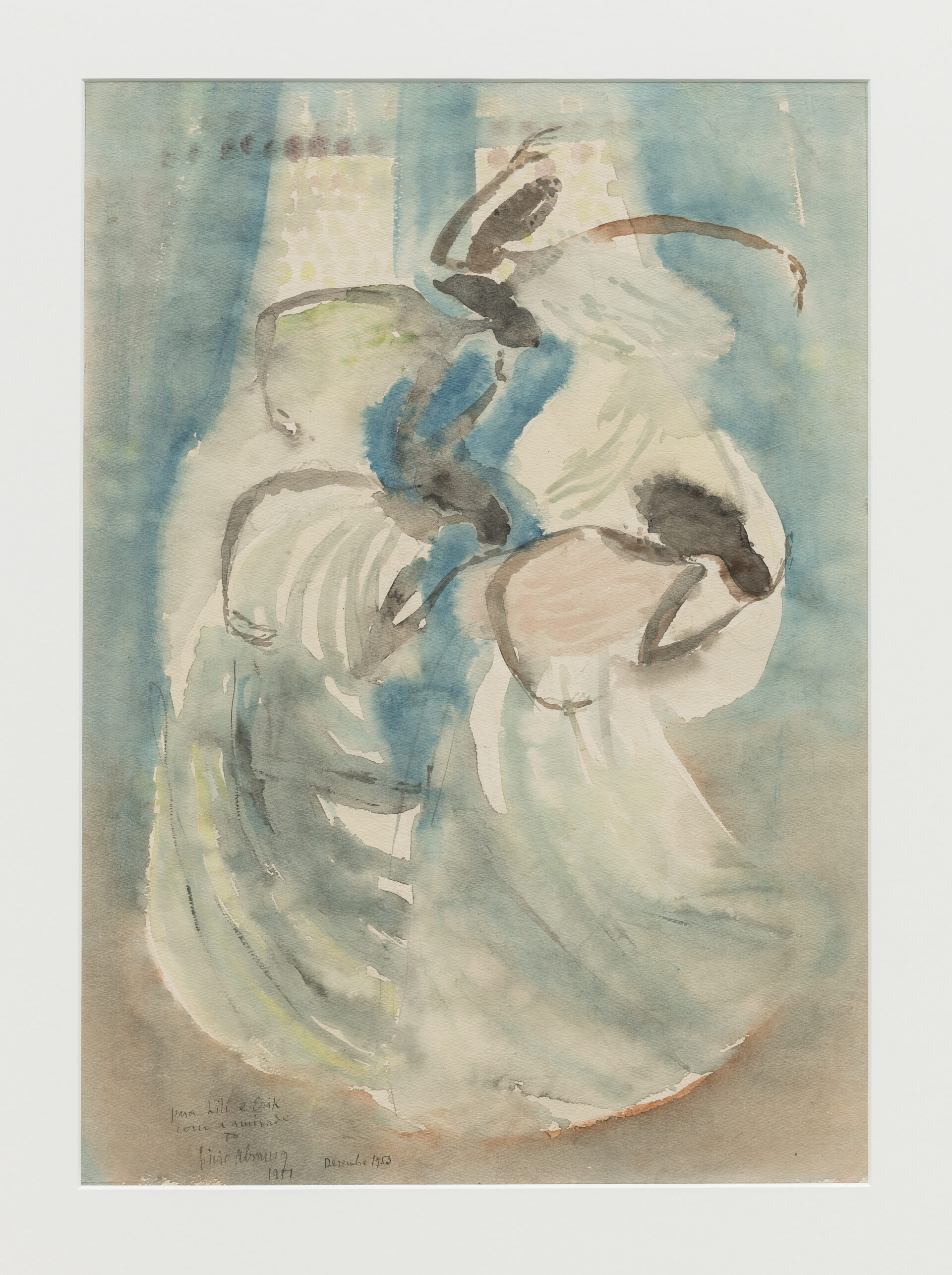
Doação [Donated by] Erik Svedelius, 1995.
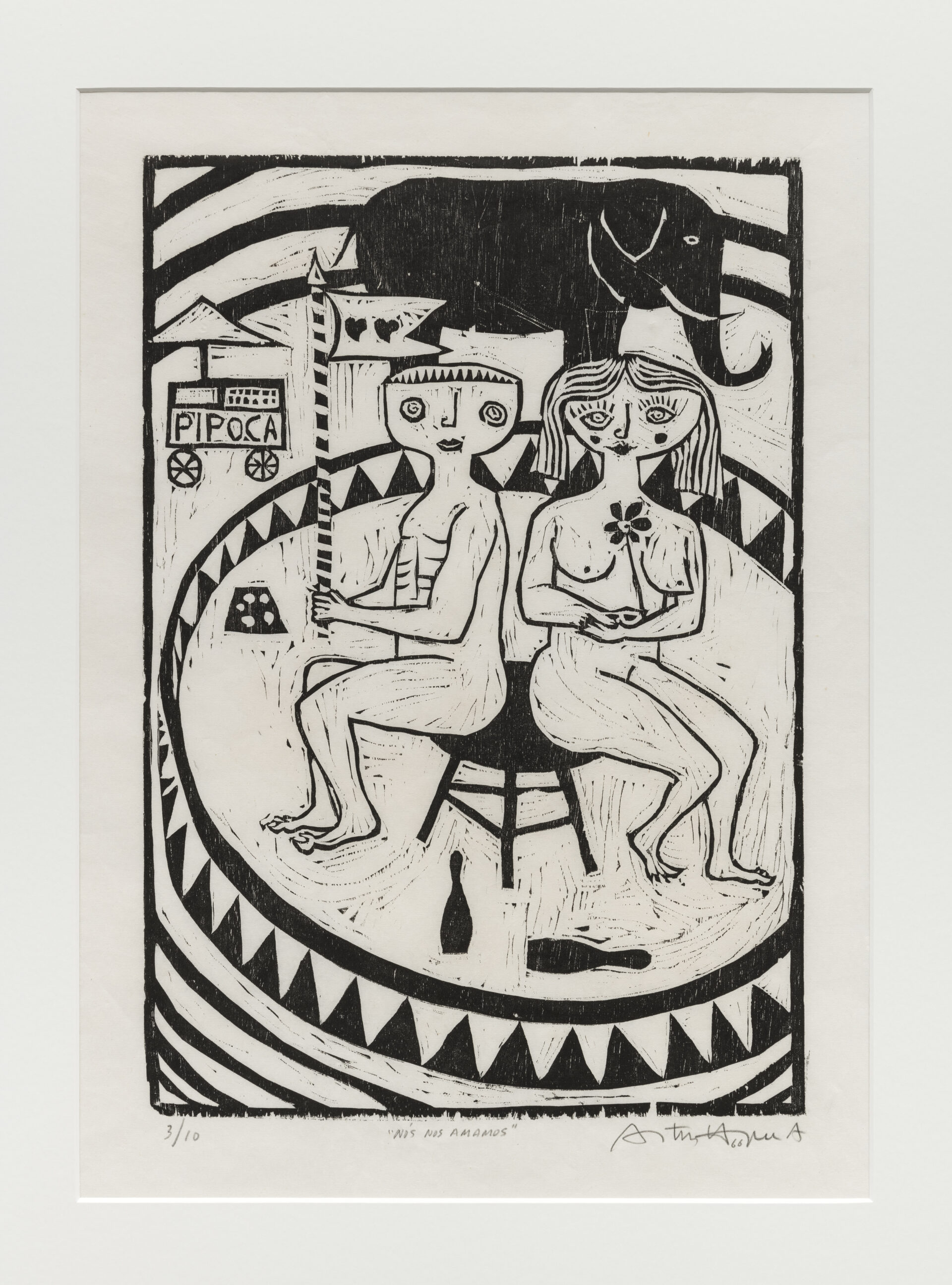
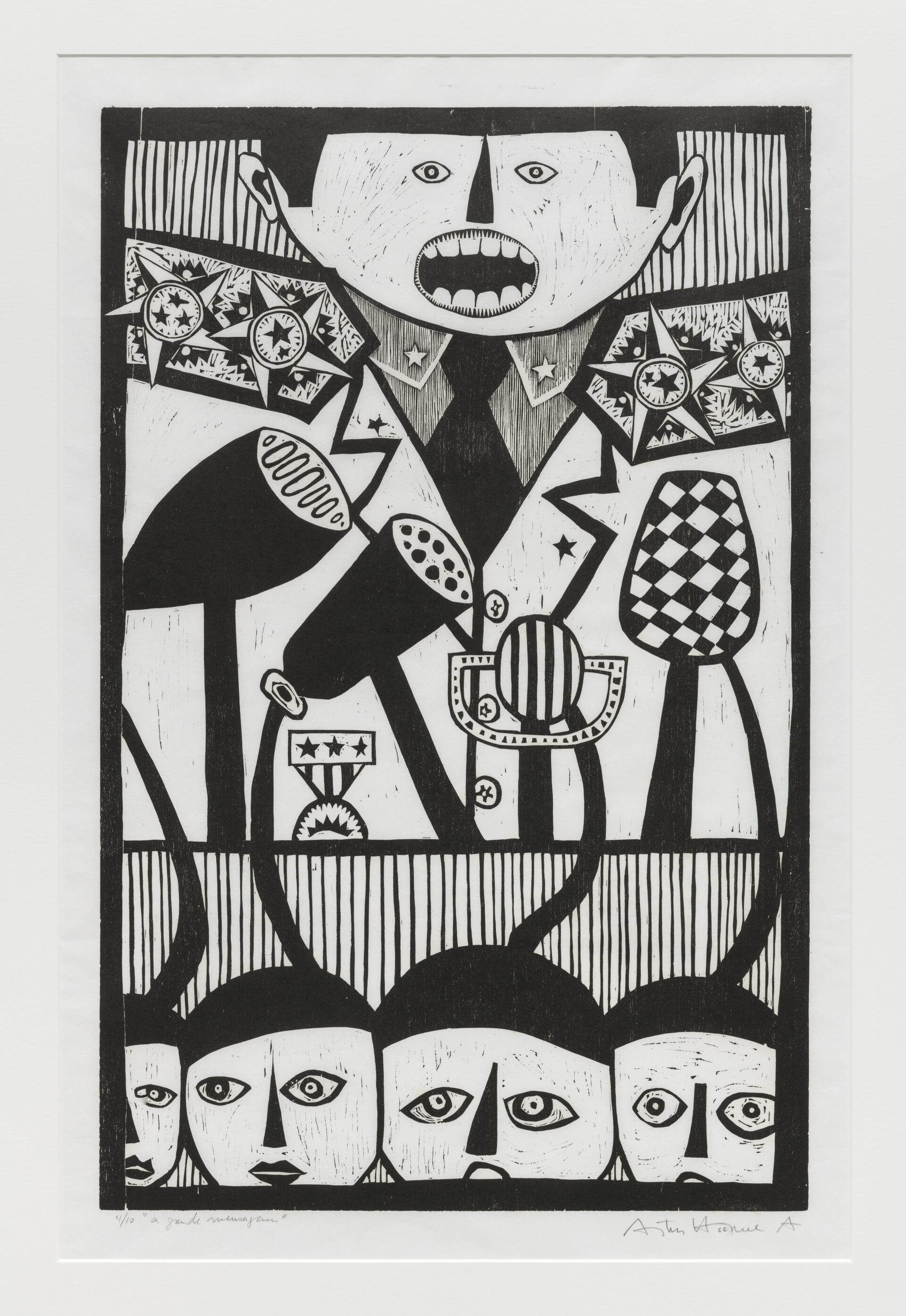
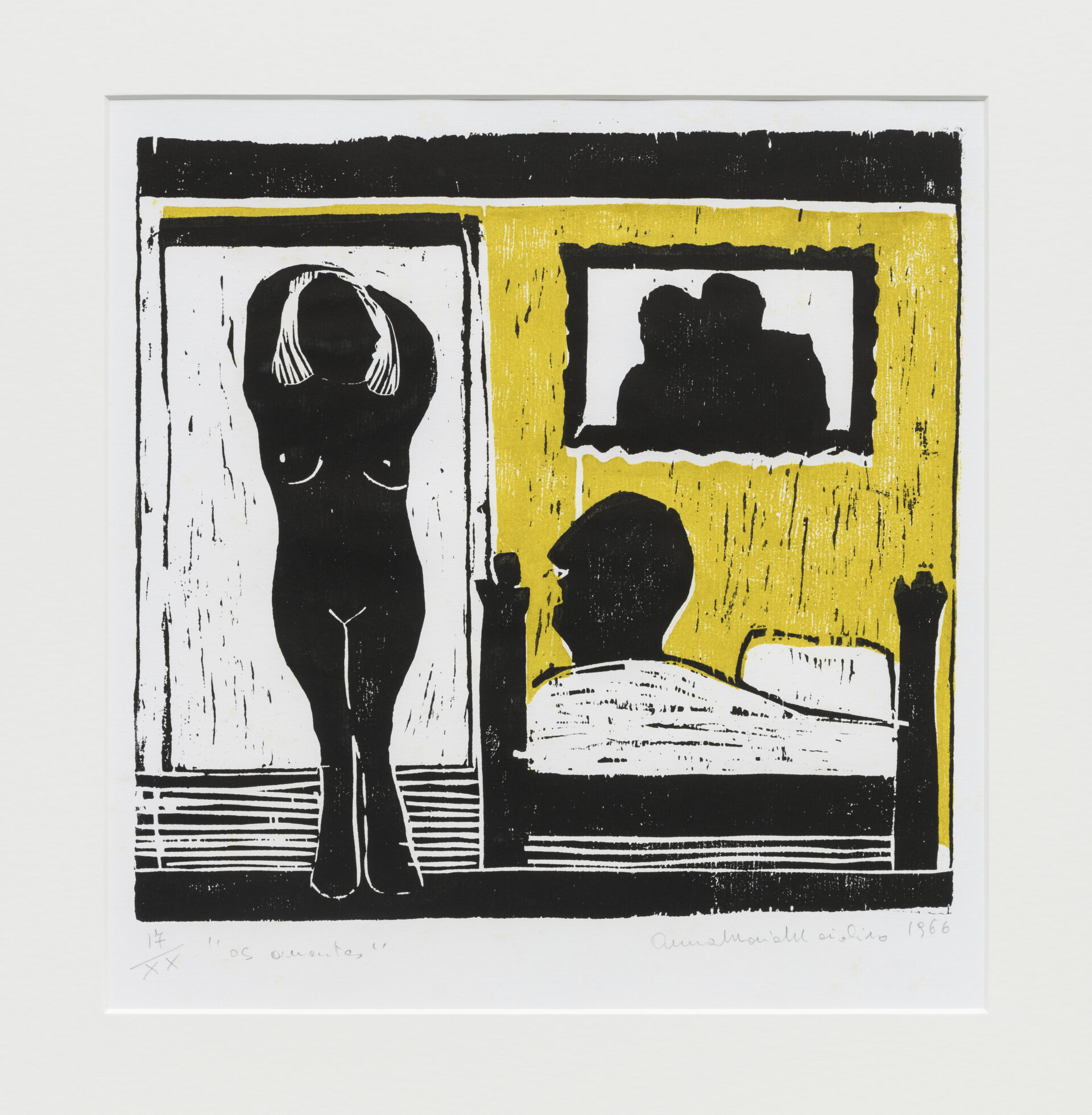
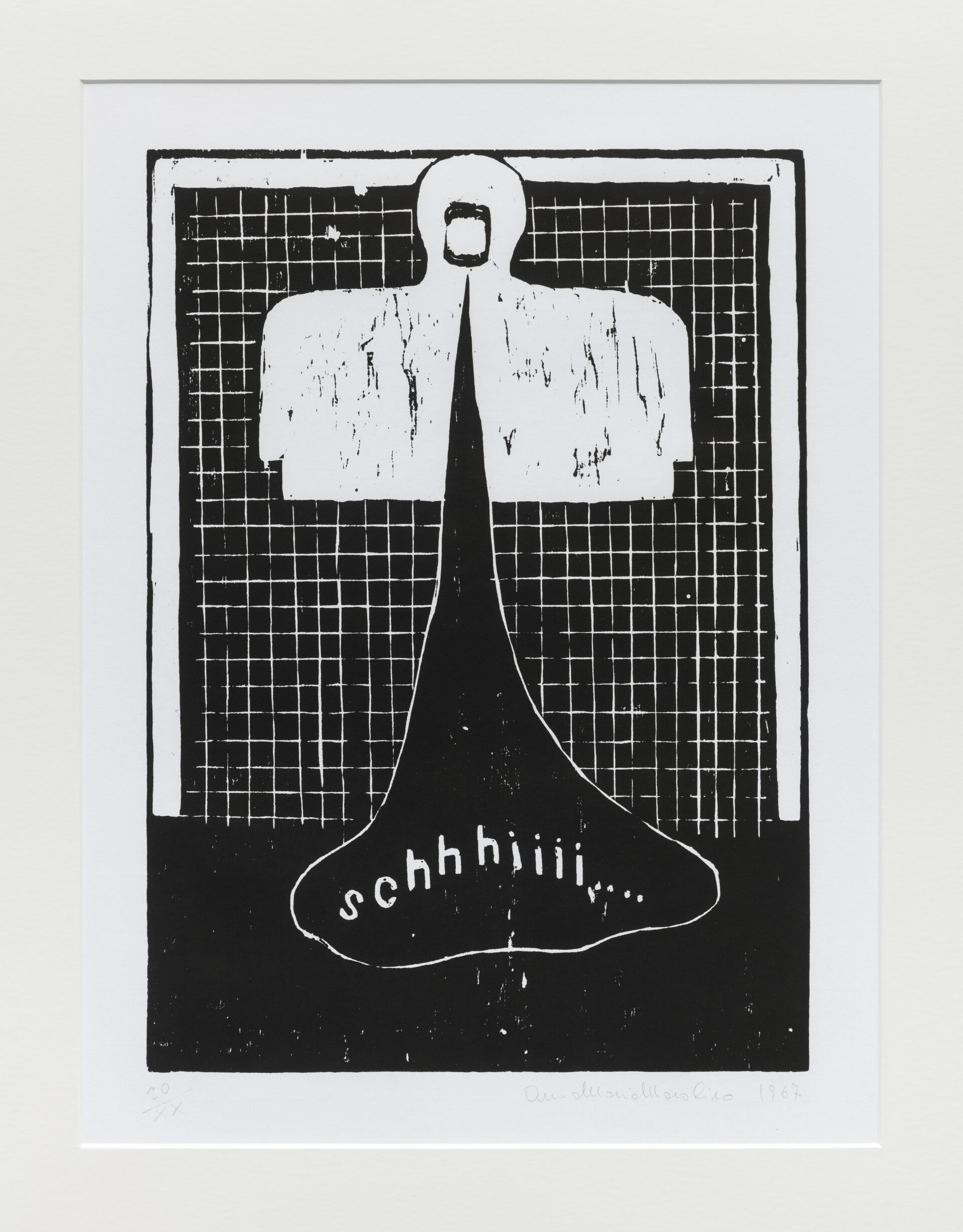
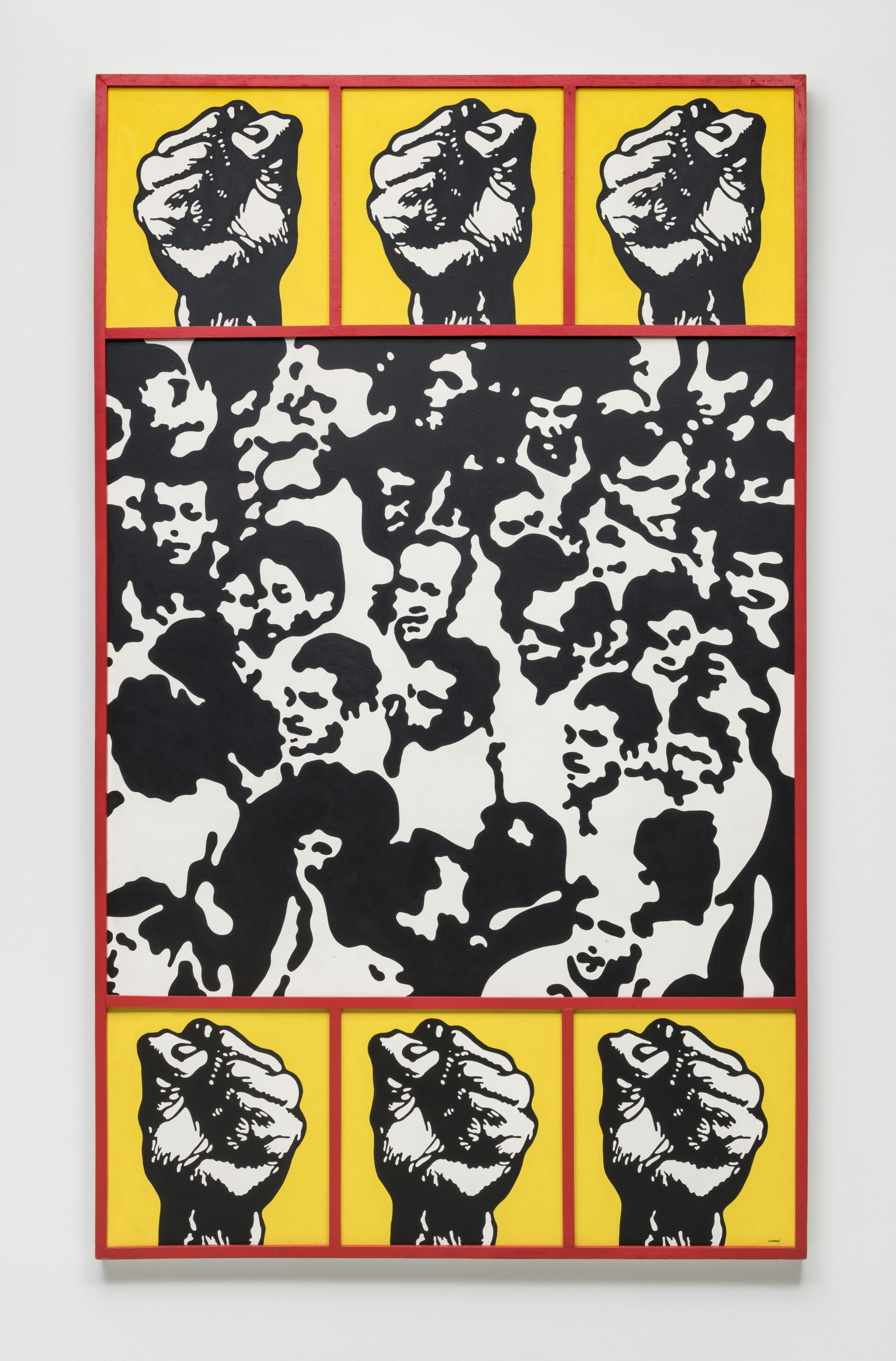
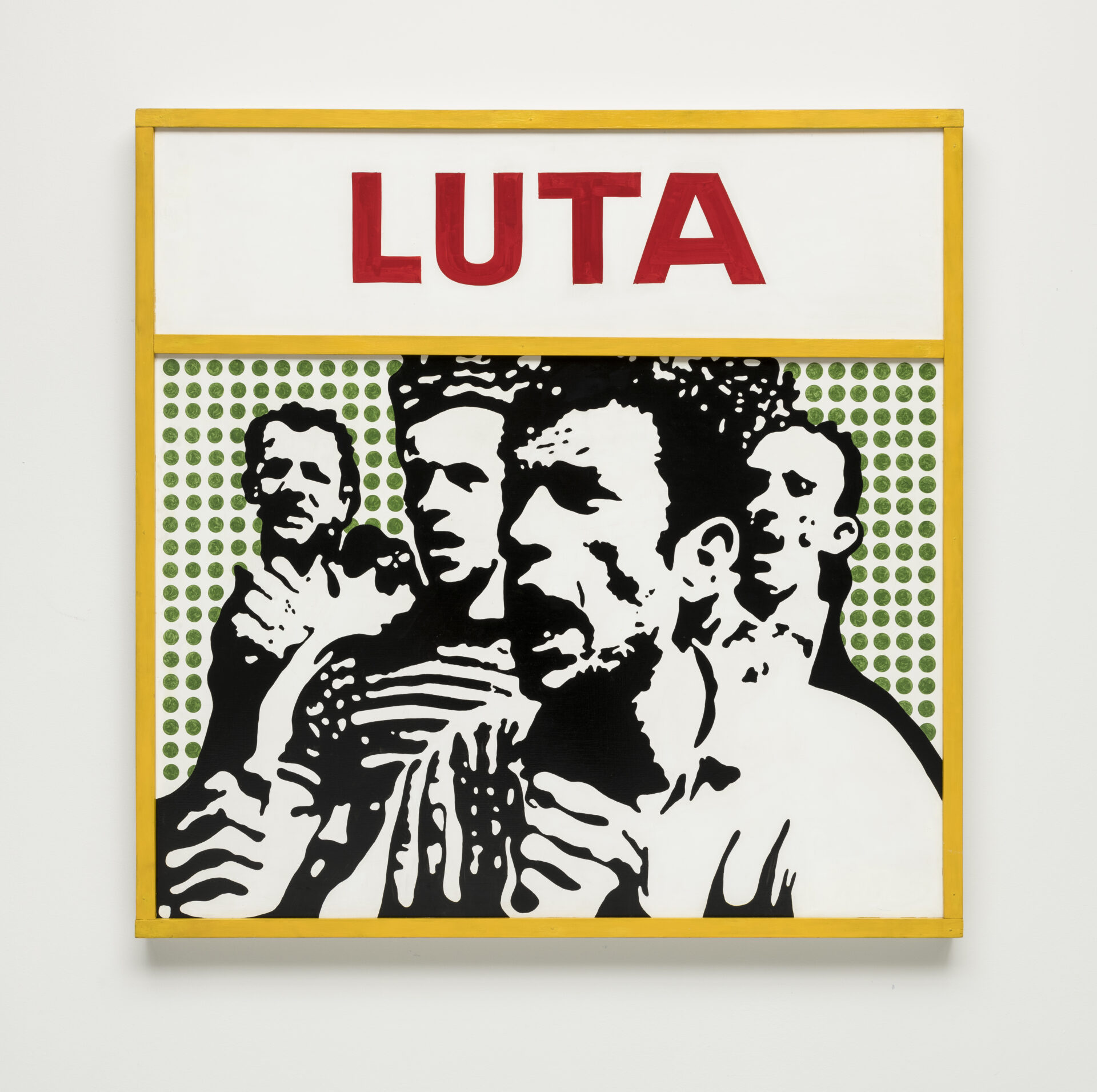
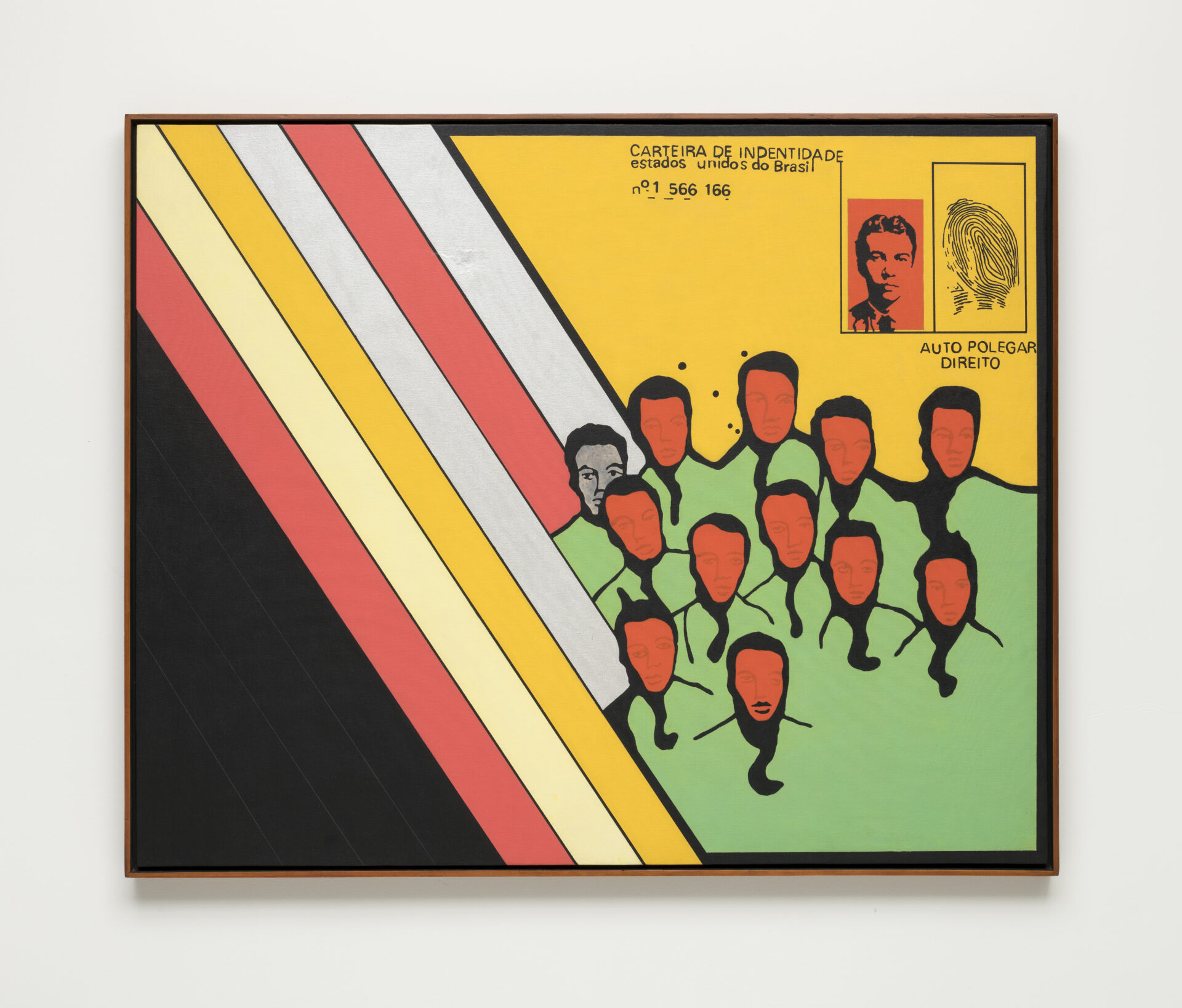

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2019.


Troféu [Trophy], 1984 cobre [copper], 8 x 119 x 262 cm
Aquisição [Acquisition]: Fundo para aquisição de obras para o acervo MAM São Paulo
[Fund for acquisition of works for the MAM São Paulo collection] – Banco Itaú S.A., 1999
© Instituto Tunga, Rio de Janeiro.
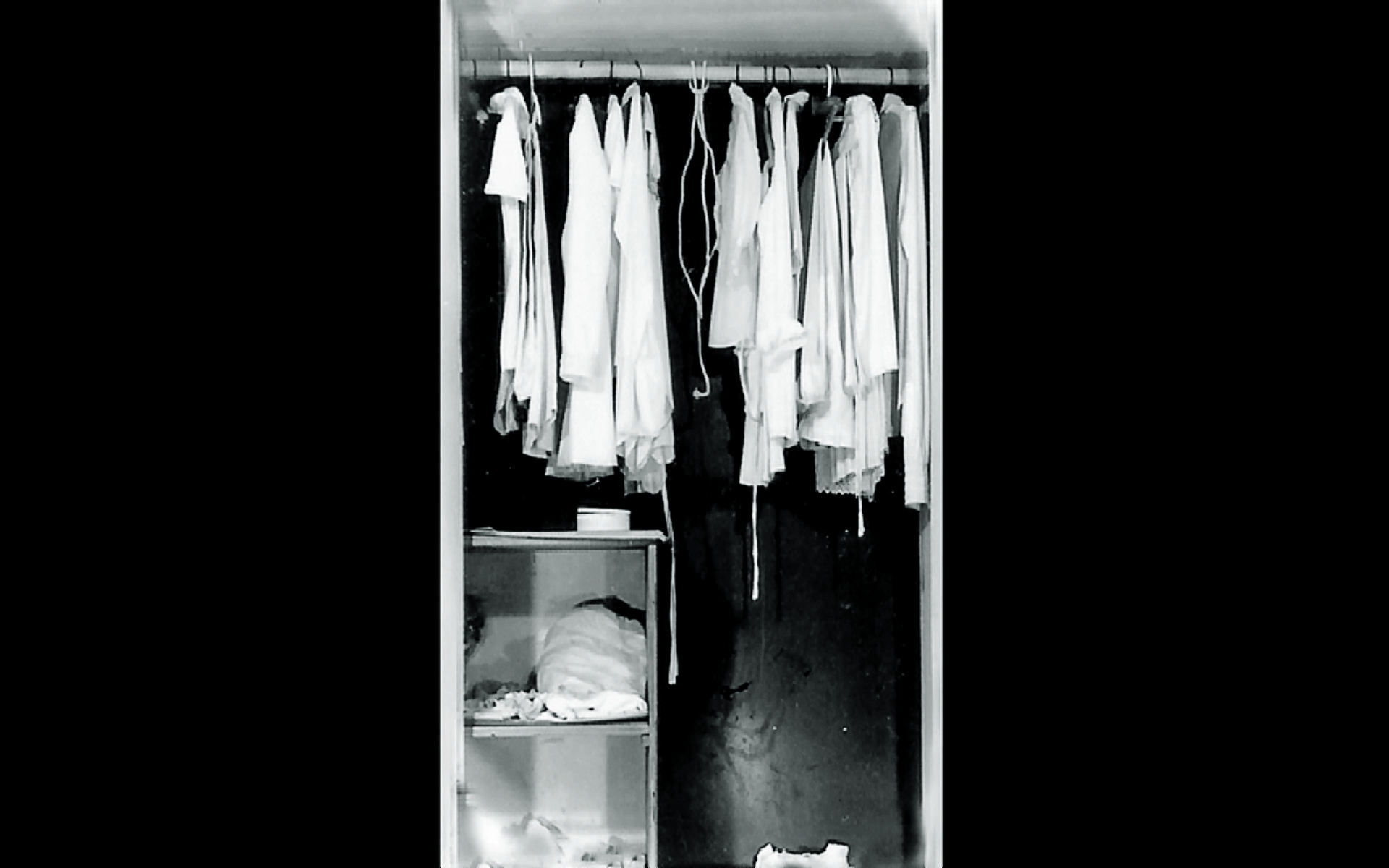
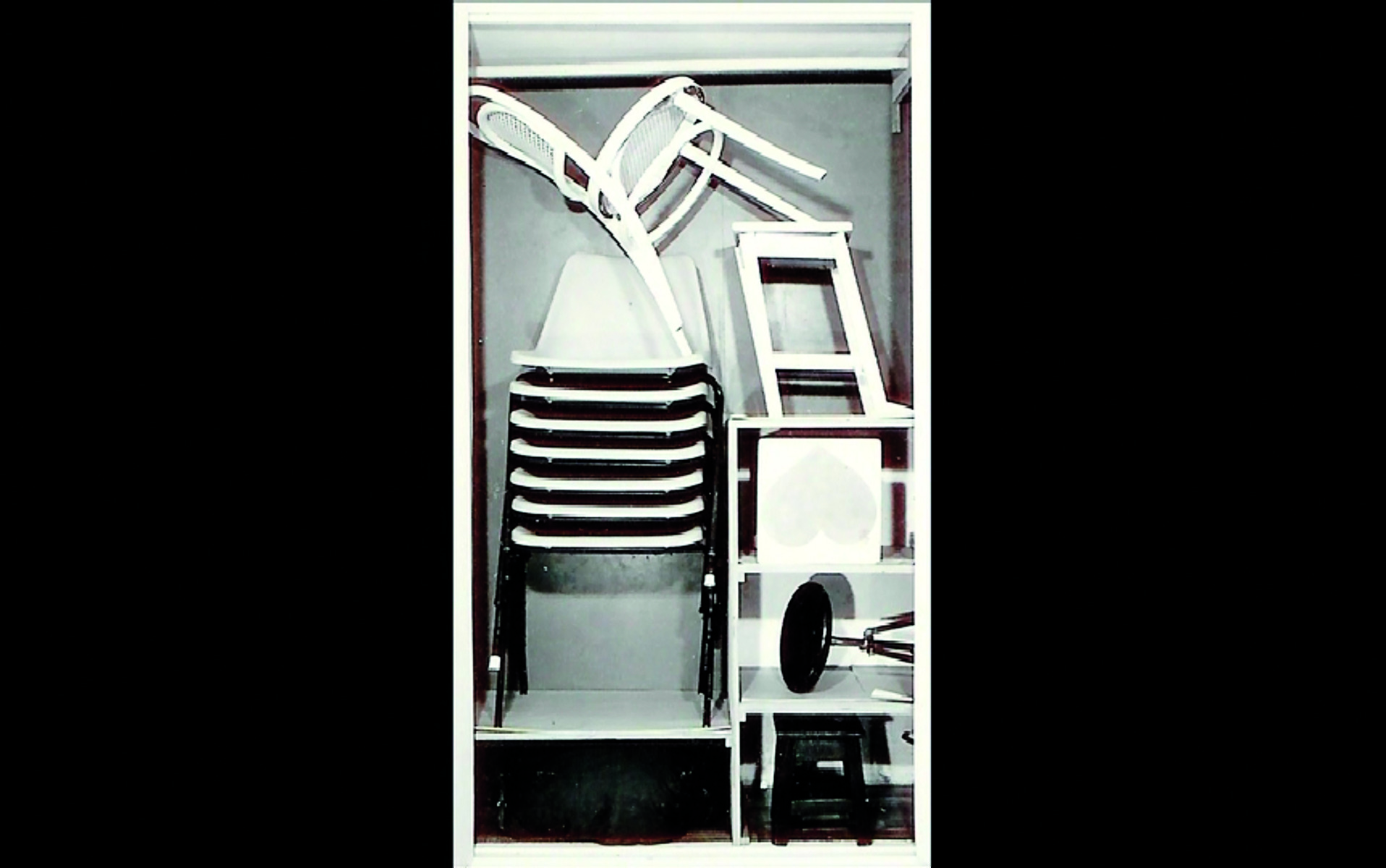
Formas de construir e romper.
As formas de representação do corpo humano na arte moderna e contemporânea sugerem
que as relações que estabelecemos a partir e através dele são repletas de jogos de poder.
Algumas dessas relações ocorrem naturalmente, como as afetivas e familiares, enquanto outras
resultam de condições e contextos específicos de aproximação e afastamento de corpos em
situações dinâmicas. Nas gravuras de Candido Portinari, que ilustraram uma edição especial
de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, vemos uma série de cenas com personagens do romance; seus gestos, vestimentas e interações parecem sugerir, mesmo sem a presença do texto, as relações que se estabelecem entre eles. Na pintura de Heitor dos Prazeres e nas aquarelas de Lívio Abramo, as diferentes posturas corporais, além dos vestidos e saias esvoaçantes, impregnam de dinamicidade as imagens de dança. Os trabalhos de Ismael Nery, Anna Maria Maiolino, Antonio Henrique Amaral e Marco Paulo Rolla apresentam corpos que sugerem relações de intimidade a partir de perspectivas diferentes, ora mais simbólicas, ora mais literais. As
pinturas de Rubens Gerchman e Claudio Tozzi introduzem relações de ordem social e política,
acentuadas pelo contexto nacional de ditadura militar no período em que foram realizadas. Os retratos de Flávio de Carvalho e Samson Flexor dialogam com questões da representação de uma identidade, utilizando-se da fragmentação cubista como estratégia visual da subjetividade. As obras de Letícia Parente, Ana Maria Tavares e Tunga não apresentam corpos, mas aludem à sua presença quando refletimos sobre a funcionalidade dos objetos retratados.


Composição [Composition], 1948 óleo sobre amianto [oil on asbestos], 43,4 x 58 cm Aquisição [Acquisition]: Fundo para aquisição de obras para o acervo MAM São Paulo [Fund for acquisition of works for the MAM São Paulo collection] – Banco Bradesco S.A., 1999.

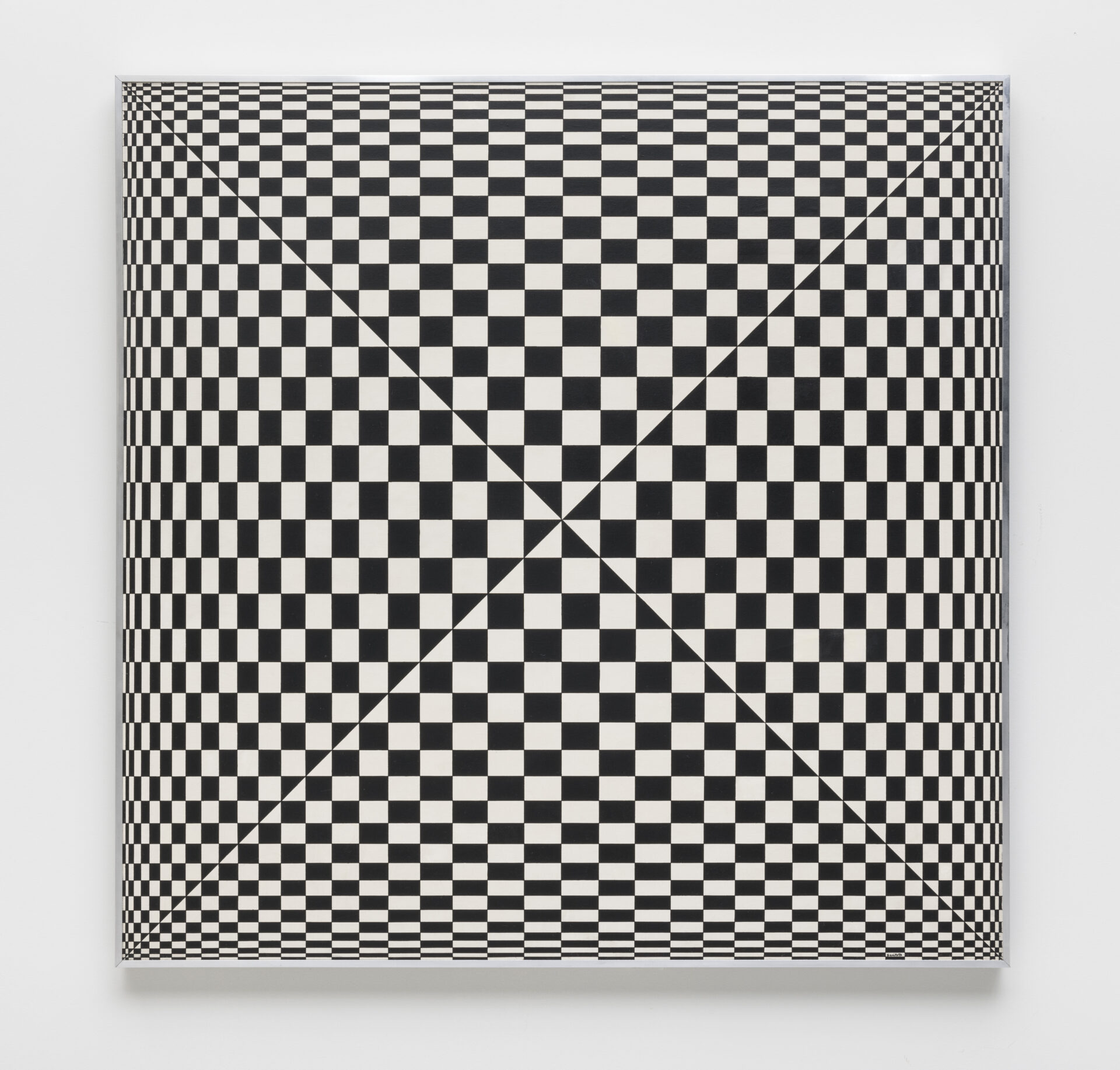
Concreção 7959 [Concretion 7959], 1979 óleo sobre tela [oil on canvas], 100 x 100 cm
Doação artista [Donated by the artist], 1979.
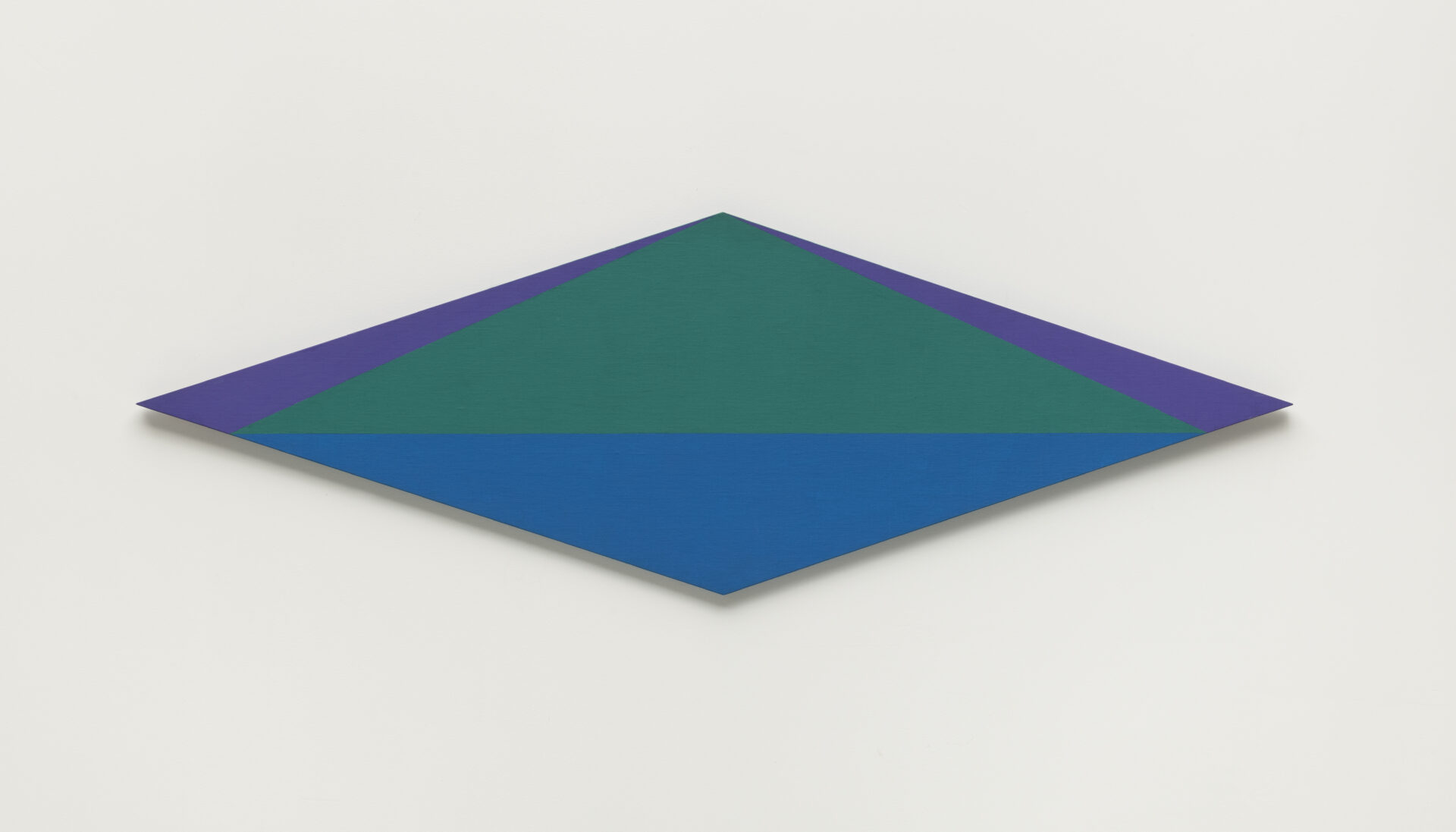

guache sobre papel cartão [gouache on cardpaper], 38,7 x 40,7 x 2 cm
Doação [Donated by] Milú Villela, 1998.
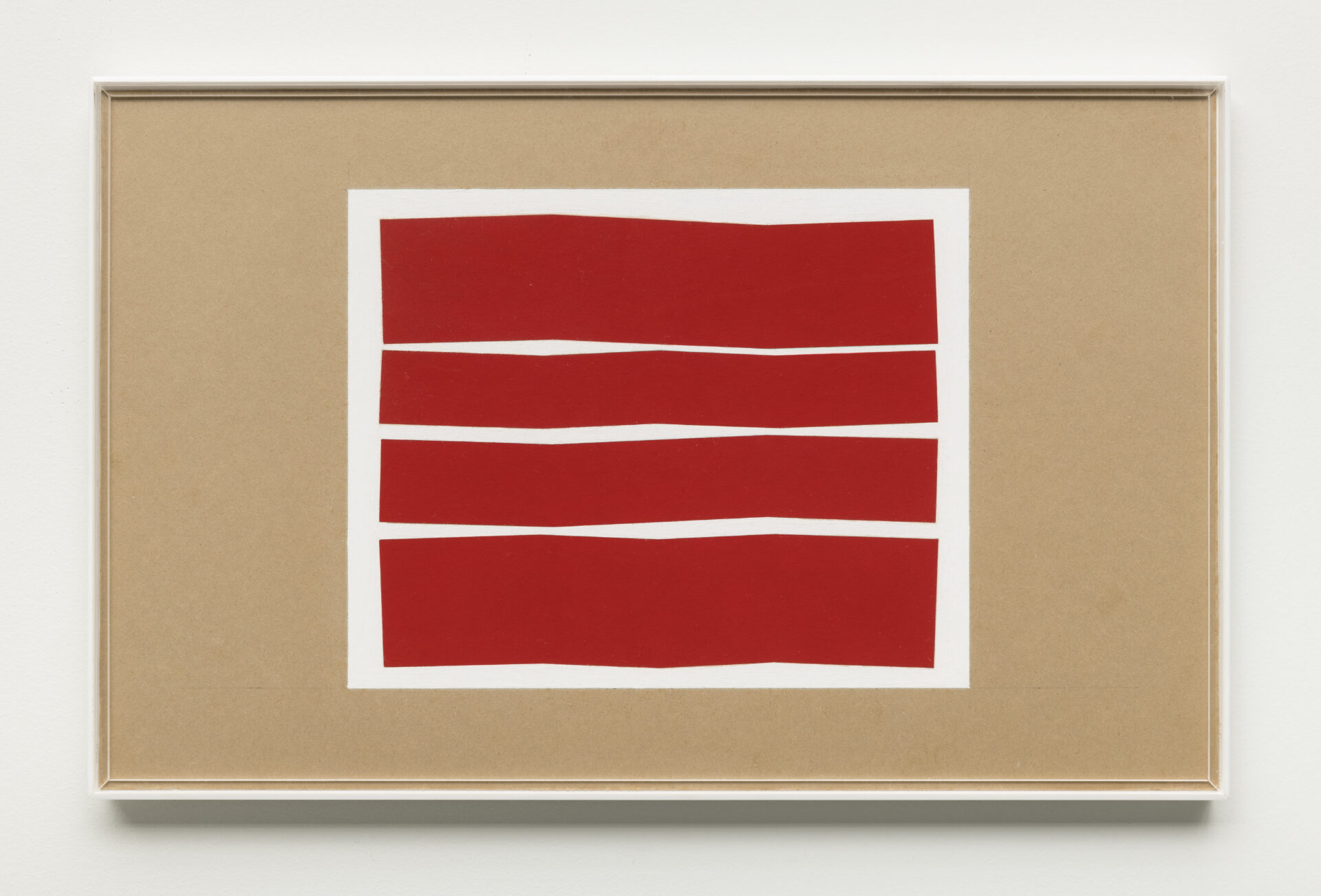
guache sobre papel cartão [gouache on cardpaper], 55,6 x 35,3 x 2 cm
Doação [Donated by] Milú Villela, 1998.

madeira revestida de laminado de fórmica [formica laminate-covered wood], 141,5 x 122,5 x 5 cm
Doação [Donated by] Cesar Luis Pires de Mello, 1992.
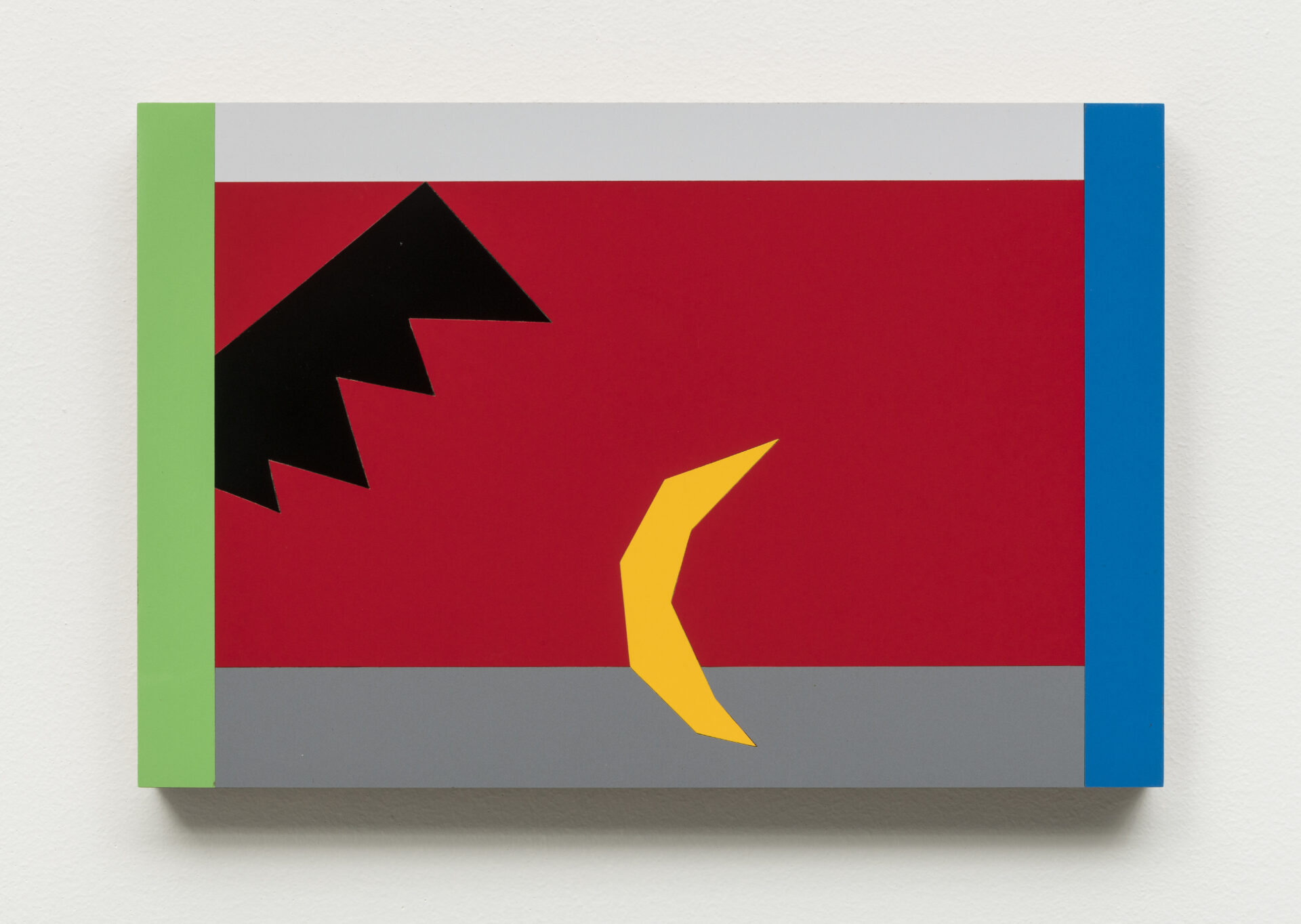
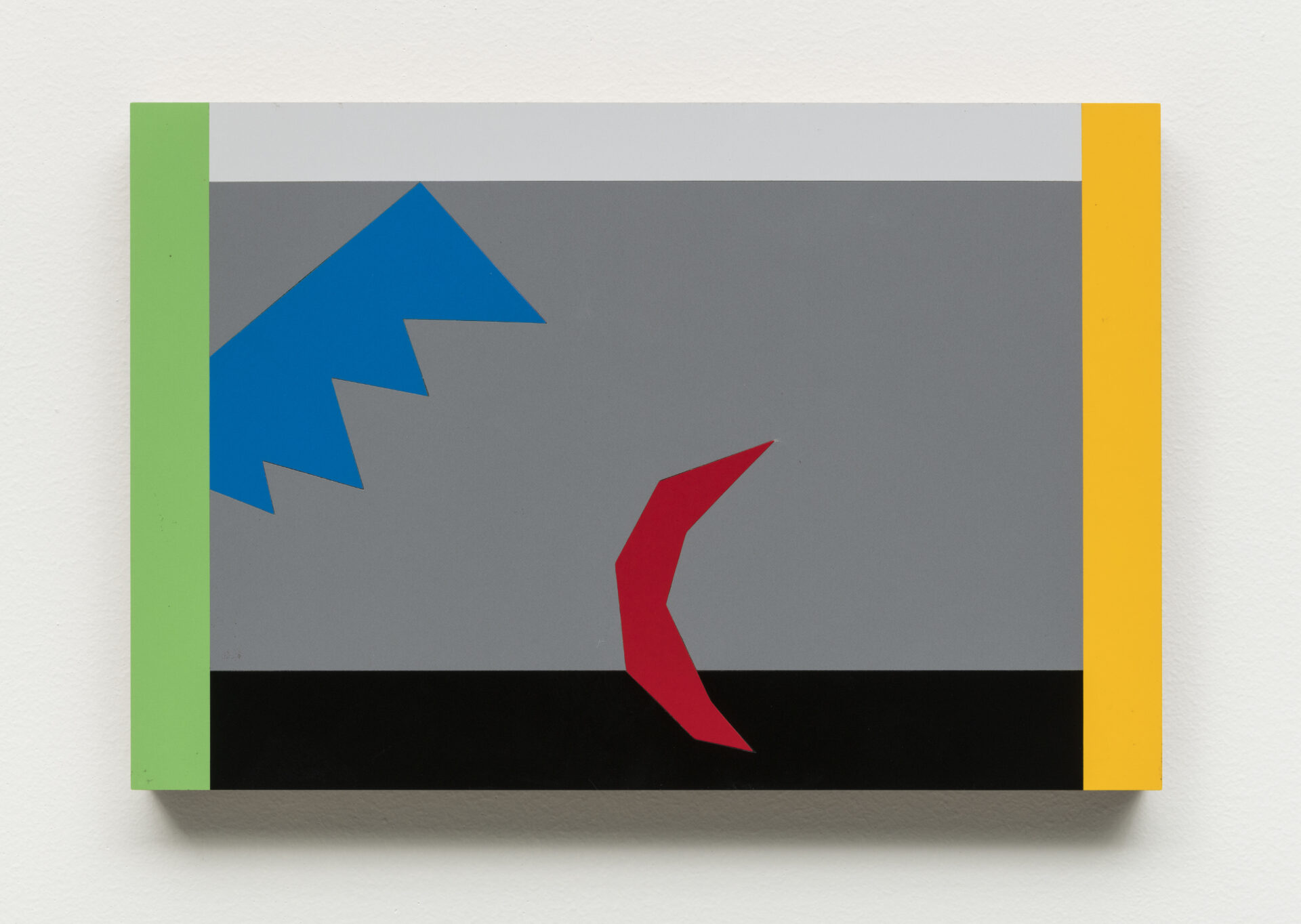



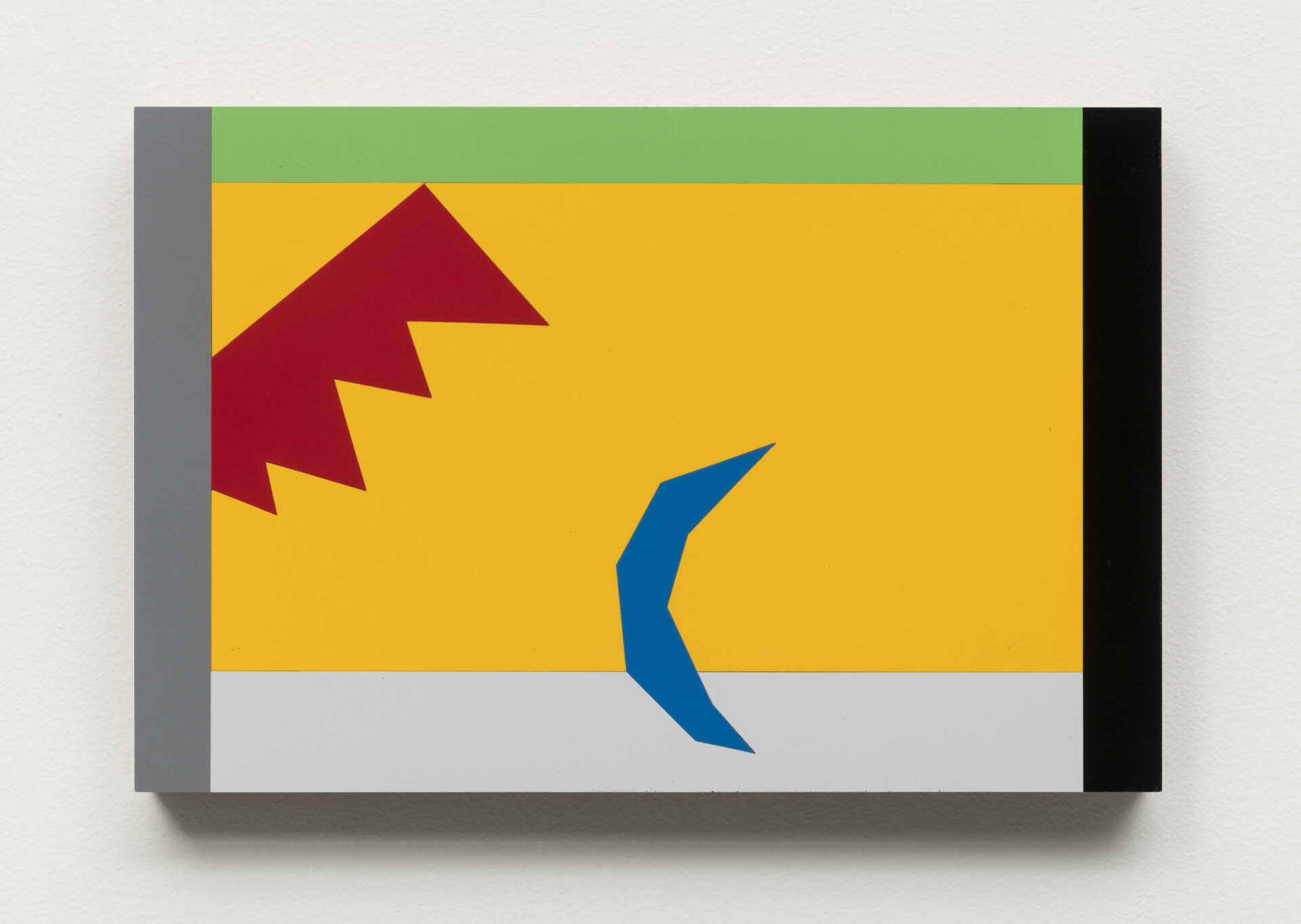
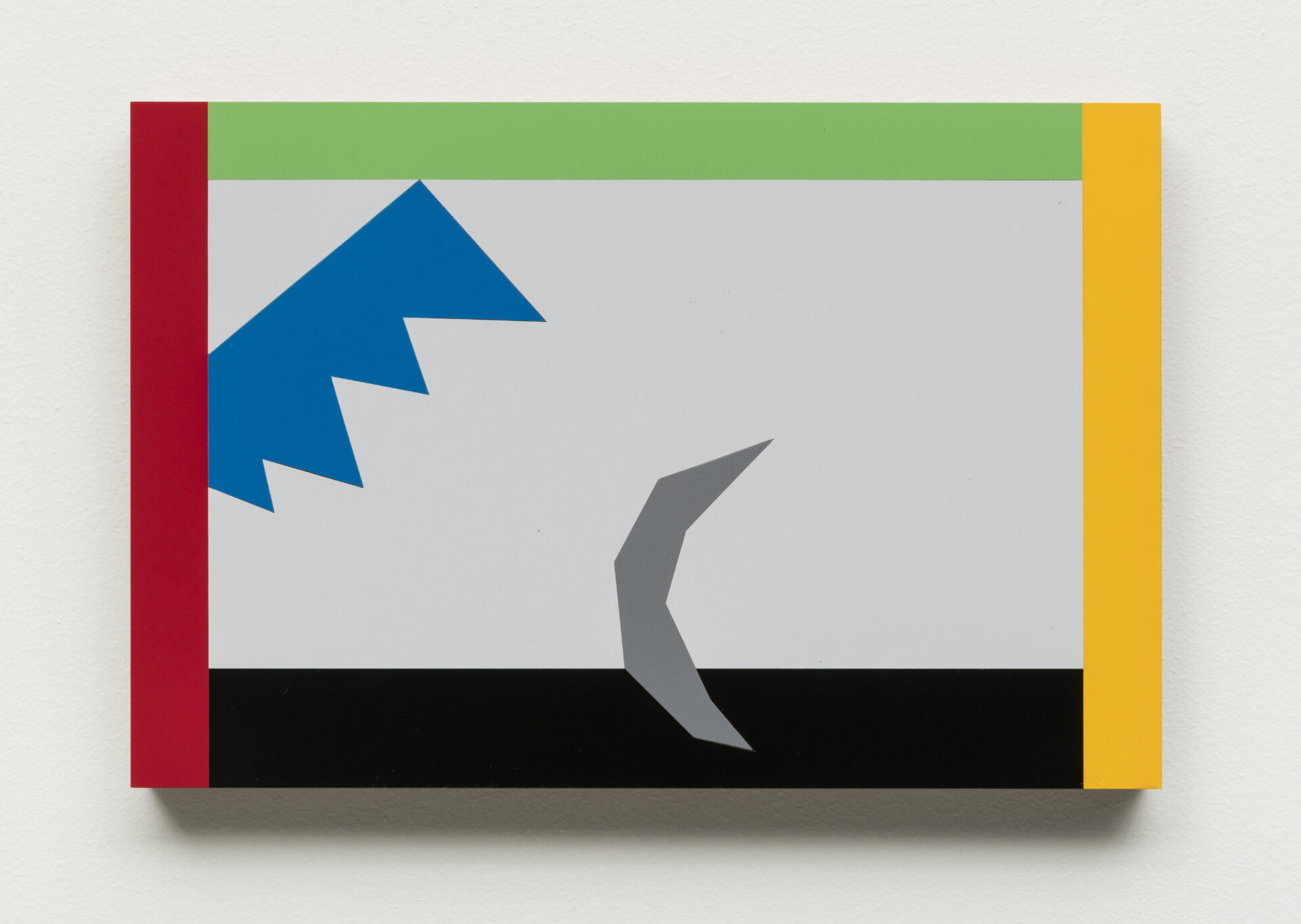
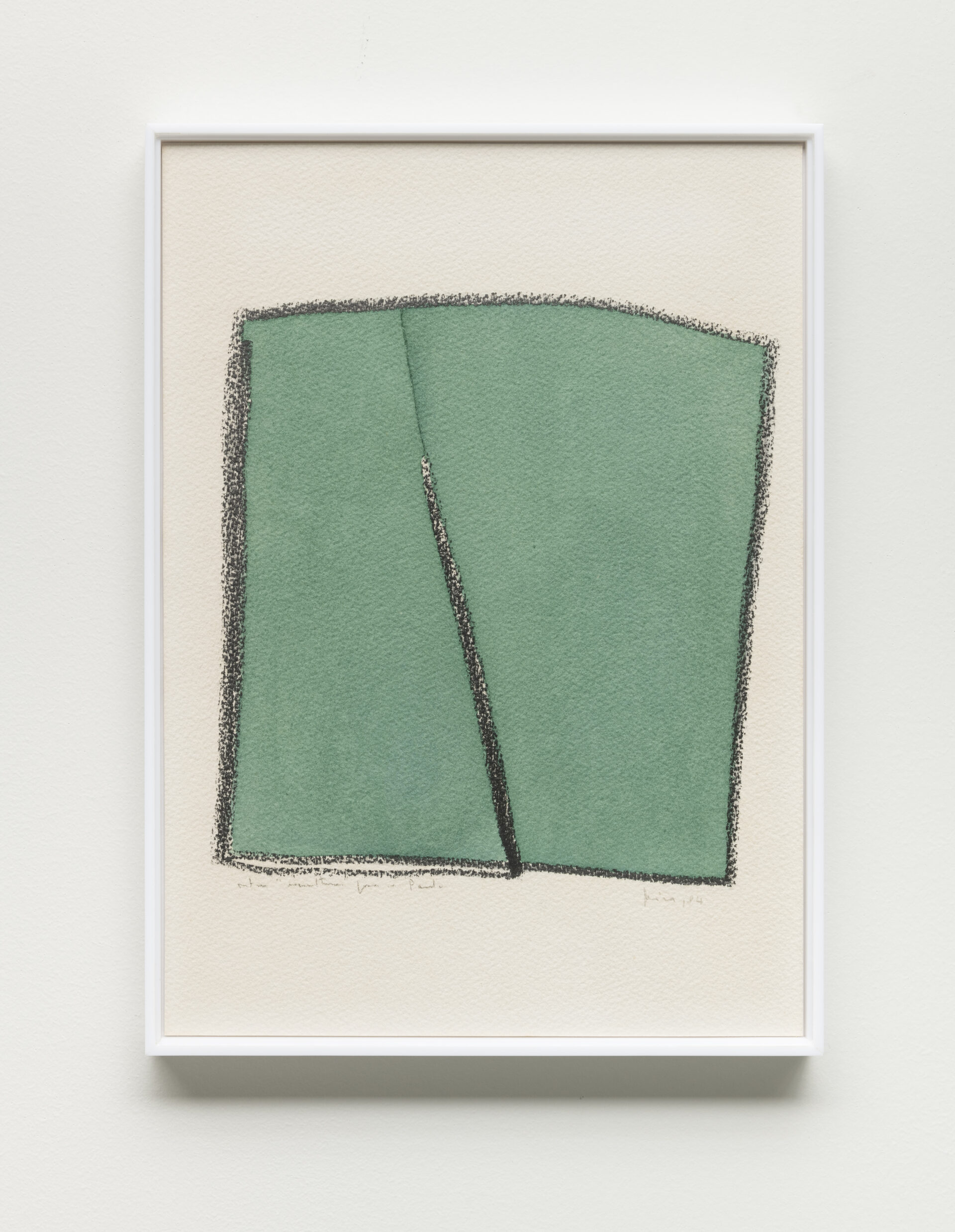
Sem título [Untitled], 1984 aquarela e bastão de óleo sobre papel [watercolor and oil stick on paper], 36,7 x 26,7 x 3 cm Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.
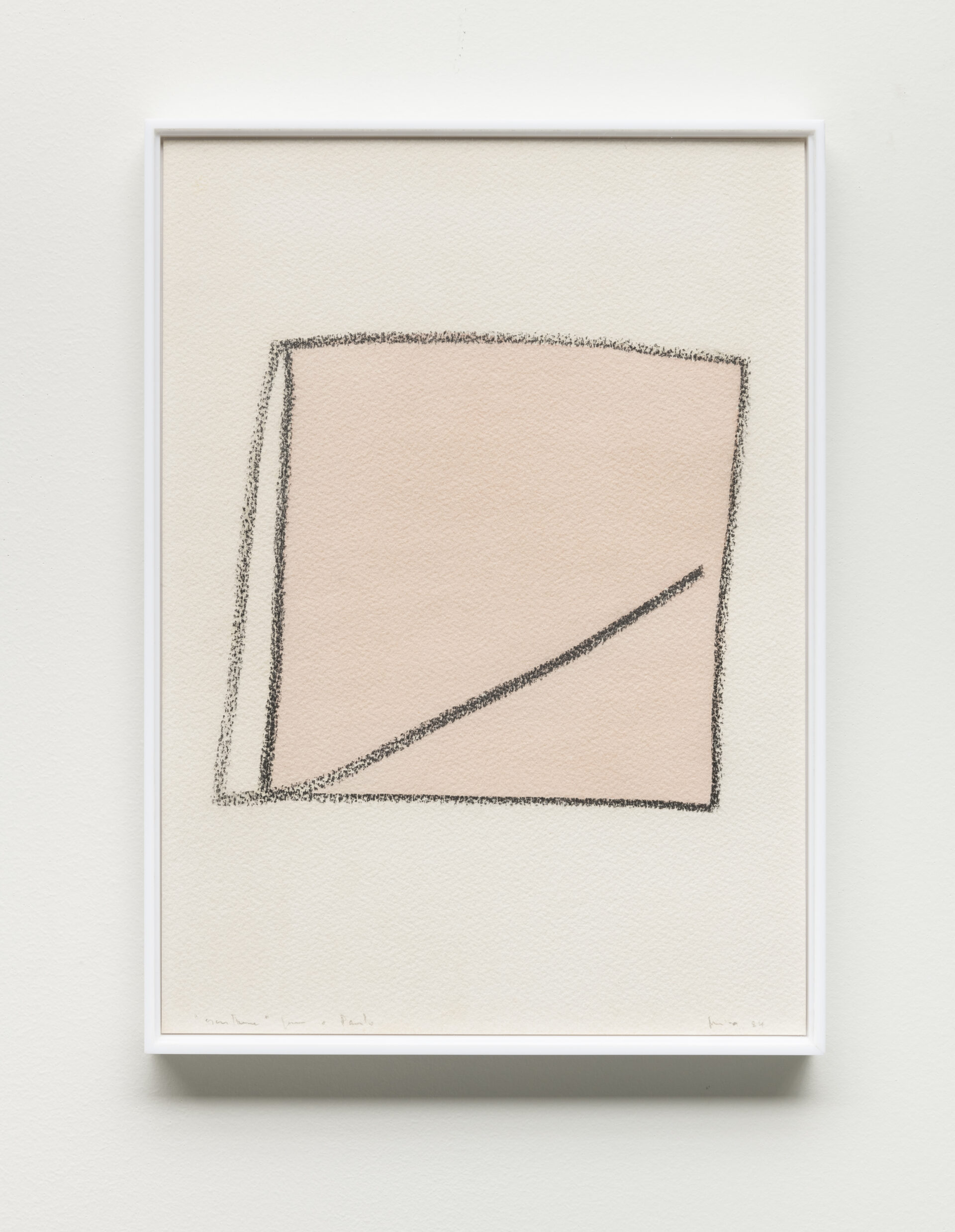
Sem título [Untitled], 1984 aquarela e bastão de óleo sobre papel
[watercolor and oil stick on paper], 37 x 27 x 2,5 cm
Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.
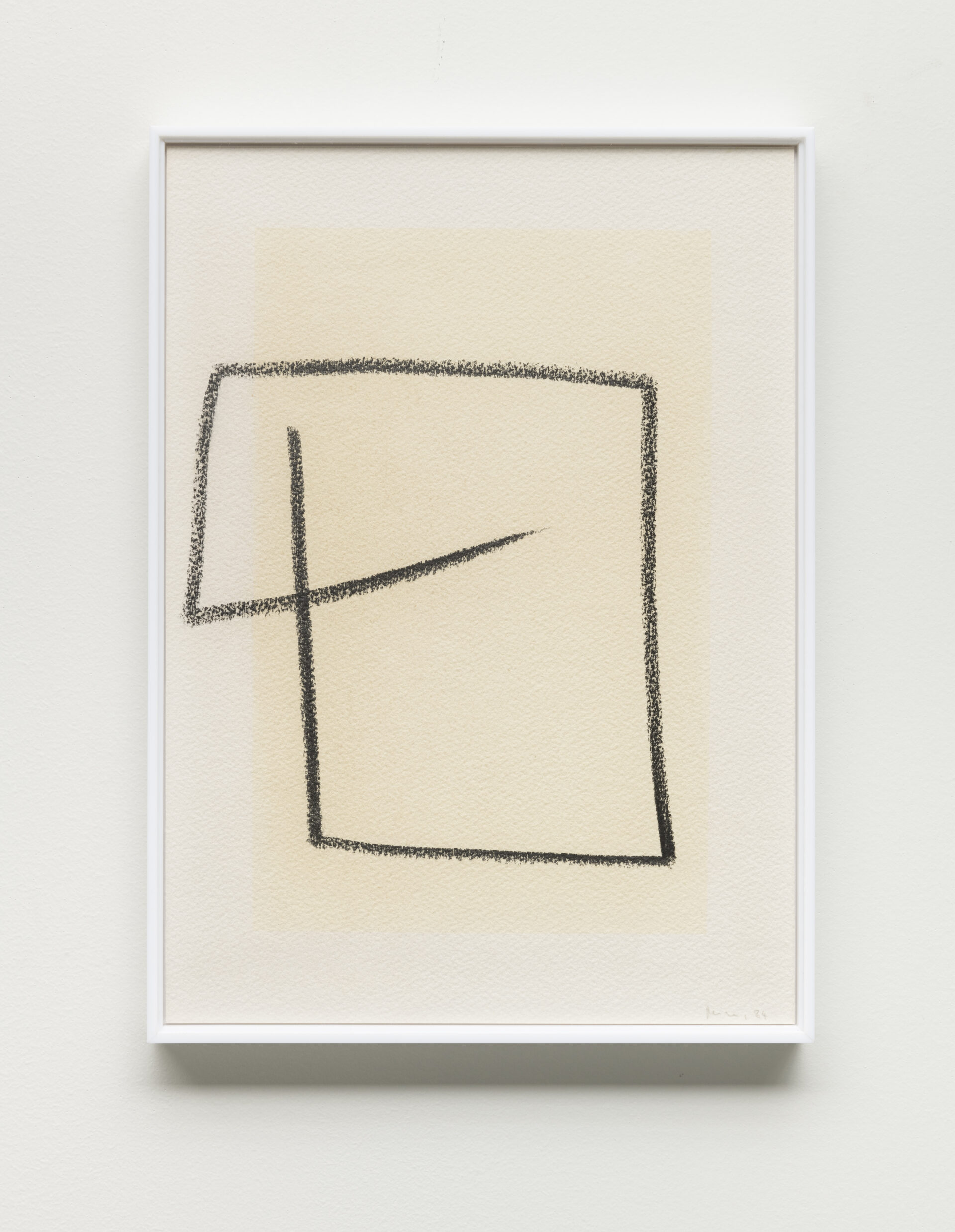
Sem título [Untitled], 1984 aquarela e bastão de óleo sobre papel
[watercolor and oil stick on paper], 36,8 x 26,9 x 2,5 cm
Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.

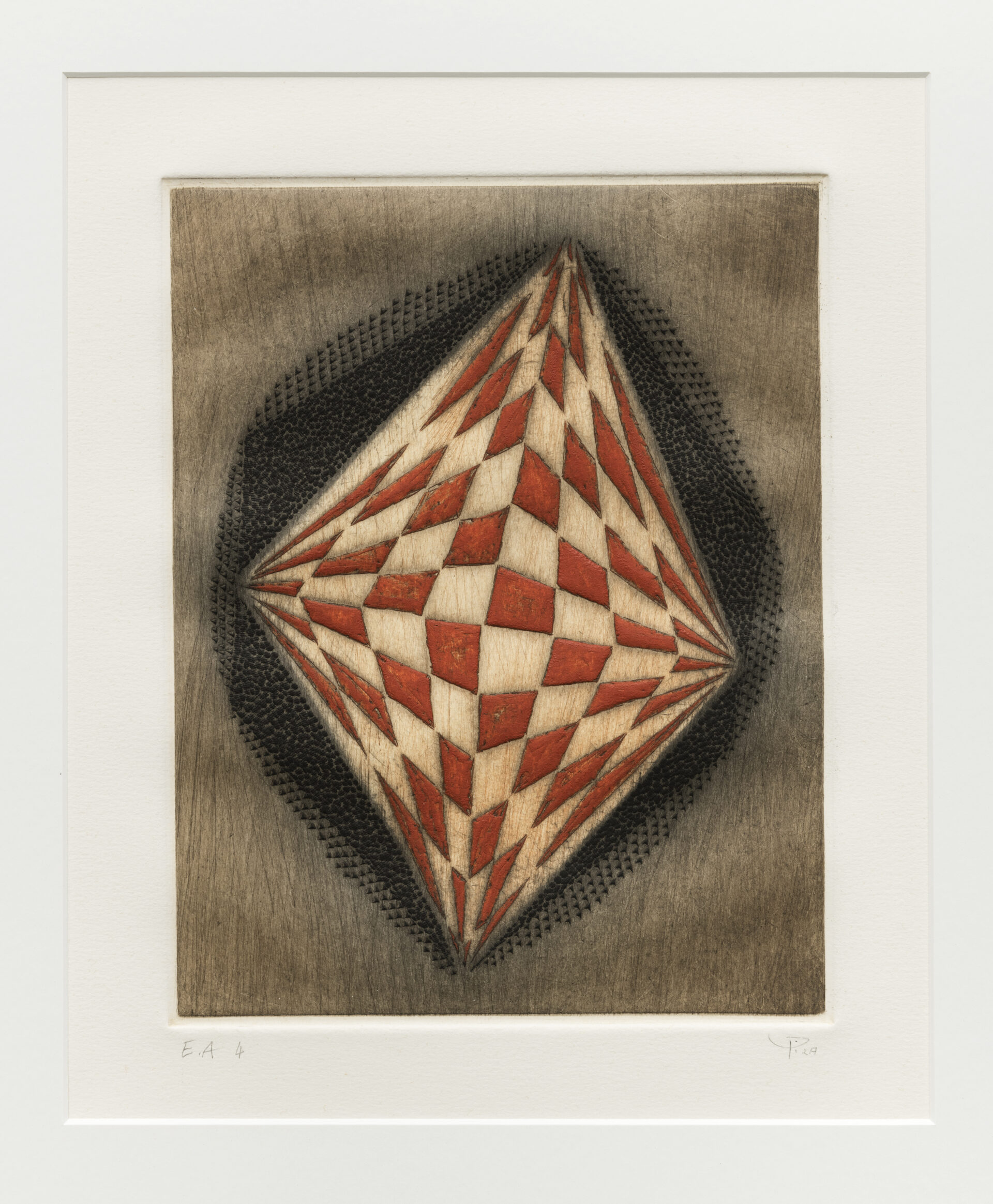
[full color engraving (gouge)], 56,5 x 38 cm
Doação [Donated by] Frederico Melcher, 1984.

Pluri-objeto [Multi-Object], 1967/1971 acrílica-vinílica sobre madeira [acrylic-vinyl on wood], 97 x 8 x 6,4 cm Doação [Donated by] José Paulo Domingues, 1973.

mármore de Carrara [Carrara marble], 103 x 60,2 x 30,2 cm
Aquisição [Acquisition]: Fundo para aquisição de obras para o acervo MAM São Paulo
[Fund for acquisition of works for the MAM São Paulo collection]
– Banco de Crédito de SP S.A./G. Zogb.

Luz-espaço: tempo de um movimento [Light-Space: Time of a Movement], 1953–55
alumínio anodizado e madeira [anodized aluminum and wood], 53,5 x 49,5 x 7,7 cm
Prêmio [Prize] Museu de Arte Moderna de São Paulo – Panorama 1978, 1978
Cortesia [Courtesy] ISISUF – Archivio Belloli-Vieira. Milani. Todos os direitos reservados
[All rigths reserved].
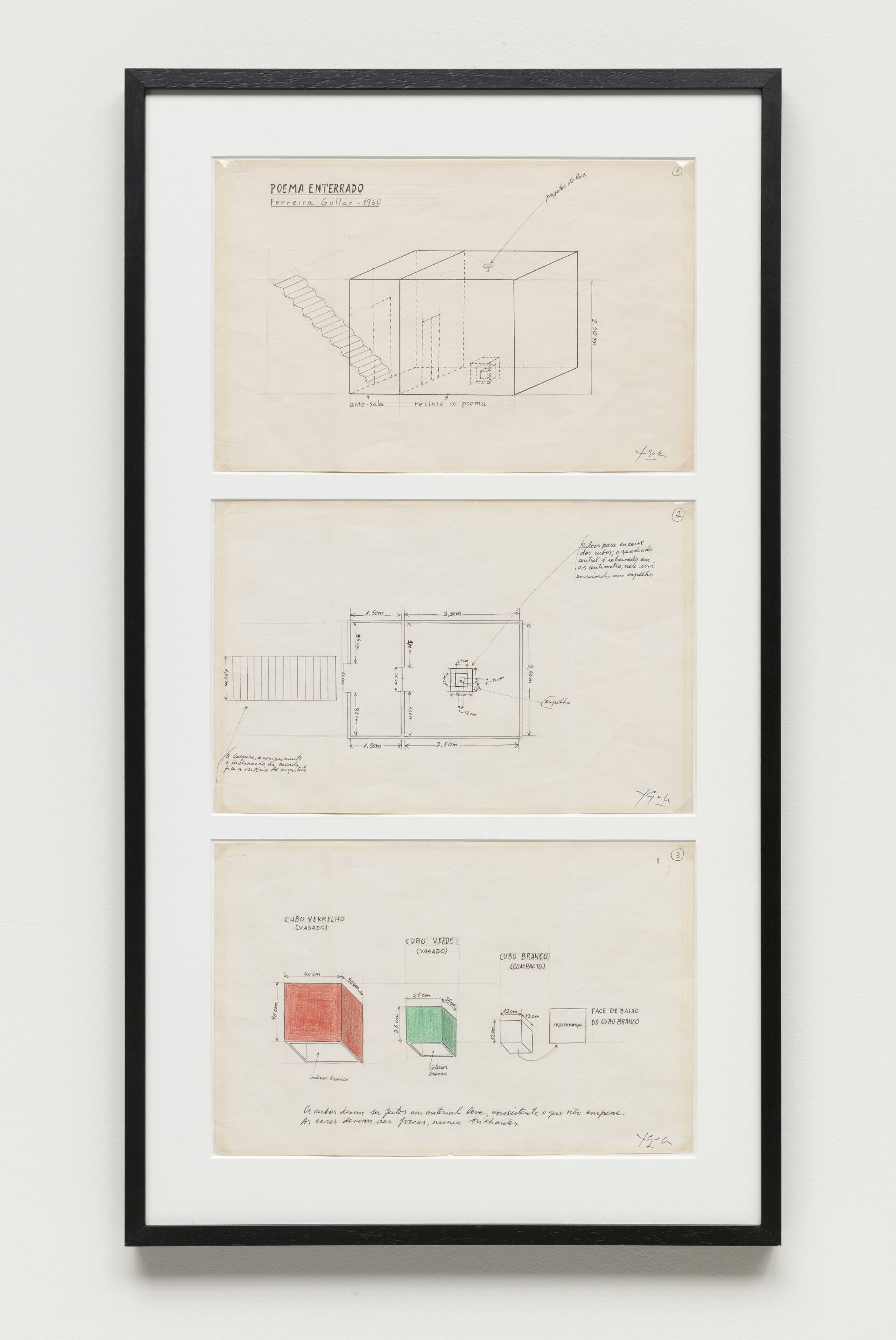
Poema enterrado [Buried Poem], 1960 grafite, lápis de cor e caneta esferográfica sobre papel (projeto) [graphite, colored pencil, and ballpoint on paper (project)], 21,4 x 33 cm (cada [each])
Doação [Donated by] Milú Villela, 1997.

madeira [wood], 100 x 117 cm
Aquisição [Acquired by] MAM São Paulo, 1999.
Fragmentos: gestos e abstrações.
A arte moderna está intimamente ligada à abstração, que também é corrente entre artistas contemporâneos. Entre as origens da abstração na arte encontra-se, justamente, o recorte e a
fragmentação da natureza, ou seja, a ampliação de um fragmento até o ponto da perda da referência inicial. Nas pinturas de Aldo Bonadei não ocorre a representação ponto por ponto da realidade; nelas, elementos figurativos ligados ao gênero da natureza-morta convivem com abstrações geométricas. Já Antônio Henrique Amaral parte de um cacho de banana — uma espécie de ícone da identidade brasileira devido principalmente a ligações econômicas e culturais que vão de Carmen Miranda ao
tropicalismo — para selecionar um fragmento que pode ser apreendido como faixas verdes e amarelas. Os gestos delicados presentes nos desenhos de Sandra Cinto, feitos com caneta, ficam nessa zona nebulosa entre o figurativo e o abstrato, discussão que o MAM realiza desde a sua fundação na década de 1940. Beatriz Milhazes, recorrendo a cores vivas, se relaciona com o campo da colagem, fundindo padrões geométricos, formas circulares, mandalas e motivos florais. Obras como as de Flávio Shiró, Samson Flexor e Yves Klein transformam gestos em pinturas a partir do emprego do pincel, de tintas e dos corpos dos artistas e modelos.

óleo sobre tela sobre madeira [oil on canvas on wood], 73,5 x 95 cm
Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.
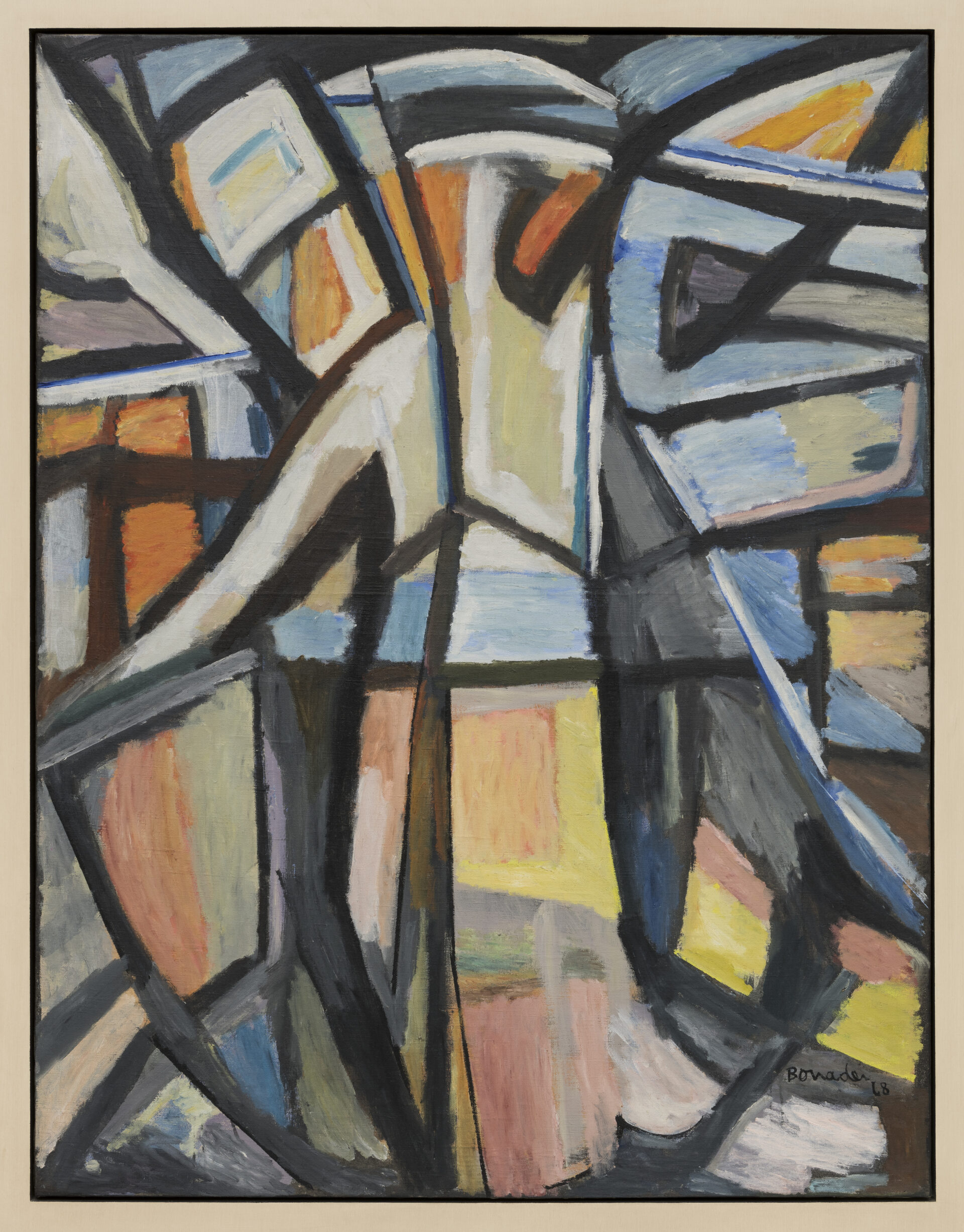
óleo sobre tela [oil on canvas], 136,6 x 106,7 cm
Doação [Donated by] Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, 2006.

óleo sobre tela [oil on canvas], 70,1 x 120,9 cm
Doação artista [Donated by the artist], 1970.

Prêmio [Prize] Motores MWM Brasil – Panorama 1989, 1989.

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024
© The Estate of Yves Klein / AUTVIS, Brasil, 2025.

Hamlet, 1959 óleo sobre tela [oil on canvas], 127,5 x 94,6 cm
Doação [Donated by] Margot Flexor, 1969.

Doação [Donated by] Maria de Lourdes Fontoura, 1999.
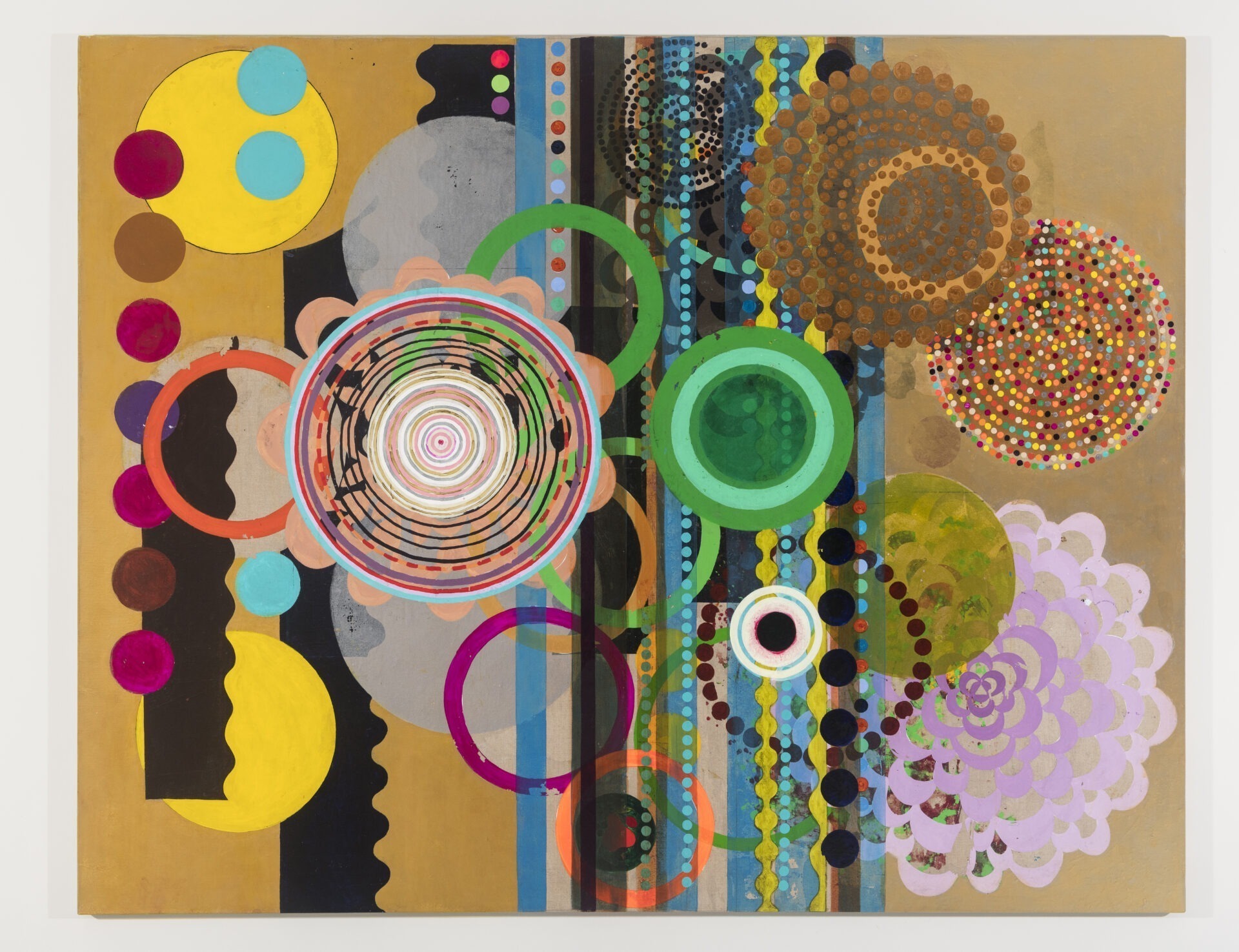
Doação [Donated by] Credit Suisse, 2009.

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.
Mídias: tradições atualizadas.
A arte contemporânea é comumente caracterizada pelo uso de novas mídias e diferentes linguagens que não eram, até então, associadas ao trabalho artístico. Porém, tecnologias como a fotografia e o vídeo, por mais atuais que sejam, já eram exploradas por artistas inseridos nas vanguardas modernistas, enquanto as produções contemporâneas não deixam de se apropriar de linguagens e mídias tradicionais, como o jornal, o texto impresso e o desenho, para reformular as suas realizações
plásticas e conceituais. As fotomontagens de Alberto da Veiga Guignard representam um dos primeiros experimentos plásticos realizados no Brasil com a imagem fotográfica e podem ser associadas à vanguarda surrealista pelo cenário onírico e pela simbologia dos elementos nas composições. Os vídeos da série The Illustration of Art de Antonio Dias são alguns dos primeiros trabalhos de videoarte realizados na arte brasileira e discorrem justamente sobre as maneiras de ilustrar ou imaginar o que seria a arte a partir da tecnologia do vídeo caseiro. As obras de León Ferrari, Franklin Cassaro e Antonio Manuel se utilizam da materialidade do jornal para produzir provocações conceituais, que se dirigem ao espectador tanto pela sua eventual expectativa sobre a função desse meio comunicacional, quanto pelas possibilidades de participação que as diferentes formas e volumes visuais sugerem. Os trabalhos de Artur Barrio e Rodrigo Matheus se realizam a partir de uma variedade de elementos descontextualizados, configurados em composições de “desenhos” matéricos, que atualizam as possibilidades formais e conceituais de uma das linguagens
mais antigas da arte.

Doação [Donated by] Paulo Kuczynski, 2006.
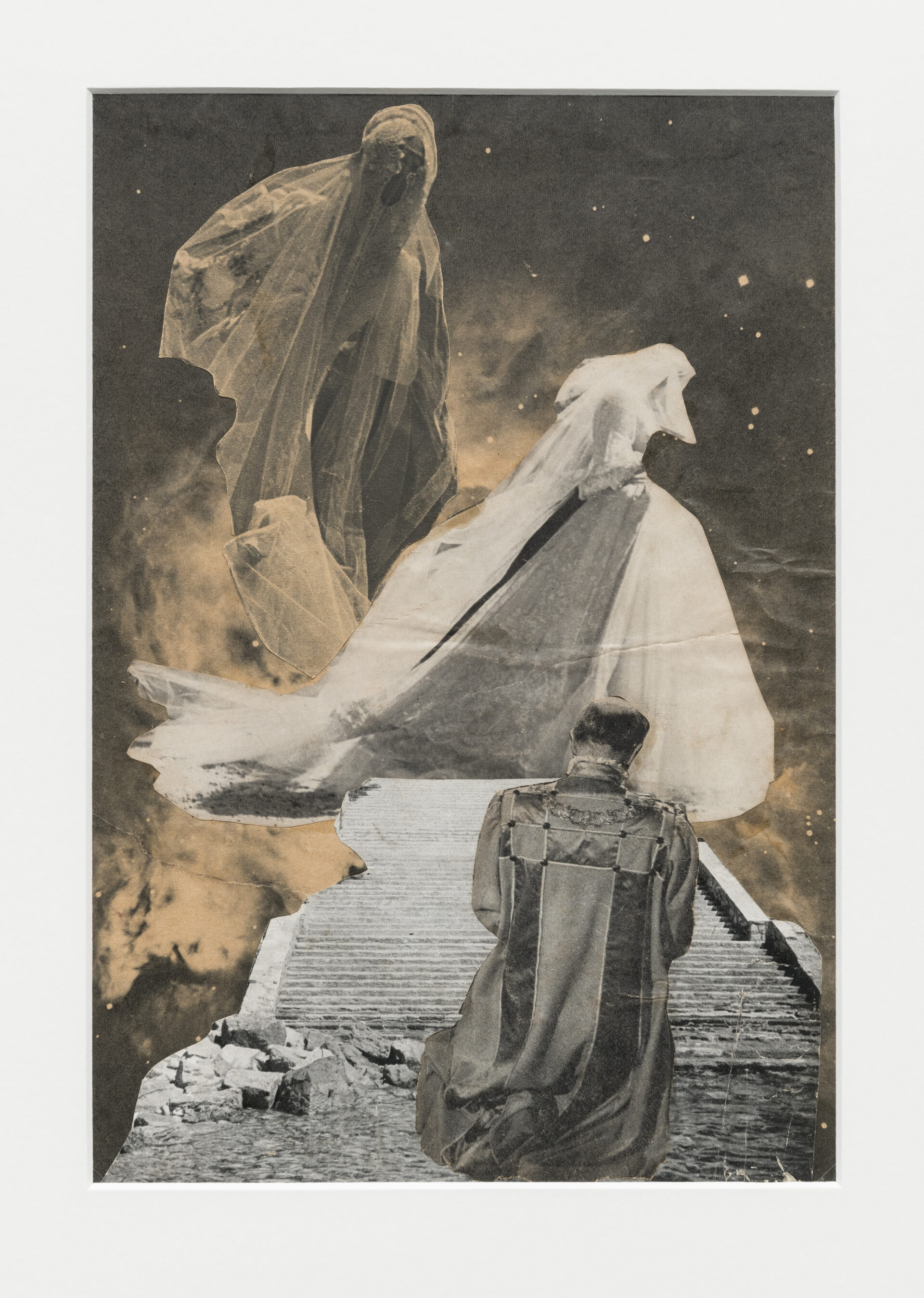
Doação [Donated by] Paulo Kuczynski, 2006.
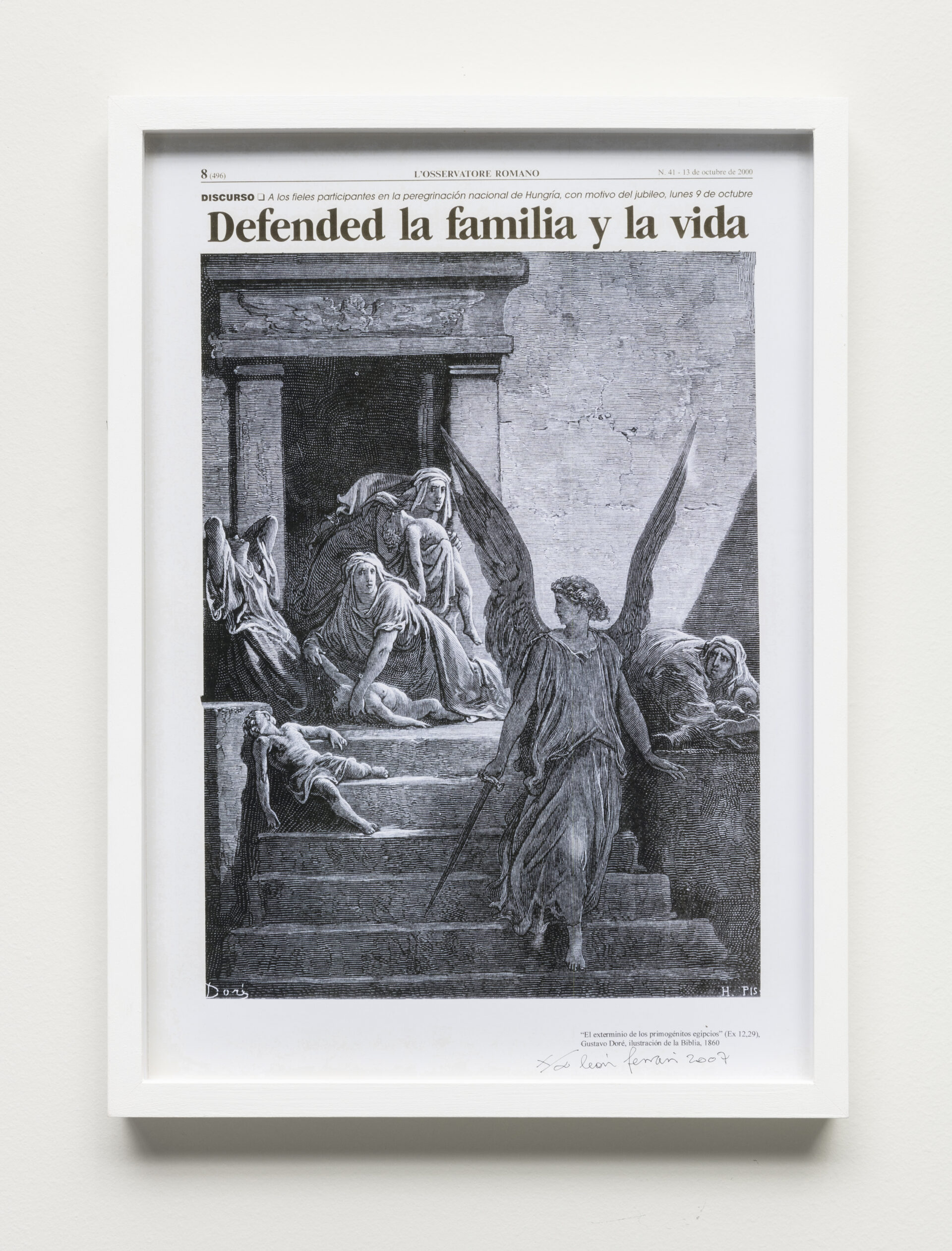
L’Osservatore Romano [O observador romano] [The Roman Observer], 2007
offset da colagem da imagem da obra “O extermínio dos primogênitos egípcios”
(Ex. 12, 29), de Gustave Doré, ilustração da Bíblia, 1860, sobre o jornal L’Osservatore
Romano, página 8, 13/10/2000 [offset print of collage made from the image of “The
Extermination of Egypt’s First-Born” (Ex. 12, 29), by Gustave Doré, Bible illustration, 1860,
on the newspaper L’Osservatore Romano, page 8, 10/13/2000], 48 x 35,6 cm
Doação artista por intermédio do [Donated by the artist through the]
Núcleo Contemporâneo MAM São Paulo, 2007.
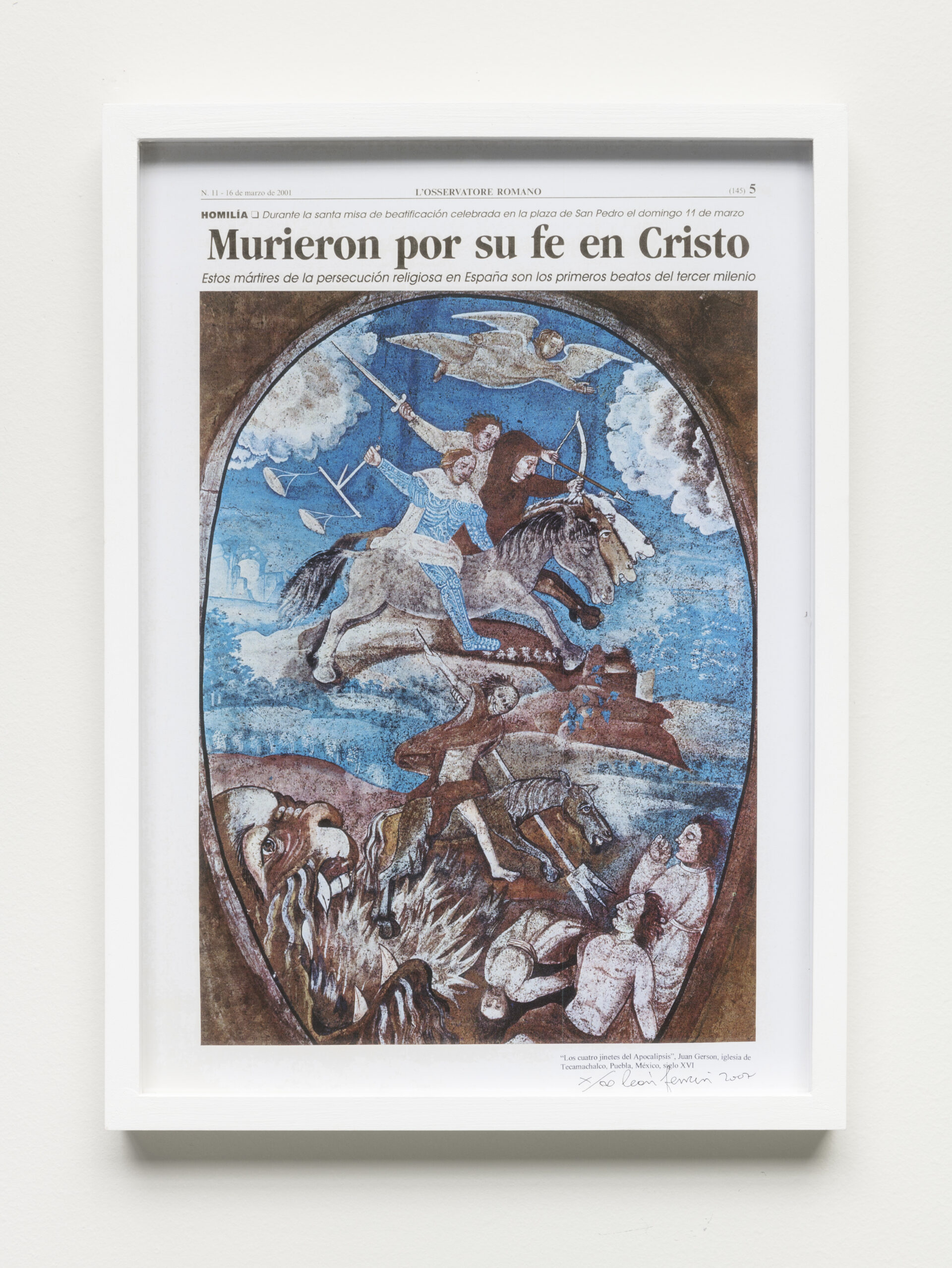
century, on the newspaper L’Osservatore Romano, page 5, 03/16/2001], 42,3 x 29,8 cm
Doação artista por intermédio do [Donated by the artist through the]
Núcleo Contemporâneo MAM São Paulo, 2007.
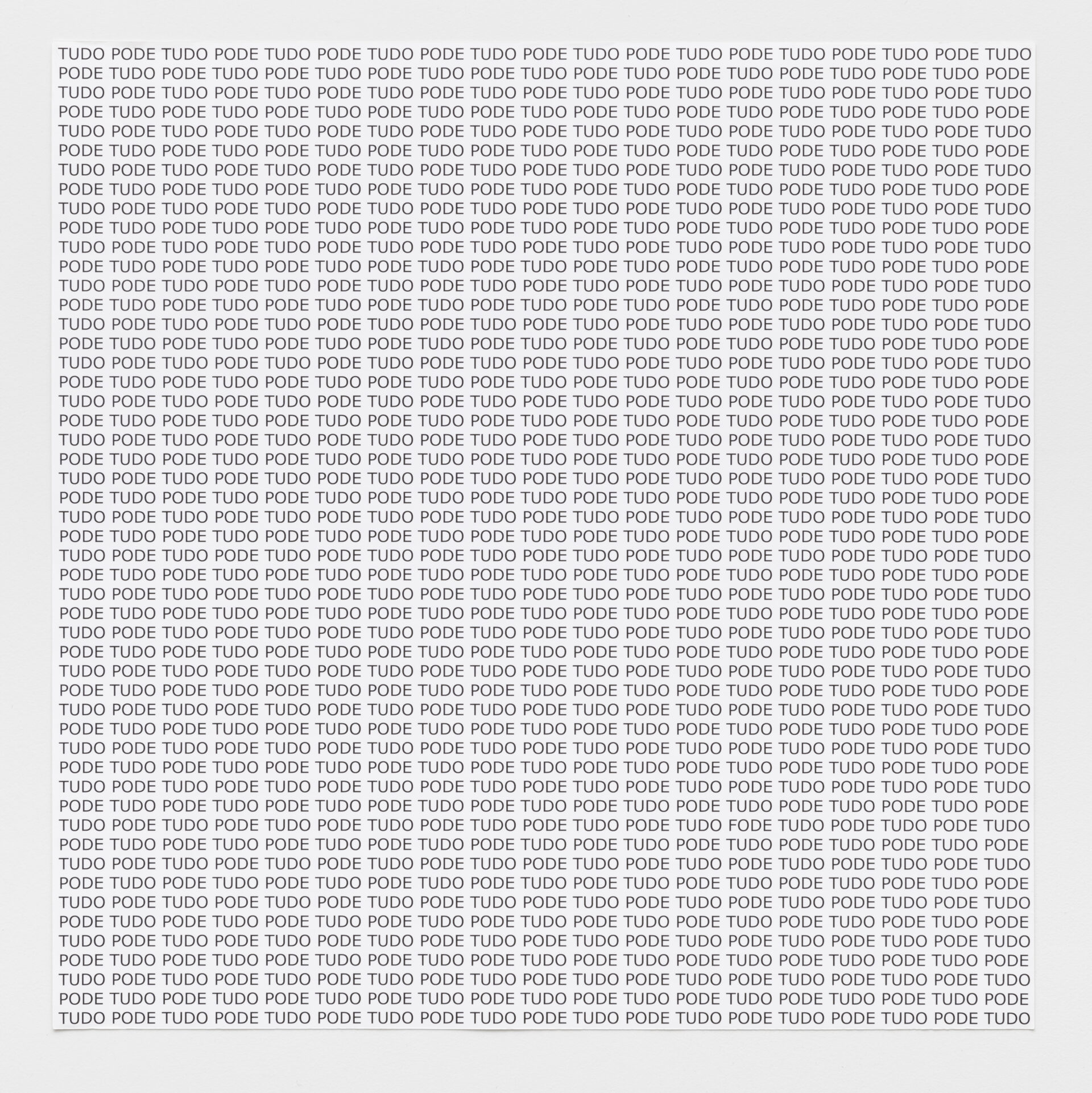
Doação artista [Donated by the artist], 2003.
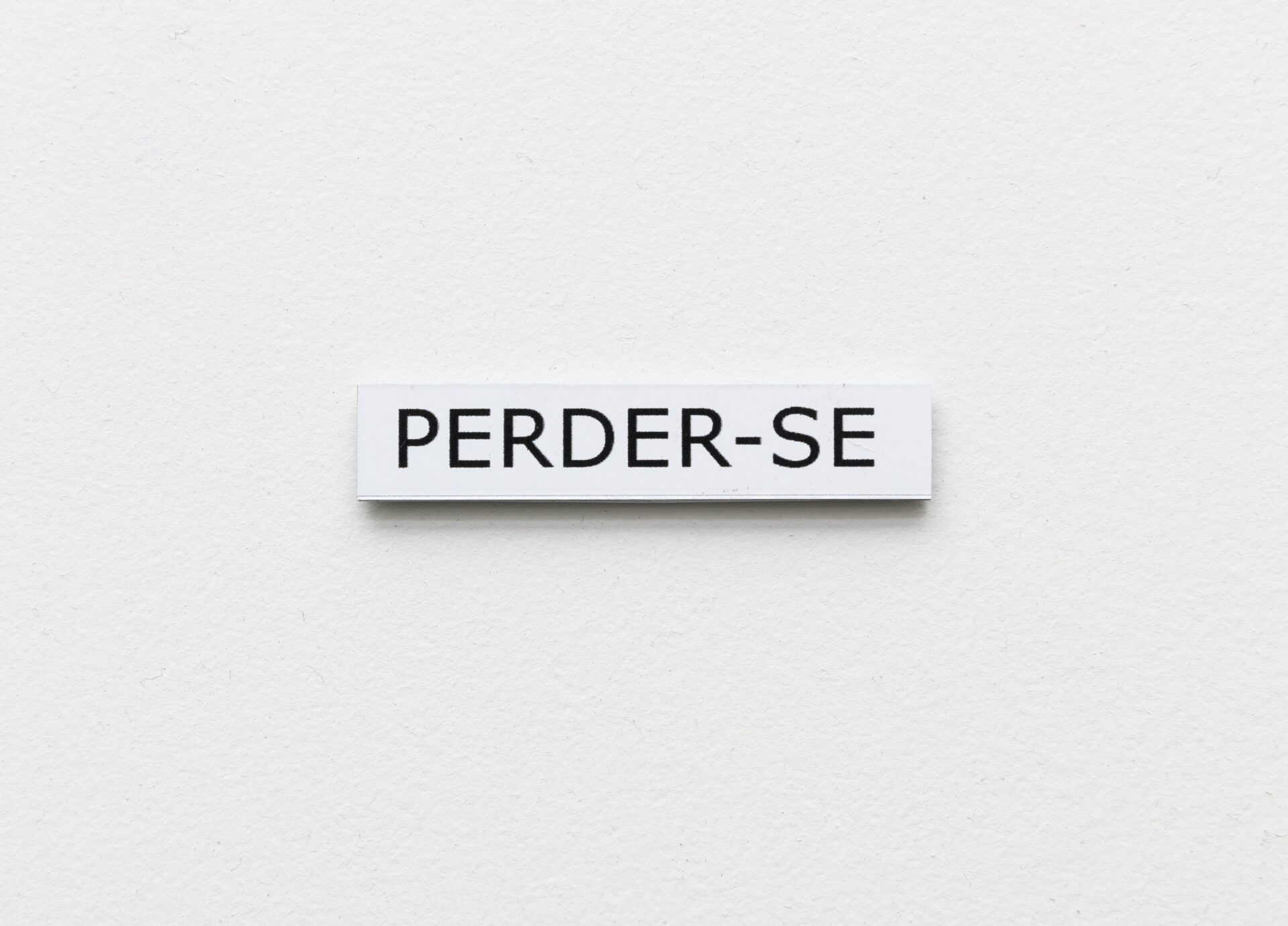

[from the series Unorthodox Drawings], 1973/2009 caixa de madeira, vidro, tinta sobre papel, lâmpada, plugue de tomada, folha de ouro, metal e arame [wooden box, glass, paint on paper, light bulb, power plug, gold leaf, metal, and wire], 45 x 43 x 12 cm
Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.
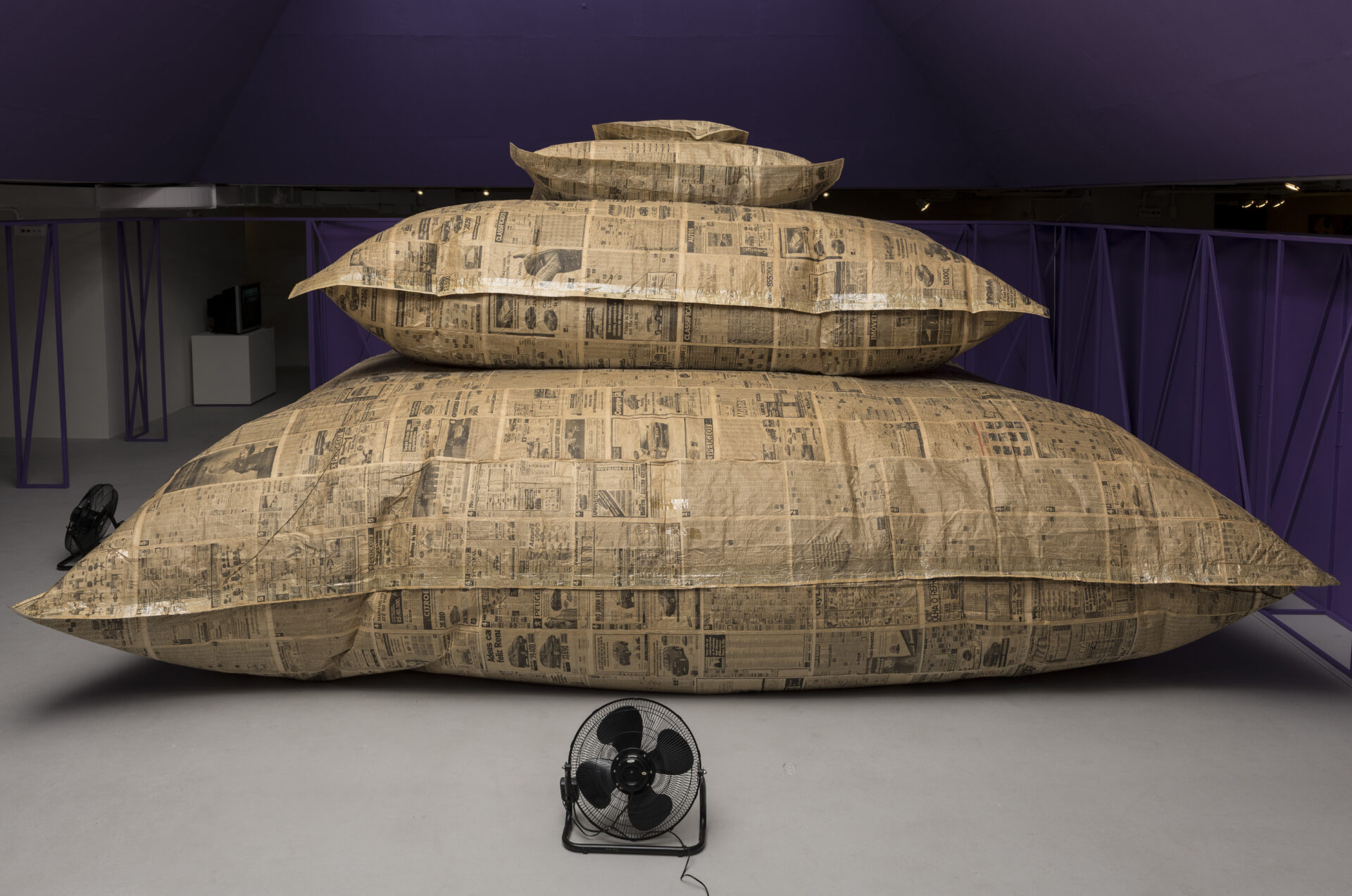
Aquisição [Acquired by] Núcleo Contemporâneo MAM São Paulo, 2000.

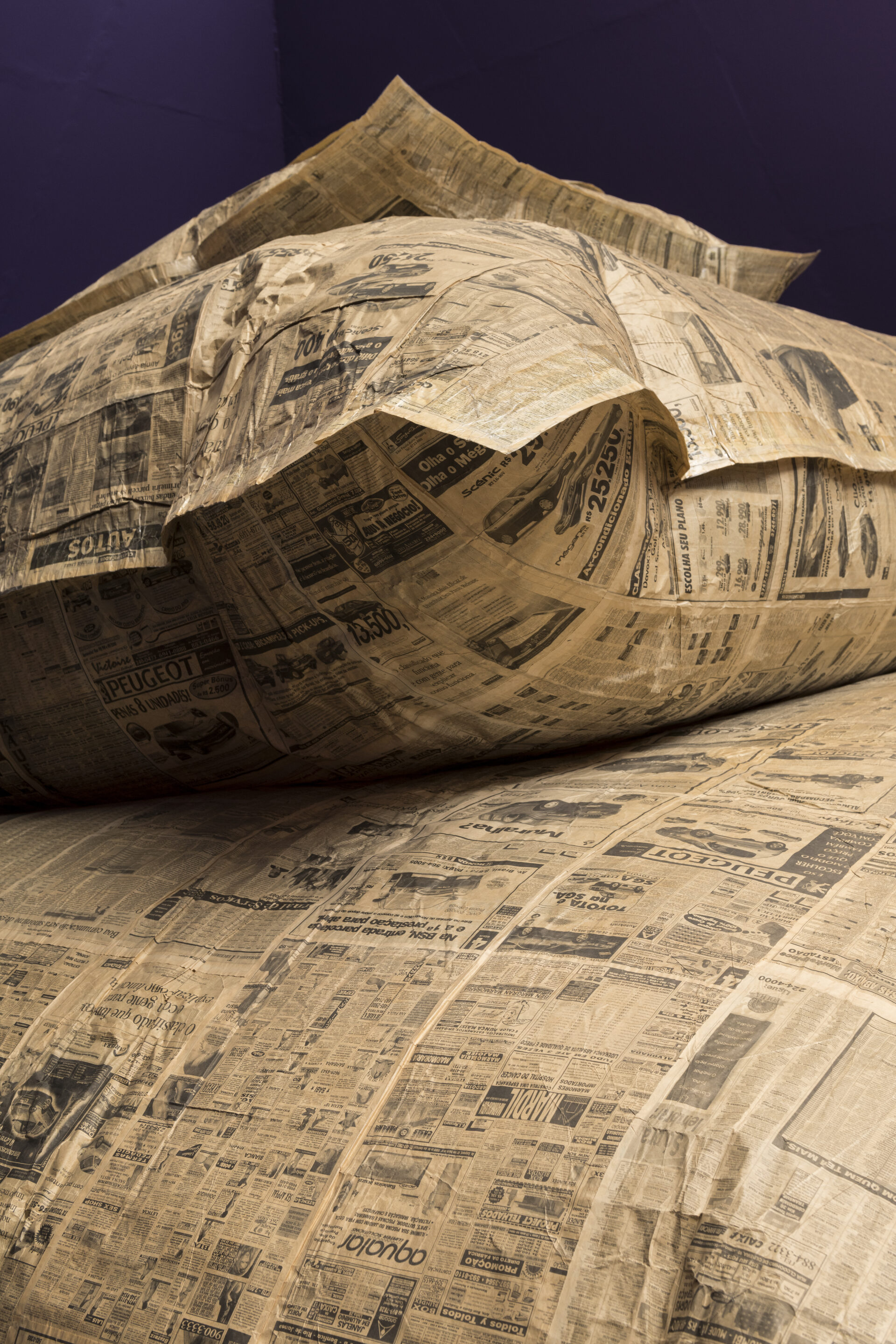

Doação [Donated by] Rolf Gustavo Baumgart, 2006.


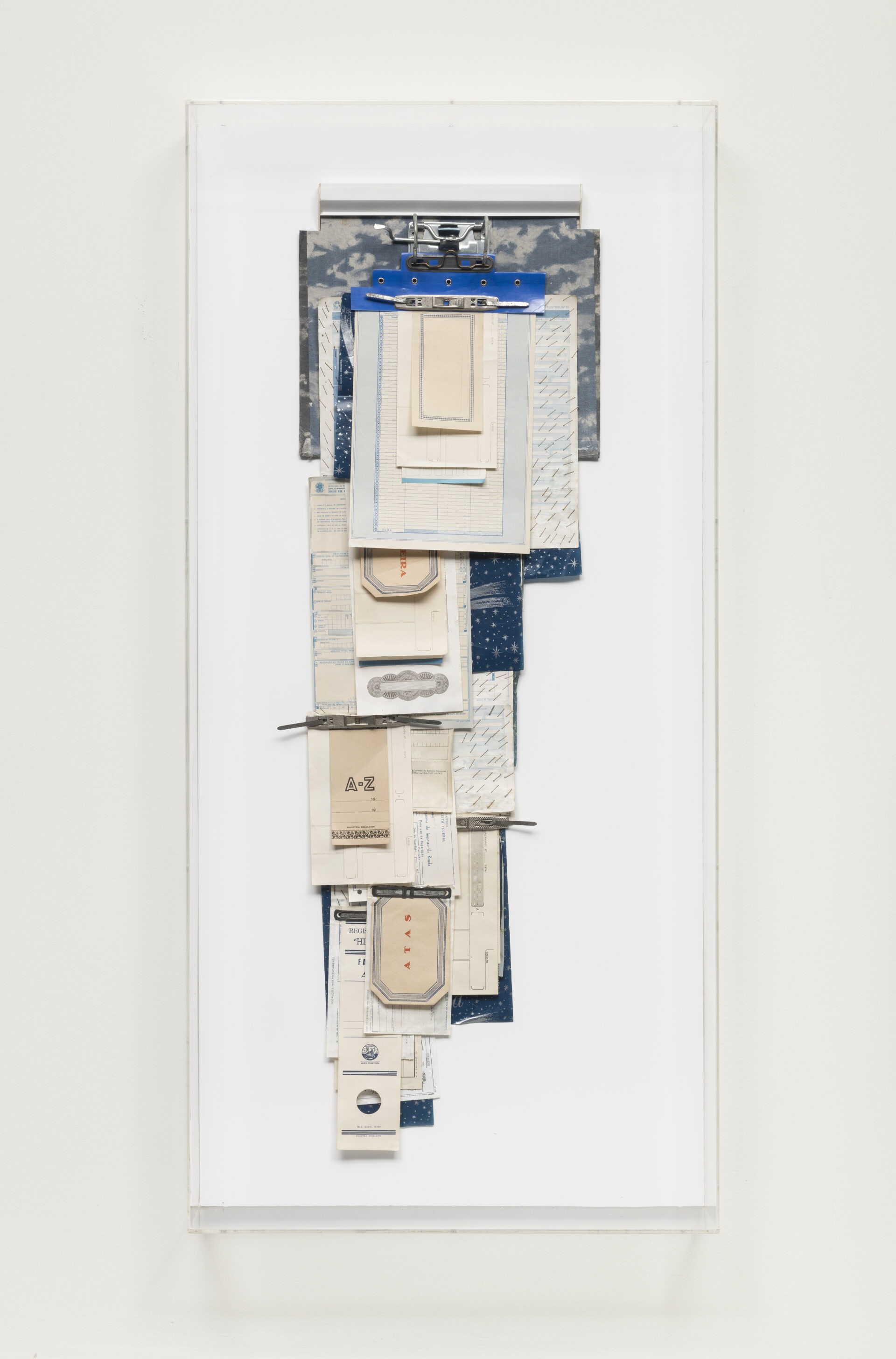
suporte para papel, impressos, grampos, papel carbono, grampo trilho e fichário
[paper holder, prints, staples, carbon paper, rail clamp, and binder], 112 x 35 cm
Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.
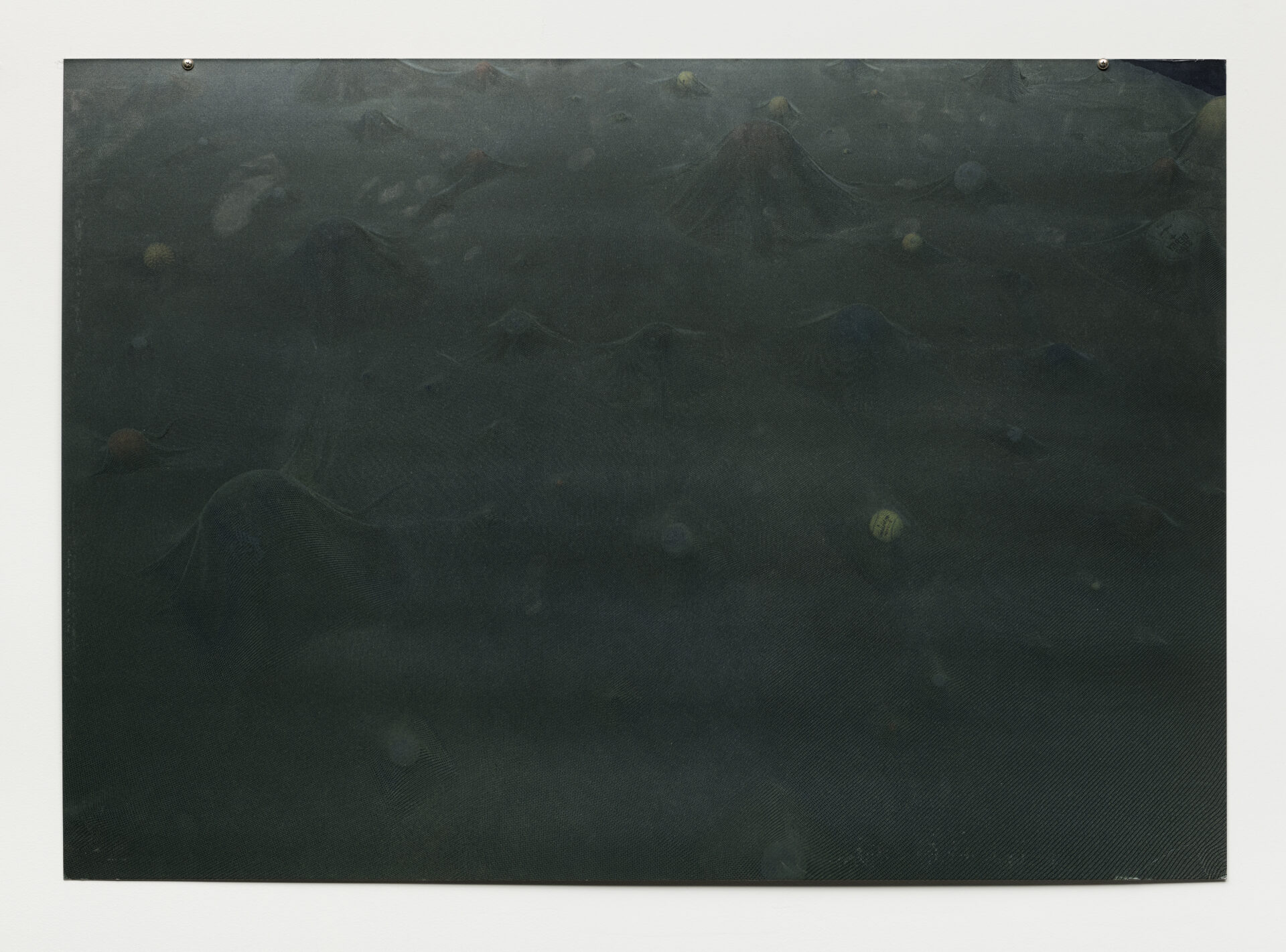
Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.

Doação [Donated by] Credit Suisse, 2010.


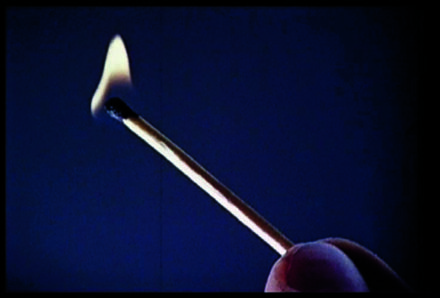
The Illustration of Art II [A ilustração da arte II], 1971 DVD (super 8 convertido para digital), 02’06’’, mudo e colorido [DVD (Super 8 converted to digital), 2min 6s, no sound and full color]
Doação [Donated by] Credit Suisse, 2010.
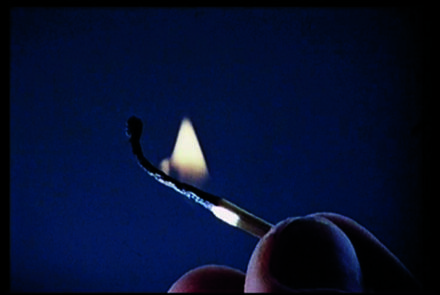
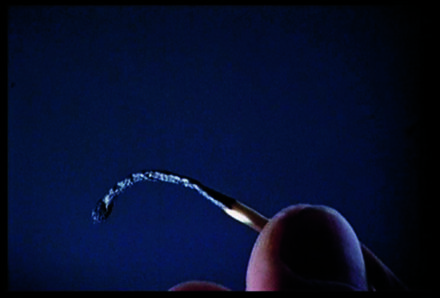
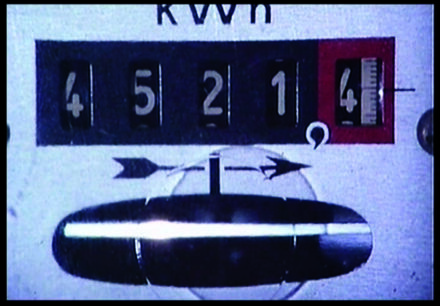
The Illustration of Art III [A ilustração da arte III], 1971 DVD (super 8 convertido para digital), 03’30’’, mudo e colorido [DVD (Super 8 converted to digital), 3min 30s, no sound and full color]
Doação [Donated by] Credit Suisse, 2010.
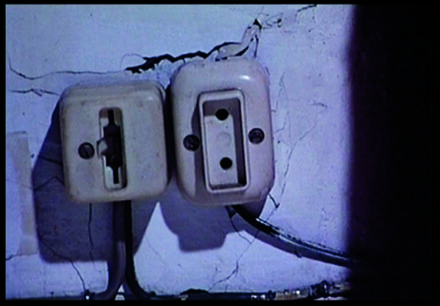

Créditos.
EXPOSIÇÃO [EXHIBITION]
realização [realization]
Centro Cultural Fiesp (CCF) /
SESI-SP
Museu de Arte Moderna de São Paulo
curadoria [curatorship]
Cauê Alves
Gabriela Gotoda
produção executiva
[executive production]
Luciana Nemes (coord.)
Ana Paula Pedroso Santana
Elenice dos Santos Lourenço
Paola da Silveira Araujo
(assistência [assistance]) (PJ)
projeto expográfico
[exhibition design]
Carmela Rocha
Sofia Gava
projeto gráfico e comunicação
visual [graphic design and visual
communication]
Paulo Vinícius G. Macedo
Rafael Soares Kamada
coordenação editorial
[editorial coordination]
Renato Schreiner Salem
comunicação [communication]
Ane Tavares (coord.)
Jamyle Rkain
Rachel Brito
Nicolas Oliveira (estagiário
[intern])
assessoria de imprensa
[press office]
Ana Beatriz Garcia (PJ)
Evandro Pimentel (PJ)
execução do projeto expográfico
[execution of exhibition design]
Cenotech Cenografia
conservação [conservation]
Patricia Pinto Lima (coord.)
Alessandro Costa (PJ)
Bárbara Blanco Bernardes de
Alencar
Camila Gordillo de Souza
Fabiana Oda (PJ)
Igor Ferreira Pires (arthandler)
Marina do Amaral Mesquita
Taline de Oliveira Bonazzi (PJ)
montagem [installation]
Manuseio Montagem e
Produção Cultural
Eduardo Tadeu da Silva (coord.)
projeto de iluminação
[lighting design]
Anna Turra Lighting Design
equipamento de iluminação
[lighting equipment]
Santa Luz
impressão e instalação da
comunicação visual [printing and
installation of visual communication]
SECALL Comunicação Visual
LTDA
consultoria de acessibilidade
[accessibility consultancy]
Silvia Arruda
recursos de acessibilidade
[accessibility resources]
roteiro videoguia e audiodescrição
Gregório Sanches
Leonardo Sassaki
revisão do texto da audiodescrição
[revision of the audio description text]
Rafael Braz
intérpretes e videoguia em Libras
[interpreters and video guide in
Brazilian sign language]
Ponte Acessibilidade
equipamento de áudio e vídeo
NB3 Locações e Eventos
transporte [shipping]
ATM Janus e Logística
tradução para o inglês
[English translation]
Paul Webb
revisão e preparação de texto
[copy editing and proofreading]
Maurício Ayer
Dominique Makins Bennett
CATÁLOGO [CATALOG]
realização [realization]
Centro Cultural FIESP (CCF) – SESI-SP
Museu de Arte Moderna de São Paulo
curadoria [curatorship]
Cauê Alves
Gabriela Gotoda
textos [texts]
Cauê Alves
Elizabeth Machado
Gabriela Gotoda
MAM Educativo [Education]
Amanda Alves Vilas Boas Oliveira
Amanda Harumi Falcão
Amanda Silva dos Santos
Barbara Góes
Caroline Machado
Leonardo Sassaki
Luna Aurora Souto Ferreira
Maria Ferreira Maria Iracy Costa
Mirela Estelles
Pedro Queiroz
Sansorai Oliveira
identidade visual e projeto gráfico
[visual identity and graphic design]
Paulo Vinícius G. Macedo
Rafael Soares Kamada
coordenação [coordination]
Ane Tavares
produção gráfica
[graphic production]
Leandro da Costa
coordenação editorial
[editorial coordination]
Renato Schreiner Salem
tradução para o inglês
[English translation]
Paul Webb
revisão e preparação de texto
[copy editing and proofreading]
Maurício Ayer
Dominique Makins Bennett
fotos [photos]
Ding Musa
exceto [except]:
Renato Parada (p. 56–7)
tratamento de imagem e impressão
[photo retouching and printing]
Ipsis Gráfica
AGRADECIMENTOS
[ACKNOWLEDGEMENTS]
Agradecimento especial ao Centro
Cultural Fiesp (CCF) e às suas equipes
pela parceria institucional com o MAM
São Paulo e a colaboração inestimável
com a exposição.
[Special thanks to the Fiesp Cultural Center
(CCF) and their staff for the institutional
partnership with MAM São Paulo and their
invaluable collaboration to the exhibition].
O MAM São Paulo agradece aos artistas,
autores e detentores de direitos autorais
que generosamente autorizaram a
reprodução das obras neste catálogo.
[MAM São Paulo is thankful to the artists,
authors, and copyright holders who
generously licensed the reproduction of the
works in this catalog.]
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO
REGIONAL DE SÃO PAULO
[SESI – INDUSTRIAL SOCIAL
SERVICE – regional department of
São Paulo]
presidente [president]
Josué Christiano Gomes da Silva
conselheiros [board members]
André Luiz Pompéia Sturm
Dan Ioschpe
Elias Miguel Haddad
Luiz Carlos Gomes de Moraes
Antero José Pereira
Narciso Moreira Preto
Sylvio Alves de Barros Filho
Vandermir Francesconi Júnior
Massimo Andrea Giavina-Bianchi
Irineu Govêa
Marco Antonio Melchior
Alice Grant Marzano
Marco Antonio Scarasati Vinholi
Sérgio Gusmão Suchodolski
Daniel Bispo Calazans
superintendente do SESI-SP
[superintendent of SESI-SP]
Alexandre Ribeiro Meyer Pflug
gerente executiva de cultura
[executive manager of culture]
Débora Viana
gerente técnico de cultura
[technical manager of culture]
Alvaro Alves Filho
equipe de artes visuais e
audiovisual [audiovisual and visual arts team]
analistas de atividades culturais
[cultural activities analysts]
Elder Baungartner
Eliana Garcia
Larissa Lanza
estagiária [intern]
Rayssa Rafaela de Lima Sobrinho
núcleo de contratações culturais
[cultural contracting nucleus]
supervisor de gestão de projetos
culturais [cultural projects
management supervisor]
Jonatas Willian de Oliveira Sousa
analistas de serviços administrativos [administrative services analysts]
Aina Margot da Silva
Douglas Miranda Ferreira
Eduardo Viegas Cerigatto
Ione Augusta Barros Gomes
Isabela Martos Paes Capatti
Jonatã Ezequiel de Menezes da Silva Júlio César de Araújo
Kielcimara de Almeida Nascimento
Michele Araújo da Silveira
Solange Silva Santos Primo
assistente de apoio administrativo
[administrative support assistant]
Gabriel Vicente
CENTRO CULTURAL FIESP
[FIESP CULTURAL CENTER]
supervisor técnico
[technical supervisor]
Marcio Madi
analistas de atividades culturais
[cultural activities analysts]
André Luiz Porto Salvador
João Edson Martins
mediadores culturais [cultural mediators]
Alessandra Rossi
Maria Fernanda Guerra
orientadores de público
[audience guidance]
Aline Gonçalves de Barros
Meireles
Bianca Santos Silva
Éderly Cármen C. Ribeiro Rocha
Henrique Blankenburg Cipriano
Martins da Silva
Herbert de Souza Laurentino
monitores de arte educação
[art education monitors]
Brigite Ery Shiroma
Bruno Vital Alcantara dos
Santos
Catarina Aretha Abreu
Diana Proença Modena
Elis Ramos Genro
Leo do Nascimento Rezende
Maria Júlia Fonseca Nascimento
Pamela da Silva Nascimento
Vinicius Araujo Buava
encarregado maquinista
[head machinist]
Nilson dos Santos
maquinistas [machinists]
Alessandro dos Santos Peixoto
Menes Santos Machado
iluminadores [lighting technicians]
Ronie de Araújo Ferreira
Rubens Marcel G. Torres Masson
sonoplastas [sound technicians]
Charles Alves dos Santos
Roberto Aparecido Coelho
Roselino Henrique Silva
contrarregras [stagehands]
Carlos Leandro de Carvalho Braga
Evandro Pedro da Silva Júlio Silva Neto
estagiários [interns]
Luna Cunha Roque
Ulysses Gomes da Silva
memória cultural SESI-SP
[SESI-SP cultural memory]
analistas de atividades culturais
[cultural activities analysts]
Josilma Gonçalves Amato
Thais dos Anjos Bernardo
estagiários [interns]
Felipe Alencar Machado
Giovanna Brito de Oliveira
equipe de comunicação
[communication team]
diretora executiva de marketing
e comunicação corporativa
[executive director of marketing and
corporate communication]
Ana Claudia Fonseca Baruch
gerente de marketing e
comunicação corporativa
[marketing and corporate
communication manager]
Leticia Martins Acquati
gerente de planejamento digital
[digital planning manager]
Rafael Queirós
gerente de imprensa [press manager]
Rose Matuck
coordenadora de comunicação
e marketing [communication and
marketing coordinator]
Mariana Soares
analistas [analysts]
Alexandre Muner
Cleiton Prado
Juliana Cezario
Karina Costa
Larissa Oliveira dos Santos
Matheus Araújo
Vinícius Fróes
redatora publicitária
[advertising copywriter]
Mirella Luiggi
revisor [proofreader]
Felipe Ferreira De Melo
editor de vídeo
Rodolfo Pereira Da Silva
estagiários [interns]
Giovanna Júlia Oliveira
Klelvien Arcenio
Laura Maluf
Melissa Castro
Milena Mucheironi
MUSEU DE ARTE
MODERNA DE SÃO PAULO
presidente de honra
[honorary president]
Milú Villela
diretoria [management board]
presidente [president]
Elizabeth Machado
vice-presidente [vice president]
Daniela Montingelli Villela
diretora jurídica [legal director]
Tatiana Amorim de Brito Machado
diretor financeiro [financial director]
José Luiz Sá de Castro Lima
diretores [directors]
Camila Granado Pedroso Horta
Marina Terepins
Raphael Vandystadt
conselho deliberativo
[advisory board]
presidente [president]
Geraldo José Carbone
vice-presidente [vice president]
Henrique Luz
conselheiros [board members]
Adolpho Leirner
Alfredo Egydio Setubal
Andrea Paula Barros Carvalho
Israel da Veiga Pereira
Antonio Hermann Dias de Azevedo
Caio Luiz de Cibella de Carvalho
Eduardo Brandão
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Eduardo Saron Nunes
Eduardo Sirotsky Melzer
Erica Jannini Macedo
Fábio de Albuquerque
Fábio Luiz Pereira de Magalhães
Francisco Pedroso Horta
Helio Seibel
Jean-Marc Etlin
Jorge Frederico M. Landmann
Lucia Hauptman
Luís Terepins
Luiz Deoclécio Massaro Galina
Maria Regina Pinho de Almeida
Mariana Guarini Berenguer
Mário Henrique Costa Mazzilli
Martin Grossmann
Neide Helena de Moraes
Paulo Setubal Neto
Peter Cohn
Renata Mei Hsu Guimarães
Roberto B. Pereira de Almeida
Rodolfo Henrique Fischer
Rolf Gustavo R. Baumgart
Salo Davi Seibel
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Sergio Silva Gordilho
Susana Leirner Steinbruch
comitê cultural e de comunicação
[cultural and communications
committee]
coordenação [coordination]
Fábio Luiz Pereira de Magalhães
membros [members]
Andrea Paula Barros Carvalho
Israel da Veiga Pereira
Camila Granado Pedroso Horta
Eduardo Saron Nunes
Elizabeth Machado
Fábio de Albuquerque
Jorge Frederico M. Landmann
Maria Regina Pinho de Almeida
Martin Grossmann
Neide Helena de Moraes
Raphael Vandystadt
comitê de governança
[governance committee]
coordenação [coordination]
Mário Henrique Costa Mazzilli
membros [members]
Daniela Montingelli Villela
Elizabeth Machado de Oliveira
Erica Jannini Macedo
Geraldo José Carbone
Henrique Luz
Mariana Guarini Berenguer
Renata Mei Hsu Guimarães
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Tatiana Amorim de Brito Machado
comitê financeiro e de captação
[financial and fundraising committee]
coordenação [coordination]
Francisco Pedroso Horta
membros [members]
Daniela Montingelli Villela
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elizabeth Machado
Jean-Marc Etlin
José Luiz Sá de Castro Lima
Lucia Hauptman
Luís Terepins
comitê de nomeação
[nomination committee]
Alfredo Egydio Setubal
Elizabeth Machado
Geraldo José Carbone
Henrique Luz
conselho fiscal [fiscal board]
titulares [standing members]
Demétrio de Souza
Reginaldo Ferreira Alexandre
Susana Hanna Stiphan Jabra
(presidente [president])
suplentes [alternates]
Magali Rogéria de Moura Leite
Rogério Costa Rokembach
Walter Luís Bernardes Albertoni
comissão de arte [art commission]
Alexia Tala
Claudinei Roberto da Silva
Cristiana Tejo
Daniela Labra
Rosana Paulino
comissão de ética e conduta
[ethics commission]
Daniela Montingelli Villela
Elizabeth Machado
Erica Jannini Macedo
Renata Mei Hsu Guimarães
Sérgio Miyazaki
Tatiana Amorim de Brito Machado
associados patronos
[associate patrons]
Adolpho Leirner
Alfredo Egydio Setubal
Antonio Hermann Dias de Azevedo
Daniela Montingelli Villela
Eduardo Brandão
Eduardo Saron Nunes
Fernando Moreira Salles
Francisco Pedroso Horta
Geraldo José Carbone
Helio Seibel
Henrique Luz
Jean-Marc Etlin
Mariana Guarini Berenguer
Mário Henrique Costa Mazzilli
Neide Helena de Moraes
Paulo Setubal Neto
Peter Cohn
Roberto B. Pereira de Almeida
Rodolfo Henrique Fischer
Rolf Gustavo R. Baumgart
Salo Davi Seibel
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
núcleo panorama
[panorama art hub]
coordenação [coordination]
Camila Granado Pedroso Horta
membros [members]
Alberto Srur
Anita Kuczynski
Antonia Bergamin, Conrado
Mesquita e [and] Tomás Toledo
Antonio Almeida e [and] Michele
Uchoas de Paula
Cleusa De Campos Garfinkel
Carlos Dale Junior e [and]
Roberta Dale
Débora Assalve Greve
Diego Fernandes e [and] Dani
Romani Fernandes
Eduardo e [and] Ariely Farah
Eduardo Suassuna
e [and] Marcelle Farias
Fátima e [and] Marco Antonio
Lima
Felipe Dmab, Matthew Wood
e [and] Pedro Mendes Guilherme Martins Duarte
e [and] Victoria Steinbruch
Jessica Cinel
Luciana Caravello
Luiz Alberto Danielian
e [and] Ludwig Danielian
Malvina Sammarone
Maria Luísa Barros
Marília Chede Razuk
Milton Goldfarb
Odine e [and] Marcos Ribeiro
Simon
Olavo Egydio Setubal Junior
Paula Azevedo
Pedro Henrique Carvalho de
Assis Martins
Renata Queiroz de Moraes
Ricardo Garin Ribeiro Simon
Rodrigo Mitre
Teodoro Bava e [and] Eduardo
Baptistella Jr
Teresa Cristina R. Ralston
Botelho Bracher
Thiago Gomide e [and] Fabio
Frayha
Tomás Mousinho Gomes
Carvalho Silva
Vanessa e [and] Bruno Amaral
Vilma Eid
William Maluf
núcleo contemporâneo
[contemporary art hub]
coordenação [coordination]
Camila Granado Pedroso Horta
membros [members]
Adriana de C. Leal Andreoli
Ana Carmen Longobardi
Ana Eliza Setubal
Ana Lopes
Ana Lucia Siciliano
Ana Paula Cestari
Ana Paula Vilela Vianna
Ana Serra
Ana Teresa Sampaio
Andrea Gonzaga
Antonio de Figueiredo Murta Filho
Antonio Marcos Moraes Barros
Beatriz Freitas Fernandes
Távora Filgueiras
Beatriz Yunes Guarita
Bruna Riscali
Camila Barroso de Siqueira
Camila Tassinari
Carolina Costa e Silva Martins
Cintia Rocha
Cleristton Cruz Rodolfo Martins
Cleusa de Campos Garfinkel
Cristiana Rebelo Wiener
Cristiane Quercia Tinoco Cabral
Cristina Baumgart
Cristina Canepa
Cristina Tolovi
Daniela Bartoli Tonetti
Daniela M. Villela
Daniela Steinberg Berger Eduardo de Vicq
Eduardo Mazilli de Vassimon
Elen Leirner
Esther Cuten Schattan
Fabrício Guimarães
Felipe Akagawa | Angela
Akagawa
Fernanda Mil-Homens Costa
Fernando Augusto Paixão
Machado
Flávia Regina de Souza Oliveira
Florence Curimbaba
Gustavo Clauss
Gustavo Herz
Helena Gualandi Verri
Hena Lee
Isabel Ralston Fonseca de Faria
Janice Mascarenhas Marques
José Eduardo Nascimento
José Augusto Abujamra Kappaz
Judith Kovesi
Juliana de Souza Peixoto Modé
Karla Meneghel
Leila Rodrigues Jacy da Silva
Luciana Lehfeld Daher
Luisa Malzoni Strina
Márcio Alaor Barros
Maria Cláudia Curimbaba
Maria das Graças Santana
Bueno
Maria do Socorro Farias de
Andrade Lima
Maria Julia Freitas Forbes
Maria Teresa Igel
Mariana de Souza Sales
Mariana Schmidt de Oliveira
Iacomo
Marina Lisbona
Mônica Mangini
Monica Vassimon
Nadja Cecilia Silva Mello Isnard
Natalia Jereissati
Patricia Magano
Paula Almeida Schmeil Jabra
Paulo Setubal Neto
Raquel Steinberg
Regina de Magalhaes Bariani
Renata Nogueira Studart do Vale
Renata Paes Mendonça
Rosa Amélia de Oliveira Penna
Marques Moreira
Rosana Aparecida Soares de
Queiróz Visconde
Rosana Wagner Carneiro
Mokdissi
Sabina Lowenthal
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Silvio Steinberg
Sonia Regina Grosso
Sonia Regina Opice
Tais Dias Cabral
Tatyane Frasson Henriques
Telma Andrade Nogueira
Titiza Nogueira
Vera Lucia Freitas Havir
Wilson Pinheiro Jabur
colaboradores [staff]
curador-chefe [chief curator]
Cauê Alves
superintendente executivo
[chief operating officer]
Sérgio Miyazaki
acervo [collection]
coordenação [coordination]
Patrícia Pinto Lima
analista [analyst]
Marina do Amaral Mesquita
assistentes [assistants]
conservação [conservation]
Bárbara Blanco Bernardes de Alencar
documentação [documentation]
Camila Gordillo de Souza
Taline de Oliveira Bonazzi (PJ)
assistência à presidência,
curadoria e superintendência
[management board, curatorship,
and superintendence assistance]
Daniela Reis
analista de controladoria
[controllership analyst]
Janaina Chaves da Silva Ferreira
biblioteca [library]
supervisor em museologia
[museology supervisor]
Pedro Nery
bibliotecário documentalista
[documentation librarian]
Victor de Almeida Serpa
comunicação [communication]
coordenação [coordination]
Ane Tavares
analistas [analysts]
Jamyle Hassan Rkain
Rachel de Brito Barbosa
designers
Paulo Vinícius G. Macedo
Rafael Soares Kamada
videomaker
Marina Paixão/Planes
estagiário [intern]
Nicolas Oliveira Souza
assessoria de imprensa
[press office]
Ana Beatriz Garcia (PJ)
Evandro Pimentel (PJ)
curadoria [curatorship]
especialista em acessibilidade e
ações afirmativas
[specialist in accessibility and
affirmative action]
Gregório Ferreira Contreras
Sanches
analista de curadoria [curatorial analyst]
Gabriela Gotoda
estagiária [intern]
Laura Almeida Nobre de Sousa
educativo [education]
coordenação [coordination]
Mirela Agostinho Estelles
analista [analyst]
Maria Iracy Ferreira Costa
educadores [educators]
Amanda Alves Vilas Boas Oliveira (PJ)
Amanda Harumi Falcão
Amanda Silva dos Santos
Caroline Machado
Leonardo Sassaki Pires
Luna Souto Ferreira
Maria da Conceição Ferreira da Silva Meskelis
estagiários [interns]
Bárbara Barbosa de Araújo Góes
Pedro Henrique Queiroz Silva
administrativo financeiro
[financial administration]
coordenação [coordination]
Gustavo da Silva Emilio
comprador [buyer]
Fernando Ribeiro Morosini
analistas [analysts]
Anderson Ferraz Viana
Renata Noé Peçanha da Silva
Roberto Takao Honda Stancati
assistente [assistant]
Lucas Corcini e Silva
estagiário [intern]
Paulo Henrique da Silva Magalhães
jurídico [legal]
advogada [lawyer]
Renata Cristiane Rodrigues
Ferreira (BS&A Borges Sales &
Alem Advogados)
relacionamentos e negócios
[institutional relations and business]
coordenação [coordination]
Larissa Piccolotto Ferreira
analista [analyst]
Marcio da Silva Lourenço
relacionamentos
[institutional relations]
analistas [analysts]
Lara Mazeto Guarreschi
(Clube de Colecionadores
[Collectors’ Club])
Mariana Saraceni Brazolin
(Programas Institucionais
[Institutional Programs])
negócios [business] supervisor de negócios
[business supervisor]
Fernando Araujo Pinto dos Santos
analistas [analysts]
Giselle Moreira Porto
(Cursos [Courses])
Tainã Aparecida Costa Borges
(Loja [Shop])
assistentes [assistants]
Camila Barbosa Bandeira
Oliveira (Loja [Shop])
Guilherme Passos (Loja [Shop])
estagiária [intern]
Thayná Aparecida da Silva
parcerias e projetos incentivados
[partnerships and cultural incentive
law projects]
coordenação [coordination]
Kenia Maciel Tomac
parcerias [partnerships]
analistas [analysts]
Beatriz Buendia Gomes
Isabela Marinara Dias
estagiária [intern]
Renata Rocha
projetos incentivados [cultural
incentive law projects]
analistas [analysts]
Deborah Balthazar Leite
assistente [assistant]
Isadora Martins da Silva
Marisa Tinelli, Simone Meirelles
e [and] Sirlene Ciampi (Odara
Assessoria Empresarial em
Projetos Culturais LTDA)
patrimônio
[premises and maintenance]
coordenação [coordination]
Estevan Garcia Neto
analista [analyst]
Vitor Gomes Carolino
manutenção predial
[building maintenance]
Alekiçom Lacerda
André Luiz (Tejofran)
Deivid Cicero da Silva (Avtron Engenharia)
Venicio Souza (Formata Engenharia)
motofretista [motorcycle courier]
Agenor Arruda
(Dimensão Express)
limpeza [cleaning]
Tejofran monitoramento e orientadores de público [monitoring and audience guidance]
Power Systems
produção de exposições
[exhibition production]
coordenação [coordination]
Luciana Nemes
produtoras [producers]
Ana Paula Pedroso Santana
Bianca Yokoyama da Silva
Elenice dos Santos Lourenço
Erika Hoffgen (PJ)
assistente [assistant]
Paola da Silveira Araujo (PJ)
recursos humanos
[human resources]
coordenação [coordination]
Karine Lucien Decloedt
analista [analyst]
Débora Cristina da Silva Bastos
tecnologia da informação
[information technology]
coordenação [coordination]
Nilvan Garcia de Almeida
suporte técnico [technical support]
Felipe Ferezin (INIT NET)
Gabriella Shibata (INIT NET)
estagiário [intern]
Luis Henrique Santana da Silva
mantenedores [sponsors] platina [platinum]
3M do Brasil
BV
Grupo Ultra
Suzano
ouro [gold]
Ageo Termais
Alupar
Ambev
Bloomberg
BMA
Dexco
Goldman Sachs
Grupo Comolatti
Grupo Comporte
Iochpe Maxion
Leo Madeiras e Leo Social
Lockton
Pinheiro Neto
TozziniFreire Advogados
Unipar
Vicunha Aços
Vivo
prata [silver]
Marsh & McLennan
PWC
parcerias institucionais
[institutional partnerships]
ABGC
Africa
BMA
Canopy
Centro Universitário Belas Artes
Cinema Belas Artes
Casa Líquida
Chandon
Deutsche Bank
FAAP
FIAP Gomide & Co
Gusmão & Labrunie Propriedade
Intelectual
Hand Talk
Hugo Boss ICIB – Instituto Cultural Ítalo-
Brasileiro Inner Light
Interlight Iluminação
James Lisboa Leiloeiro Oficial
Kaspersky
Lefosse Advogados
Neovia
Mercure Hotels
Picolin
Saint Paul – Escola de Negócios
Senac
Seven
YBYTU
parcerias de mídia
[media partnerships]
Arte Que Acontece
BeFree Mag
Eletromidia
Estadão
Inner Editora
JCDecaux
Piauí
Quatro Cinco Um
player oficial [official player]
Spotify
programas educativos
[educational programs]
contatos com a arte
[contacts with art]
Grupo Ultra
domingo mam [mam sunday]
MAM São Paulo
igual diferente [different equal]
3M do Brasil
programa de visitação [visitation
program]
MAM São Paulo
arte e ecologia [art and ecology]
Unipar
família mam [mam family]
MAM São Paulo
MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO
MAM São Paulo : encontros entre o moderno e o contemporâneo
/ organização Museu de Arte Moderna de São Paulo ; coordenação editorial
Renato Schreiner Salem ; curadoria de Cauê Alves e Gabriela Gotoda ;
tradução Paul Webb
São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2025
176 p. il. : color.
Edição bilingue: português/inglês.
ISBN 978-65-84721-19-7
- Museu de Arte Moderna de São Paulo. 2. Arte contemporânea
- Arte moderna I. Título. II. Alves, Cauê. III. Gotoda, Gabriela. IV Salem,
Renato Schreiner. V. Webb, Paul
CDU: 7.09
CDD: 709
O Museu de Arte Moderna de São Paulo está à disposição das pessoas que
eventualmente queiram se manifestar a respeito de licença de uso de imagens
neste material, tendo em vista que determinados autores e/ou representantes
legais não responderam às solicitações ou não foram identificados ou
localizados.
Publicação Acessível:
Organização
Leonardo Sassaki
Roteiro de descrição de imagem
Dylan Garbini
Consultoria
Marelija Zanforlin