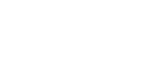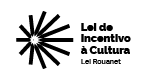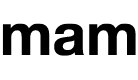No despertar da cultura fotográfica brasileira na segunda metade do século XX, um nome figura entre as maiores referências: George Love. Artista carismático, ele sempre foi cercado por uma aura de mistério, que beirava a lenda, de tão conhecido quanto enigmático que era, pelo tanto que ele foi exposto e como ficou escondido.
Atuando em uma era de efervescência intelectual, de questionamento comportamental e de transição de costumes, George exibia um intenso brilho em suas realizações, na interação profissional e no convívio particular. A luz que trazia ao ambiente extravasava paredes e repercutia na atmosfera e nas pessoas, que vislumbravam as infinitas possibilidades de um marcante meio de expressão. Suas ações no meio cultural, editorial e corporativo expandiam os horizontes da fotografia, abrindo caminhos adiante do seu tempo. Conscientemente ou não, gerações de fotógrafos brasileiros seguem sua inspiração e seu modelo, que se realça entre as raízes de nossa contemporaneidade.
Chamá-lo de gênio também não é hipérbole. George Leary Love nasceu em 24 de maio de 1937, em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos. Negro, filho único em uma família simples e culta, concluiu seus primeiros estudos superiores antes dos 20 anos. Adotou a câmera fotográfica também cedo, vislumbrando a possibilidade profissional no segmento de fotografia de viagem, representado por arquivos de imagens, um mercado importante na época, com o qual se manteria ligado por toda sua vida profissional. Fixando-se em Nova York para mais estudos, logo passou a se dedicar à fotografia como criação autoral, tendo suas primeiras mostras em galerias de Manhattan, dando cursos e palestras. Assim, foi aceito como um dos mais jovens participantes da Association of Heliographers, um grupo restrito de expoentes da fotografia americana que promovia a arte, propunha sua expansão e inovava no uso de impressões coloridas no meio expositivo. George Love se identificava com a proposta, de forma que o ideário dessa associação é chave importante para compreender a obra que desenvolveu por toda a sua vida. Em pouco tempo, o jovem fotógrafo se tornou vice-presidente e coordenador da galeria da associação. Foram dois anos intensos, entre 1963 e o fim de 1965, até o encerramento da entidade, por carência de recursos.
A perspectiva de um novo rumo lhe foi oferecida por uma rara heliógrafa estrangeira, que o estimulou a se aventurar pelo continente sul-americano. Em janeiro de 1966, George juntava-se a Claudia Andujar em Belém para uma inusitada expedição no interior da Amazônia, verdadeira epopeia até a terra dos Xicrin. Voltaram para Belém, subiram pelo rio até Iquitos, depois Lima e Bolívia, e entraram de volta no Brasil pelo famoso “trem da morte”. Fixaram-se em São Paulo, no apartamento da Avenida Paulista, casaram-se… e, então, o resto é história.
Zé De Boni (curador)
Nota da Curadoria do MAM São Paulo:
O MAM tem conhecimento da complexidade e sensibilidade em exibir imagens de pessoas indígenas não identificadas, sobretudo quando tais registros foram realizados por pessoas não pertencentes à etnia ou cultura. O museu emprega esforços para identificar as pessoas indígenas retratadas por meio de pesquisas e o setor de Curadoria MAM São Paulo está à total disposição de quem eventualmente queira se manifestar a respeito da identificação e/ou direitos de uso de imagem dessas pessoas.
Desde seu encontro com Ismael Nery, em 1921, até sua morte em 1975, Murilo Mendes foi uma das figuras mais influentes da vida artística brasileira. Foi crítico de arte, colecionador, organizador de exposições, além de poeta. Exerceu papel determinante na formação de toda uma geração de críticos, de Mario Pedrosa a Antônio Bento e Rubens Navarra e foi interlocutor de Mário de Andrade no que diz respeito à arte carioca. Essa importância, no entanto, raramente lhe é reconhecida.
Seu pensamento crítico encontra-se espalhado em jornais e revistas, em muitos poemas e prosas poéticas, entretanto somente no fim da vida Murilo organizou parte de seus textos críticos em um volume publicado postumamente, A invenção do finito. Em 1994, sua coleção de arte foi adquirida pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que criou o Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) e desde então organiza mostras e publicações sobre o acervo. Esta exposição teria sido impossível sem o trabalho rigoroso que o MAM vem desenvolvendo há décadas.
A exposição está dividida em três blocos: o primeiro aborda o círculo de Murilo Mendes e Ismael Nery no Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930, com alguns desdobramentos na década seguinte. Nessa fase, Murilo apoia um conjunto de artistas como o próprio Nery, Cícero Dias, Alberto da Veiga Guignard e Jorge de Lima, que cultivam uma relação estreita entre artes plásticas e poesia, próximos das poéticas surrealistas e metafísicas, mas com divergências. Por outro lado, opõe-se às tendências dominantes na época, realistas e defensoras de uma volta ao métier, a serviço do nacionalismo e do engajamento social. É a fase “rebelde” de Murilo.
O segundo bloco da exposição abrange de meados da década de 1930 até sua mudança para a Itália em 1957. Mendes já é um poeta famoso e um crítico influente. Seu leque de interesses se amplia: Lasar Segall, Bruno Giorgi, Maria Martins, Alberto Magnelli. Começa a montar uma coleção de arte que reunia várias obras adquiridas em suas viagens à Europa.
De grande importância, nessa fase, é a convivência com artistas que chegaram ao Rio de Janeiro da Europa fugindo do nazismo, em particular com o casal Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes. O círculo que se forma em volta desses artistas inclui Milton Dacosta, Djanira, Ione Saldanha, Almir Mavignier, Carlos Scliar, Fayga Ostrower, entre outros. Murilo passa a se interessar por poéticas abstracionistas, mas não adere ao concretismo.
O terceiro bloco abrange o período em que Murilo viveu em Roma, a partir de 1957, onde leciona literatura brasileira na universidade. Lá aproxima-se do crítico de arte Giulio Carlo Argan, com quem compartilha o interesse por artistas italianos que praticavam um abstracionismo não geométrico, sem aderir de todo ao informalismo. Interessa-se pela arte optical e cinética e colabora com artistas como Alberto Magnelli, Lucio Fontana e Soto em mostras e publicações. Organiza exposições de artistas brasileiros contemporâneos na galeria da Embaixada do Brasil em Roma, incluindo Volpi, Goeldi, Weissmann, Mavignier entre outros. O ápice dessa última fase talvez seja a curadoria da representação brasileira na Bienal de Veneza de 1964, a primeira em que o Brasil conta com seu próprio pavilhão. Com esta exposição espera-se que o espaço reservado a Murilo Mendes crítico de arte e colecionador, tanto na sua biografia como na história da crítica brasileira, se afirme e se expanda.
Lorenzo Mammì
Maria Betânia Amoroso
Taisa Palhares
curadores
Fazer junto é uma questão de escolha e princípio. Situações de fazer junto nos desafiam a vivenciar os muitos sentidos de pertencimento e participação, seja pelas noções de convívio, pela cooperação ou colaboração que o trabalho coletivo possibilita. Envolve um conjunto de estratégias, que podem se tornar métodos ou não.
As obras e experiências artísticas e educativas que integram a exposição Elementar: fazer junto fazem parte do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A Instituição valoriza a ecologia de saberes que constitui seus acervos de obras de arte e experiências educativas ligadas a diversos repertórios e processos de criação de artistas e não artistas.
Elementar é aquilo que está na natureza das coisas, em sua essência, componente básico do mundo e suas matérias. Artistas lidam direta ou indiretamente com as terras, as águas, os ares e os fogos, elementos naturais que compõem as mais diversas materialidades, poéticas e processos na vida e nas artes.
Tal como elaborou Richard Sennett, trabalhar em cooperação pressupõe disposição e receptividade. A expografia da mostra contempla experiências poéticas e um Espaço de Fazer Junto, além de proposições realizadas com artistas e educadores.
No museu, elementar é “fazer junto”. Também é a possibilidade de instaurar situações e modos de se relacionar com os acervos e os diferentes públicos, em vivências e experiências. Envolve o artístico e os saberes que a arte movimenta, coloca em contato todos que disponibilizam sua atenção, presença e abertura à conexão geradora de sentidos.
Valquíria Prates
Mirela Estelles
Cauê Alves
curadores
A exposição comemorativa do centenário de nascimento de Arcangelo Ianelli reveste-se de especial emoção por se realizar no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o museu mais estimado pelo artista. Sua primeira exposição individual na instituição aconteceu pelas mãos de Mario Pedrosa, em 1961, e, a partir de 1969, ele participou de seis edições do Panorama de Pintura, sendo premiado em 1973. Em 1978, sua retrospectiva no museu recebeu o prêmio de melhor exposição do ano da ABCA – Associação Brasileira dos Críticos de Arte.
Ianelli foi um artista do fazer, obsessivamente dedicado ao métier, e intransigente quanto ao lugar da pintura. Tendo feito o percurso habitual de sua geração, realizou obras acadêmicas, seguidas por pinturas com acentos cezannianos, que foram se tornando cada vez mais sintéticas até o mergulho na abstração, que o encaminhou, sem volta, em busca da essência.
O partido curatorial adotado nesta retrospectiva foi o de privilegiar a coerência de sua obra, mostrando que, no jovem pintor de 1950, já está contido o artista de 1970; que o mural de 1975 abre caminho para a escultura dos anos 1990 e que, nesse momento, nascem também as grandes pinturas, realizadas até 2000. Para permitir ao visitante a compreensão desse processo, a mostra estabelece um percurso que se inicia com a produção dos anos 1970, retrograda até 1950 e volta traçando o percurso de 1960 a 2000. Assim é possível ver, ao mesmo tempo, todas essas vertentes nascendo umas das outras. A mostra também propõe revelar o processo de criação e execução do artista, trazendo para o público a intimidade de seu ateliê e revelando sua persistência e perfeccionismo.
Uma exposição é um trabalho que envolve muita gente. Meus agradecimentos aos filhos do artista, Katia e Rubens Ianelli; à diretoria do museu; à jovem e eficiente equipe da instituição, liderada por Cauê Alves, e a todos os demais colaboradores. Parte deles, como eu, conheceu pessoalmente o artista, mas, mesmo aqueles que não tiveram essa sorte, entregam ao público esta mostra igualmente encantados.
Salve, Ianelli!
Denise Mattar
Curadora
Ao falecer, em agosto de 2018, Antonio Dias havia reunido uma coleção das próprias obras que recobria toda sua trajetória artística. O conjunto compunha-se tanto de peças de que ele nunca havia se separado, como de outras recompradas de terceiros para quem tinham sido vendidas. Tratava-se, pois, de uma representação de si mesmo intencionalmente construída, mantida e guardada.
A atitude de colecionar-se manifesta um aspecto essencial do artista: Antonio Dias cultivou uma ética do trabalho que permite compreender seu percurso a partir de posicionamentos claramente formulados por ele. Assim, a escolha dos componentes desta coleção testemunha atenção para com princípios que acompanharam o artista ao longo de sua vida e que deviam ser mantidos próximos a si.
Reunimos aqui parte dessa coleção única. Além de contar com peças emblemáticas, como Nota sobre a morte acidental e Anywhere Is My Land, o conjunto vai desde as primeiras obras abstratas do início dos anos 1960 até a última tela pintada por Antonio Dias. A mostra divide-se cronologicamente. Inicia-se com as obras mais recentes, onde o uso de pigmentos minerais condutores de eletricidade importava ao artista pela presença do material carregado de carga física. A segunda seção reúne obras com o uso de palavras, frequentemente em inglês, em composições áridas em preto, branco e cinza, que parecem colocar em questão seu próprio sentido como arte, pois negam qualquer prazer ao público. O terceiro conjunto é composto por peças dos anos 1960, cujas figuras fragmentadas remetem à violência do Brasil ditatorial, ao sexo e a vísceras extirpadas. Ao longo do percurso, há também obras singulares, como as abstrações do jovem artista feitas logo após seu estudo inicial com o gravurista Oswaldo Goeldi, os filmes realizados em Nova York entre 1971 e 1972, e as diversas representações do corpo. Pontuando todo o percurso, diferentes autorretratos registram o amadurecimento do autor.
A obra, apesar de múltipla, apresenta um aspecto comum: é impossível a experiência de uma compreensão total de cada peça; ao contrário, o público é confrontado com uma construção incapaz de apresentar-se íntegra. Com o método que gera objetos para os quais sempre falta o sentido total, emerge a dimensão ética da obra de Antonio Dias: a incompletude da existência humana. A constância dos temas existenciais garante um sentido testemunhal à obra de Antonio Dias. Portanto, a coleção que ele formou de si mesmo é uma síntese única, tanto pelo percurso que organiza ao longo das várias fases, como pela declaração dos valores éticos norteadores de sua arte.
A oportunidade de exibir parte da coleção nesta mostra, ainda durante período de luto pelo artista, só foi possível graças à generosidade da família; a ela é dedicada a exposição.
Felipe Chaimovich
curador
A exposição integra a 34ª Bienal de São Paulo.

Sertão é palavra de origem desconhecida. Na língua portuguesa, há registros de sua existência desde o século XV. Quando aqui aportaram, os colonizadores já trouxeram consigo o termo, usando-o para designar o território vasto e interior, que não podia ser percebido da costa. Desde então, a esse vocábulo atribuem-se diversos sentidos, sem nunca ser fixado numa ideia pacificada. É constituído, inclusive, por oposições: pode referir-se à floresta e ao descampado, ao lugar deserto e também ao povoado, àquilo que é próximo e ermo. Qualifica o visível e o desconhecido, trata da aridez e da fertilidade, do inculto e do cultivado.
Ainda que tenha chegado ao Brasil na caravela, sertão não cessa de se insurgir contra o colonialismo e de escapar de seus desígnios. Mantém sua potência de invenção, não se rende aos monopólios dos saberes patriarcais, exige novos pactos sociais, desierarquiza sua relação com a natureza, reverencia o mistério, festeja. Sertão é, antes e depois de tudo, experimentação e resistência, qualidades fundamentais para viver a arte e que nos trazem a este 36º Panorama da Arte Brasileira.
No Brasil que pleiteava sua modernização, no início do século XX, sertão passou a referir-se, sobretudo, à região do Nordeste de clima semiárido, ilustrada por sua vegetação de caatinga, em oposição ao litoral. Nesse momento, reforça-se o projeto de um lugar seco, primitivo, rude, propagandeando um outro na iminência do flagelo. Forja-se, dessa maneira, uma condição de submissão que justificaria políticas assistencialistas, mas sobretudo a atualização de medidas de exploração. Suas imagens estão presentes por toda a cultura brasileira, ainda que nenhuma delas dê conta de tudo o que pode significar.
Contrariando determinismos, e sob a luz de uma certa produção de arte do Brasil, Sertão é modo de pensar e de agir. Termo evocativo, traz consigo afetos transformadores, formas políticas, ideais de criação, memórias de luta, rituais de cura, ficções de futuro. Esta arte-sertão que aqui se apresenta está no deslizar das linguagens. Mais que um lugar, essa condição sertão é a travessia. Espalha-se Brasil afora, está no manejo do roçado, supera-se na viela da favela, desce pelo leito do rio, está escrita nos muros da cidade e presente na terra retomada. Manifesta-se nos encontros e nos conflitos.
No 36º Panorama da Arte Brasileira, 29 artistas e coletivos reúnem-se para compartilhar estratégias de resistência e modelos de experimentação, a partir de suas histórias. Se sertão está no limite do que se pode apreender, por definição, a ideia de panorama é complementar na forma de sua contradição. A importância de juntar essas instâncias e acolher essas oposições, no entanto, se dá pela necessidade cada dia mais atual de defender existências não hegemônicas e de compartilhar outros modos de vida. Enquanto a arte puder afirmar sua condição sertão, vai ter sempre luta, vai haver sempre a diferença, vai existir sempre o novo.
Júlia Rebouças
Curadora
50 anos de Panorama
O Panorama da Arte Brasileira teve sua primeira edição em 1969 e foi idealizado como forma de o museu recompor seu acervo e voltar a participar ativamente do circuito artístico contemporâneo. A princípio evento anual, o Panorama passou a ser realizado a cada dois anos a partir de 1995, contando até o momento 35 edições.
Parcerias
O 36º Panorama da Arte Brasileira: Sertão procurou ampliar seu tempo e espaço de atuação por meio de parcerias estratégicas: com a Festa Literária Internacional de Paraty, serão promovidas duas mesas de debate convidando um participante da Flip e um participante do Panorama, com a mediação de Júlia Rebouças e Fernanda Diamant, curadora da 17ª edição da Flip; com o Auditório Ibirapuera, vizinho do museu, foi organizada uma programação musical a partir dos conceitos trabalhados no Panorama para o dia 18/08, dia seguinte à abertura no MAM; e, com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, novos debates acontecerão em setembro e outubro, promovendo o encontro entre artistas, psicanalistas e o público.
Irmãos Campana na loja mam
O estúdio Campana, dos irmãos Fernando e Humberto Campana, que celebra em 2019 seus 35 anos de trabalho, ficará a cargo da curadoria da loja mam durante o período do Panorama, com o patrocínio do Iguatemi São Paulo. O trabalho dos Campana incorpora a ideia da transformação, reinvenção e integração entre o artesanato e a produção em massa, oferecendo um design com identidade própria, mixando a individualidade dos materiais à preciosidade das características comuns no cotidiano brasileiro, como as cores, as misturas, o caos criativo. A partir do olhar único dos irmãos Campana, que contam com um extenso trabalho de pesquisa da cultura vernacular nordestina presente em suas coleções, os visitantes poderão vivenciar um novo espaço da loja mam e encontrar peças cuidadosamente selecionadas que trabalham com o conceito expandido de sertão.
AMA: levando água potável ao semiárido brasileiro
Colocar o sertão em foco possibilitou que o 36º Panorama da Arte Brasileira firmasse parcerias com propósitos que vão muito além do simples apoio financeiro. Um dos patrocinadores, a Água AMA, água mineral da Cervejaria Ambev, tem 100% de seu lucro revertido para projetos de acesso à água potável no semiárido brasileiro. A mostra é uma oportunidade para que o público conheça um produto que, aos poucos, está ajudando a transformar a realidade de muitos brasileiros vivendo no semiárido – clima presente em regiões comumente associadas ao tradicional imaginário de sertão. Já são mais de 26 mil pessoas beneficiadas pelos projetos que AMA financia, em todos os nove estados que compõem o semiárido no Brasil. Este ano, a marca atingiu R$ 4 milhões de lucro, recurso integralmente revertido para iniciativas de acesso à água potável. Iniciativas como o patrocínio ao Panorama da Arte Brasileira permitirão um crescimento ainda maior desses números.
Apoio ao Panorama e ao público de fora de São Paulo
A agência de viagens Flytour, além de ter se tornado agência apoiadora do Panorama, habilitou para o MAM um portal em que os interessados em adquirir passagens e pacotes de hospedagem para viajar a São Paulo e conferir pessoalmente o 36º Panorama da Arte Brasileira: Sertão contarão com descontos especiais.

Da adversidade seguimos vivendo. Em 1967, Hélio Oiticica escreveu um texto determinante para se pensar a arte e o Brasil. Intitulado “Esquema Geral da Nova Objetividade”, há nele um desenho panorâmico da cena artística àquela altura e dos desafios a serem enfrentados. Escrito em um momento politicamente tenso, com desalentadoras perspectivas de futuro, para dizer o mínimo, ele destaca seis características da arte brasileira: (1) vontade construtiva; (2) tendência para o objeto; (3) participação do espectador (corporal, tátil, semântica); (4) abordagem e tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; (5) tendência para proposições coletivas; (6) ressurgimento e novas formulações do conceito de antiarte.
Uma pergunta, ainda atual, perpassava a escrita do Esquema Geral: como apostar em uma relação nova entre singularidade local e inserção global. No caso da cultura brasileira – e isso foi colocado de modo muito original pela geração tropicalista sob a influência da Antropofagia – nossa singularidade foi sendo construída pela mistura de diferentes matrizes culturais. Ou seja, não temos uma essência própria, uma marca de origem a ser depurada de qualquer contaminação indesejada, vivemos da apropriação constante do outro, somos uma colagem de influências que não para de se transformar. Como escreveu Oiticica, estamos sempre “à procura de uma caracterização cultural, no que nos diferenciamos do europeu com seu peso cultural milenar e do americano do norte com suas solicitações superprodutivas”.
As seis características apontadas acima seguem valendo – não obstante as diferenças de contexto – para se pensar a arte produzida hoje. Buscamos evidenciar isso neste Panorama. Sem qualquer tematização daquelas tendências, elas perpassam indiretamente os trabalhos aqui apresentados. A despeito da falência da ideia de progresso e de uma avassaladora crise urbana e ambiental, ainda resiste uma vontade construtiva entre nós. Uma construção que se sabe frágil, mas crucial para enfrentar os riscos de uma informalidade desagregadora. Nota-se também uma crescente abertura do fazer artístico para problemas sociais, éticos e políticos, ou seja, para um engajamento, nada simplificador, que acredita nas brechas em que a arte quer se infiltrar para tentar mudar as coisas – sabendo-se que querer mudar não basta e que sua impotência pode ter desdobramentos imprevistos.
Reunir em uma exposição, que se pretende um Panorama da Arte Brasileira, desde a concretude da intervenção arquitetônica até a fluidez da dança, passando pelo audiovisual, pela escultura, pela fotografia e pela palavra, mais que explicitar a diversidade da cena contemporânea, em que a divisão de meios expressivos e de disciplinas parece obsoleta, busca ressaltar a multiplicidade de tempos que compõem nosso momento histórico. O tempo do corpo que dança, da palavra escrita e da imagem projetada respondem a formas de percepção e de experiência plurais. Simultaneamente, é parte de nosso desafio articular os diferentes imaginários que se contaminam e se multiplicam no Brasil entre a cidade e a floresta, as comunidades periféricas e os centros cosmopolitas, entre o caos, a indeterminação e o mito.
Misturar poéticas conflitantes, trazer outras vozes e gestos para dentro das instituições que constroem as narrativas hegemônicas, revelar antagonismos e diferenças, tudo isso é parte de uma ideia de Panorama e de uma discussão sobre o Brasil. Isso, no exato momento em que o Brasil vive uma de suas piores crises de identidade, quando a promessa de futuro virou uma terrível distopia que constrange as possibilidades do presente, parece propício colocar, mais uma vez, a pergunta sobre o Brasil. O Problema-Brasil é um desafio e uma miragem: aparece como promessa de alegria, mas escapa quando vamos em sua direção. E, a cada passo, parece que vai para mais longe. Entretanto, não dá para virar as costas; há que se encarar a miragem, ao mesmo tempo ilusória e real, fazendo deste enfrentamento o caminho para nos tornarmos menos assombrados com nossa assustadora incompetência coletiva. A arte é o espaço disponível para ampliarmos o campo do possível.
Luiz Camillo Osorio
Curador
artistas: Bárbara Wagner e Benjamin de Burca | Beto Shwafaty | Cadu | Dora Longo Bahia | Fernanda Gomes | João Modé | Jorge Mario Jáuregui | José Rufino | Karim Aïnouz e Marcelo Gomes | Leandro Nerefuh | Lourival Cuquinha e Clarisse Hoffmann | MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin) | Mão na Lata | Marcelo Evelin / Demolition Incorporada | Marcelo Silveira | Ricardo Basbaum | Romy Pocztaruk | Rua Arquitetos e MAS Urban Design, ETH Zurich | Wagner Schwartz
MAM retrata corpos indomáveis e histéricos na exposição O útero do mundo
A curadora Veronica Stigger selecionou cerca de 280 obras de 120 artistas contemporâneos em que o corpo aparece como lugar de expressão de um impulso desvairado e que se apresenta transformado, fragmentado, deformado, sem contorno ou definição. São pinturas, desenhos, fotografias, esculturas, gravuras, vídeos e performances do acervo do museu de nomes como Lívio Abramo, Farnese de Andrade, Claudia Andujar, Flávio de Carvalho, Sandra Cinto, Antonio Dias, Hudinilson Jr., Almir Mavignier, Cildo Meireles, Vik Muniz,Mira Schendel, Tunga e Adriana Varejão
A partir de 5 de setembro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta a exposição O útero do mundo, que reúne cerca de 280 obras pertencentes ao acervo do MAM que mostram a indomabilidade e as metamorfoses do corpo. Com curadoria da escritora e crítica de arte Veronica Stigger, as produções selecionadas – num universo de mais de cinco mil trabalhos da coleção do museu – são de variados suportes como fotografia, pintura, vídeo, gravura, desenho, escultura e performance de mais de 120 artistas que revelam um corpo que não respeita a anatomia e liberto de amarras biológicas e sociais. Baseada na proposição dos surrealistas de compreender a histeria como uma forma de expressão artística, a apurada seleção da curadora faz um elogio à loucura, ilustrando esse “corpo indomável” que, embora reprimido pela humanidade, manifesta-se no descontrole, na histeria e na impulsividade.
Para organizar a mostra, a curadora recorreu a três conceitos extraídos da obra da escritora Clarice Lispector que servem como fios condutores que separam os trabalhos nos núcleos Grito ancestral, Montagem humana e Vida primária. Segundo Veronica, a autora naturalizada brasileira retomou com brilho o elogio ao impulso histérico. “Clarice organizou um pensamento simultâneo da forma artística e do corpo humano como lugares de êxtase e de saída das ideias convencionais, tanto da arte quanto da própria humanidade”, afirma. São exibidas, conjuntamente, obras de artistas celebrados como Lívio Abramo, Farnese de Andrade, Claudia Andujar, Flávio de Carvalho, Sandra Cinto, Antonio Dias, Hudinilson Jr., Almir Mavignier, Cildo Meireles, Vik Muniz, Mira Schendel, Tunga, Adriana Varejão e muitos outros, além de duas performances de autoria de Laura Lima.
Grito Ancestral
Abrindo a mostra, Grito ancestral contém obras que representam uma série de gritos. “É como se esse som, anterior à fala e à linguagem articulada, atravessasse os tempos e rompesse com as próprias imagens”, explica a curadora. “O grito se contrapõe à ponderação e pode ser visto como indício de loucura. Gritar é, em certa medida, libertar-se das frágeis barreiras que delimitam aquilo a que convencionamos chamar de ‘cultura’ em oposição à ‘natureza’ e ao que há de selvagem e indomável em nós”, afirma. Nessa área estão expostos três autorretratos da série Demônios, espelhos e máscaras celestiais, de Arthur Omar, artista com trabalhos que demonstram estados alterados de percepção e de exaltação. Também fazem parte a fotografia O último grito, de Klaus Mitteldorf; a colagem Medusa marinara, de Vik Muniz; fotos de performances de Rodrigo Braga; a gravura Mulher, de Lívio Abramo; além de imagens em preto e branco de Otto Stupakoff. Com a série Aaaa…, a artista Mira Schendel apresenta uma escrita que não constitui palavras ou frases e em que se percebe a desarticulação da linguagem e uma volta ao estado mais bruto e inaugural.
Montagem humana
Neste nicho são apresentados corpos fragmentados, transformados, deformados e indefinidos, o que prova a indomabilidade do mesmo. Na exposição é percebido como o traço se convulsiona nas obras intituladas Mulheres, de Flávio de Carvalho, nos desenhos de Ivald Granato e nas produções de Tunga, Samson Flexor e Giselda Leirner. Nas fotografias, é a falta de foco que borra o contorno da figura nas imagens de Eduardo Ruegg, Edouard Fraipont e Edgard de Souza. Com o uso da radiologia, é possível verificar o interior do corpo humano nas obras de Almir Mavignier e Daniel Senise. Destacam-se ainda as fotografias feitas por Márcia Xavier, um desenho de Cildo Meireles e as produções que misturam imagens, couro e madeira de Keila Alaver que representam, literalmente, corpos transformados e fragmentados.
Vida Primária
Este nicho dá vez às formas de vida mais elementares, como fungos, flores e folhagens. “Este tipo de vida desestabiliza a percepção que temos da própria vida porque, de certa maneira, deteriora as coisas do mundo ‘civilizado’”, explana Veronica. Isso é ilustrado na série Imagens infectas, de Dora Longo Bahia, em que um álbum de família é alterado pela ação de fungos. Em Vivos e isolados, Mônica Rubinho usa papéis propositalmente fungados em placas de vidro para promover a geração desta espécie. No vídeo Danäe nos jardins de Górgona ou Saudades da Pangeia, Thiago Rocha Pitta propõe uma leitura mitológica da vida primária. Ainda são exibidas partes do corpo como o coração feito de bronze, de autoria de José Leonilson, e a foto Umbigo da minha mãe, de Vilma Slomp. A vagina, porta de entrada e de saída do útero, é mostrada em diversos trabalhos como nas gravuras de Rosana Monnerat e de Alex Flemming, nas fotografias da série vulvas, de Paula Trope e no desenho Miss Brasil 1965, de Farnese de Andrade.

Como dialogar sobre o Panorama da Arte Brasileira de hoje e ontem sem cair, mais uma vez, nos mesmos impasses, nas mesmas relativizações? Como, por outro lado, enfatizar os dias de hoje sem ignorar a parcela da arte que se esfacela pelas urgências de um mundo entregue ao consumo e ao espetáculo imediato? Esta exposição oferece a tais perguntas um novo conjunto de enigmas sobre os quais podemos refletir. E discutir. Ela possui uma dupla missão: primeiro, destacar uma parcela da história brasileira pouco conhecida tanto pelo grande público quanto por artistas e pesquisadores: uma seleção significativa de esculturas em pedra polida, primeiras manifestações tridimensionais de que se tem notícia, produzidas aproximadamente entre 4000 e 1000 a.C., encontradas em território que se estende no que hoje é o sudeste meridional do Brasil até a costa do Uruguai. Depois, apresentar um diálogo/provocação, na medida em que essas peças podem motivar as obras produzidas por artistas contemporâneos convidados a contrapor-se a esse imaginário, de acordo com suas próprias personalidades, pesquisas e meios.
Em meio ao universo caótico de nossa realidade, à parte a violenta história de dominações e colonialismos que vivenciamos, emergem essas poderosas pequenas esculturas cujos sentidos originais se perderam, assim como os povos que as produziram: os chamados povos sambaquieiros, que habitaram a costa de uma parte do território em que hoje vivemos – de uma forma que adivinhamos ter sido mais harmoniosa e perene que a atual. Deixaram como vestígios inúmeros sambaquis (nomeação de origem tupi que significa literalmente “monte de conchas”) que marcam a paisagem e guardam, sob as areias, fragmentos e matérias acumulados ao longo de milhares de anos. Deixaram também essas esculturas, que os arqueólogos interpretam como elementos de alguma sorte de rituais e que nos assombram pela síntese formal, pela inventividade dos volumes e pela beleza simples que aprendemos a enxergar com a arte dos princípios do século XX e também com as curvas abauladas da natureza (o ovo, o seixo rolado, a duna de areia, o ventre grávido).
Tais “brasileiros de antes do Brasil” merecem estar em nossa história da cultura e da arte, seja por sua flagrante atenção pela natureza e pelo que os rodeava, seja pela qualidade única e enigmática de suas esculturas. É neste mistério profundamente enraizado na terra e no território que este Panorama vai se envolver. É isso que compartilhamos com os convidados Berna Reale, Cao Guimarães, Cildo Meireles, Erika Verzutti, Miguel Rio Branco e Pitágoras Lopes – artistas de gerações diferentes, vindos de regiões várias e identificados com pesquisas artísticas contrastantes entre si, que foram instados a produzir novos trabalhos que refletissem o Brasil de hoje, quiçá inspirados no de ontem, no que ele tem de inapreensível enquanto conceito, assim como telúrico enquanto presença.
Trata-se de proposições artísticas fortes, pregnantes, dissonantes até. Cada artista constrói uma ambiência com suas obras, sejam elas vídeos, esculturas, fotos, pinturas, instalações ou projetos. Paralelamente, as esculturas pré-históricas apresentam-se com doses igualmente surpreendentes de coesão e variedade. Tempos e espaços chocam-se, enquanto especificidades locais, e tendências globalizantes se confundem. É um enigma de origens e, ao mesmo tempo, de impacto perante o estado da visualidade de nossos dias. Mas, por que não também uma outra forma de ver o panorama da arte brasileira?
Aracy Amaral
Curadora
Paulo Miyada
Curador adjunto
prof. André Prous
Consultoria especial
Artistas: Berna Reale | Cao Guimarães | Cildo Meireles | Erika Verzutti | Miguel Rio Branco | Pitágoras Lopes

O problema ecológico nasce do consumismo. Nos últimos setenta anos, as mercadorias industrializadas têm durado cada vez menos, degradando-se rapidamente em lixo. O ciclo da compra e descarte compromete os recursos naturais, gera poluição e alimenta a insatisfação constante dos consumidores de mercadorias planejadas para cansar, quebrar e passar de moda.
O problema ecológico exige pensar limites para a sociedade de consumo. Algumas das obras aqui reunidas refletem sobre a sedução fácil das mercadorias descartáveis, jogando poeticamente com formas e cores. Outras propõem uma relação durável com as coisas, alimentando o cotidiano sem a necessidade de inserir incessantemente novidades efêmeras no dia a dia. Um terceiro conjunto convida a práticas comunitárias que superam o lucrativo individualismo.
O problema ecológico é a destruição do cotidiano pela promessa de uma novidade sempre inalcançável, oferecida continuamente pela sedutora publicidade, mas que se revela frustrante a cada compra de mais uma mercadoria descartável. Nesse ciclo de ilusões, vamos esquecendo os laços humanos, consumindo o planeta e nos enterrando em lixo.
Felipe Chaimovich
Curador

Gordon Matta-Clark desenvolveu seu projeto de desfazer os espaços da arquitetura moderna encenando intervenções metafóricas em edifícios abandonados ou condenados com o intuito de questionar a autonomia e a lógica econômica pós-1950 nas quais os edifícios foram rapidamente lançados em detrimento de sua função pública. O artista, através desses projetos, apontou para o desaparecimento de capítulos não documentados da memória coletiva e, conseqüentemente, da história e da vida desses lugares.
De 1971 a 1978, Matta-Clark realizadou cortes estruturais e retirou elementos de tijolos e argamassa, pisos e fachadas de casas e edifícios em Santiago, Nova Jersey, Nova York, Niagara, Gênova, Milão, Paris, Antuérpia e Chicago. O processo foi registrado em fotografias e em filme e vídeo. Tais intervenções, cuja maioria foi conduzida em áreas periféricas, exigiu um esforço físico gigantesco e estavam em lugares onde o acesso era difícil ou que, devido à sua história, foram transformados em mitos. Elas agora pertencem a um corpo de trabalho ainda mais amplo do artista, que também se ramificou em experiências culinárias, estudos alquímicos, dança, performance, desenho e fotografia.
Matta-Clark era uma figura proeminente na comunidade emergente de músicos, escultores, filmmakers, video-makers, cenógrafos e dançarinos na vizinhança nova-iorquina do Soho, após do minimalismo, da arte conceitual e da land art. A partir de sua interação com essas pessoas, Matta-Clark concebeu a ideia e a prática da “anarquitetura”, transmutando a energia criativa individual em ritual compartilhado. Estes artistas ocuparam instalações industriais não utilizadas e as transformou em espaços participativos, não-hierárquicos, gerando um circuito alternativo de inserção das práticas consideradas experimentais à época.
O trabalho central de Gordon Matta-Clark, tal como de Robert Smithson e parte de Hélio Oiticica, é mantido vivo atualmente através de fragmentos e a memória partical e incompleta de documentos fotográficos e audiovisuais. No entanto, seu valor residual e de natureza dispersa retira-se da lógica do monumento e a situa em um tempo mítico, que dialoga fortemente com o presente.
Tatiana Cuevas e Gabriela Rangel
Curadoras
Este polêmico Panorama da Arte Brasileira organizado com artistas estrangeiros atesta a importância da cultura brasileira para um número significativo de artistas não brasileiros. O fenômeno está relacionado ao crescente reconhecimento internacional da arte de Lygia Clark, Hélio Oiticica e Lygia Pape, da arquitetura de Lina Bo Bardi, Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha, da bossa nova ou da tropicália. Se com a antropofagia, celebrada por Oswald de Andrade no “Manifesto antropófago” de 1928, nosso intelectual moderno apropriava-se da cultura europeia para digeri-la e produzir algo próprio, agora é a própria cultura brasileira que é canibalizada pelo estrangeiro.
A exposição reúne obras brasileiras de artistas estrangeiros – arte brasileira é aqui compreendida como aquela que estabelece fortes referências a conteúdos brasileiros. Um segundo grupo de artistas foi convidado a realizar residências em São Paulo, numa parceira com a Fundação Armando Álvares Penteado, para que tivessem a oportunidade de estabelecer uma relação com a cultura brasileira. Oito artistas residentes passam por São Paulo não para realizarem uma obra para o Panorama, mas para iniciarem uma história por aqui. O resultado é uma mostra composta por obras brasileiras feitas por estrangeiros nem tanto com elementos exóticos, mas por meio de uma forte presença da abstração geométrica, na qual a grade é muitas vezes subvertida por elementos orgânicos, sinalizando um legado do neoconcretismo.
O título Mamõyguara opá mamõ pupé é emprestado de uma obra do coletivo de artistas Claire Fontaine, baseado em Paris. Trata-se da tradução para o tupi antigo da expressão foreigners everywhere, e é parte de uma série de esculturas em neon apresentada em diferentes línguas. Num Panorama que desde o anúncio de seu projeto acendeu discussões sobre nacionalismo, territorialidade e xenofobia no campo da prática artística, a expressão numa língua nativa, que em realidade poucos cidadãos brasileiros compreendem, pode soar amarga: estrangeiros em todo lugar.
Adriano Pedrosa
Curador
Artistas: Adrián Villar Rojas | Alessandro Balteo Yazbeck (com Eugenio Espinoza) | Armando Andrade Tudela | Carlos Garaicoa | Cerith Wyn Evans | Claire Fontaine | Damián Ortega | Dominique Gonzalez-Foerster | Franz Ackermann | Gabriel Sierra | Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla | Jorge Macchi | Jorge Pedro Núñez | José Dávila | Juan Araujo | Juan Pérez Agirregoikoa | Julião Sarmento | Luisa Lambri | Marjetica Potrc | Mateo López | Mauricio Lupini | Nicolás Guagnini (com Carla Zaccagnini) | Nicolás Robbio | Pablo Siquier | Valdirlei Dias Nunes | Pedro Reyes | Runo Lagomarsino | Sandra Gamarra | Sean Snyder | Simon Evans | Superflex | Tamar Guimarães | Tove Storch
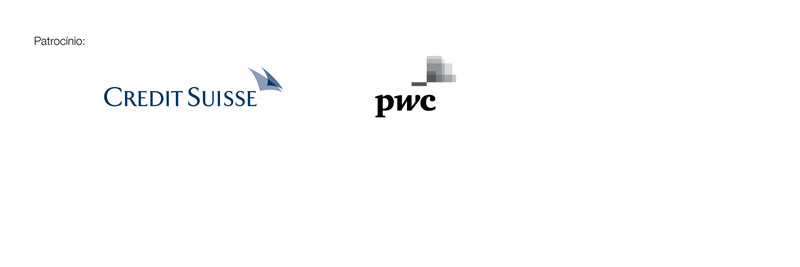
Marcel Duchamp: uma obra que não é uma obra “de arte” empresta seu nome de uma questão que Marcel Duchamp anotou em 1913: “Pode alguém fazer obras que não sejam ‘de arte’?”. A questão sinalizou o início de sua desobediência às formas de arte tradicionais e lançou as bases do que o tornaria o artista mais influente dos séculos XX e XXI. Seu repensar insistente da obra “de arte” é o foco desta primeira exposição individual de Duchamp realizada na América Latina, apresentando mais de 120 peças de cada tipo de mídia em que o artista trabalhou de 1913 até o final de sua vida.
A exposição começa com o momento em que Duchamp propõe sua famosa questão, que coincide com o período em que ele começa a conceber os objetos ready-made produzidos em massa como obras de arte em potencial. No entanto, a invenção do ready-made não foi o único gesto inovador de Duchamp desse período: entre outras atividades, ele inventou um novo sistema de medidas, ao declarar a “arte” um experimento; criou várias cópias fotográficas de suas anotações; usou o acaso para fazer música e foi o primeiro a usar a fotografia e a perspectiva para redefinir a pintura – tudo isso entre 1913 e 1914.
Durante anos, Duchamp continuou seus diversos experimentos, muitos dos quais estão representados nesta exposição. As peças estão organizadas em grupos que enfatizam as ligações e a recorrência de preocupações aparentemente diversas em sua obra. As ideias recorrentes de desejo e percepção aparecem numa série de monitores que permitem que o visitante “espie” os diferentes espaços de exibição que Duchamp preparou durante a vida: do posicionamento dos objetos no apartamento de 1910 a seu projeto final, Etant donnés: 1. La chute d’eau/ 2. Le gaz d’éclairage [Sendo dados: 1. A cascata/ 2. O gás de iluminação].
Marcel Duchamp: um trabalho que não é um trabalho “de arte” traz para a América Latina muitas obras raras e excepcionais, num acontecimento histórico que se tornou possível graças aos empréstimos de grandes museus e coleções particulares, incluindo o Philadelphia Museum of Art, o Moderna Museet de Estocolmo e a Sucession Duchamp, na França.
Elena Filipovic
Curadora

O título desta exposição não se refere à “vida” no sentido de existência biológica. Significa, em vez disso, assumir um novo olhar e fazer descobertas através do simples processo de viver a própria vida.
As culturas do Japão e do Brasil desenvolveram-se sob a influência do modernismo, ainda que tenham se mantido enraizadas em seu meio tradicional e em sua história. O hibridismo também foi comum a ambos os países, que sempre tiveram grande habilidade para abraçar outras culturas. Ainda que seja uma nação marcada por uma mistura de raças, o Brasil continuou a incorporar culturas estrangeiras. O Japão é uma nação insular e quase completamente homogênea do ponto de vista racial, mas isso não o impediu de abraçar ativamente diferentes culturas e — em um processo único — criar formas especificamente japonesas.
Há inúmeras maneiras de aproximar as diferenças entre Japão e Brasil no século XXI. Se o século XX pode ser entendido em três palavras-chave — homem, dinheiro e materialismo (que representam o individualismo, o materialismo e o capitalismo) —, a estas se seguem, no século XXI, três outras palavras-chave — coexistência, inteligência coletiva e consciência. Esses termos refletem uma nova relação entre o indivíduo e a coletividade neste mundo interligado no qual a relação entre indivíduos, meio ambiente e sociedade está em mutação.
As forças por trás do caráter de improvisação da cultura brasileira e da estética do mitate [retrato] e do hibridismo no Japão continuam a produzir obras de alta qualidade, que representam a coexistência entre intelecto, intuição e sensibilidade. Se a improvisação se refere ao sentido de ritmo latente no corpo físico — que pode ser visto na dança e na música —, o mitate representa a derivação ou o retrato de algo distinto daquilo que o objeto parece ser em sua superfície. É um tipo de jogo de palavras ou de metáforas que expressa um outro aspecto do objeto e é abundantemente encontrado em culturas marcadas por um sistema de sofisticados significados e representações. Tanto a improvisação como o mitate caracterizam-se por elementos como “corpo físico”, “meio” e “jogo”, que se desenvolveram a partir da relação com um meio cultural e natural específico.
Em qualquer cultura, existem complexos sistemas de símbolos em que significado e implicação podem se perder com a tradução. É porque derivam de estilos de vida diferentes e vívidos que todos eles permanecem totalmente distintos um dos outros. É a expressão desses variados aspectos da vida como forma que torna possível a conservação de sua complexa riqueza.

dos Panoramas (2008)
O Panorama da Arte Brasileira é hoje uma das exposições mais tradicionais do país. Sua primeira edição aconteceu em 1969, por ocasião da reinauguração do MAM. Depois de ter permanecido fechado por cerca de sete anos, quando seu acervo foi transferido para a Universidade de São Paulo, o museu criou com esta mostra a possibilidade de formar um novo acervo por meio de premiações e doações dos artistas que participaram de suas edições.
Ao serem apresentados cerca de cem trabalhos que entraram para a coleção do MAM graças ao Panorama, percebe-se o quanto os critérios eram pontuais em suas épocas, evidenciando as transformações dos instrumentos analíticos da história da arte nas últimas quatro décadas. O que era considerado uma grande obra em 1969, hoje não tem o seu valor devidamente reconhecido.
Muitos dos trabalhos expostos estão sendo apresentados pela primeira vez depois que entraram para a coleção. Pode-se especular sobre os possíveis motivos de alguns trabalhos estarem relegados a permanecerem guardados. O espaço físico do museu não permite uma exposição permanente do acervo, por exemplo. Ou talvez falte conexão entre um trabalho específico e a política de formação do acervo que compõem a coleção atual.
Neste sentindo, a exposição poderia se tornar um instrumento para colocar lado a lado nomes desconhecidos na atualidade e consagrados pela mesma história da arte. História que, distante da grande maioria do público, não se abre verdadeiramente para uma compreensão de seus critérios de inclusão e exclusão do que se considera arte ou não, de quais trabalhos são bons ou ruins e se são representativos ou não de uma época.
RICARDO RESENDE
Curador
Artistas: Rubens Mano | Alex Cerveny | Eliane Prolik | Paulo Brusky | Rochelle Costi | Tomie Ohtake | Jac Leirner | Nelson Leirner | Rosana Paulino | Alfredo Volpi | Mauro Restiffe | Tunga | Paulo Buennoz | Oudi Maia Rosa | Wanda Pimentel | Amilcar de Castro | Maria Bonomi | Abraham Palatnik | Alcindo Moreira Filho | Anna Letycia Quadros | Arcângelo Ianelli | Arlindo Daibert | Arnaldo Battaglini | Arthur Luiz Piza | Ascânio MMM | Avatar Moraes | Caetano de Almeida | Cao Guimarães | Carlos Fajardo | Carlos Wladimirsky | Chico Amaral | Cleber Gouveia | Danúbio Gonçalves | Dudi Maia Rosa | Edgard de Souza | Emanoel Araújo | Ernesto Neto | Ester Grinspum | Fernando Velloso | Gilvan Samico | Hermelindo Fiaminghi | Flávio Shiró | Hisao Ohara | Franklin Cassaro | Iran do Espírito Santo | Franz Weissmann | Genilson Soares | Ivald Granato | Joaquim Tenreiro | José Alberto Nemer | José Resende | Juarez Magno | João Loureiro | Lídia Sano | Ada Yamagishi | Luiz Paulo Baravelli | Maria Tomaselli | Marcello Grassmann | Mário Cravo Neto | Marcello Nitsche | Marlene Hori | Nazareth Pacheco | Mary Vieira | Mauro Fuke | Nicolas Vlavianos | Paulatrope | Milton Machado | Paulo Lima Buennoz | Renina Katz | Paulo Pasta | Roberto Bethônico | Pazé | Rodrigo Andrade | Sérgio Sister | Takashi Fukushima | Rubem Valentim | Tomoshige Kusuno | Sérgio Porto | Tuneu | Valquíria Chiarion | Vera Chaves Barcellos | Wilma Martins | Wilson Will Alves | Yiftah Peled | Yutaka Toyota
Seis anos depois de o fundador do MAM São Paulo Ciccillo Matarazzo transferir todas as obras da coleção para a Universidade de São Paulo, o museu inventa o Panorama da Arte Brasileira com o intuito de formar um novo acervo.
De 1969 para cá, o Panorama superou sua missão inicial. Esse acervo (cerca de 5.400 obras) cresceu a tal ponto que o MAM não consegue lhe dar visibilidade permanente por causa das limitações do pavilhão onde está instalado abaixo da marquise projetada por Oscar Niemeyer.
O tema desta edição toma como ponto de partida a falta de uma sede construída especificamente para abrigar o MAM São Paulo e convida, além de artistas, arquitetos a pensar onde poderia ficar esse edifício (dentro ou fora do parque) e qual seria a vocação desse programa.
O título do Panorama, Formas únicas da continuidade no espaço, foi tomado emprestado da escultura do artista futurista Umberto Boccioni, cuja peça já pertenceu ao museu, e que completa cem anos. Hoje no MAC USP, esta obra ressalta o caráter especulativo da presente mostra.
Junto com documentos históricos que elucidam a trajetória do MAM, como os referentes à exposição Bahia no Ibirapuera (1959) de Lina Bo Bardi e Martim Gonçalves, o Panorama destaca outros contextos de modernidade no Brasil (Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Belo Horizonte e Brasília) e no mundo.
O desenho expográfico recupera o acesso ao museu situado em frente ao edifício da Bienal, assim como as cores da porta e das paredes, e elimina a presença de painéis perpendiculares que dividem o espaço em pequenas salas.
A realidade agora é outra, como apontam os projetos dos escritórios de arquitetura: se o IV Centenário de São Paulo ganhou o parque Ibirapuera em 1954, como imaginar um presente adequado ao espírito de um V Centenário?
Lisette Lagnado
curadora
Ana Maria Maia
curadora-adjunta
Artistas: Amanda Melo | Bárbara Wagner | Benjamin de Búrca | Clara Ianni | Daniel Steegmann | Dominique Gonzalez-Foerster | Federico Herrero | Fernanda Gomes | Montez Magno | Vítor Cesar | Vivian Caccuri | Yuri Firmeza | Cabelo | Ester Grinspum | Jorge Menna Barreto | Lucia Koch | Luiz Braga | Mônica Nador | Pedro Motta

Sombriamente iluminado é o mundo de Oswaldo Goeldi. É o mundo brasileiro – o éden tropical – entrevisto pelo avesso, invertido, iluminado pelo subterrâneo. Goeldi é a nota dissonante ao modernismo solar de 1922, ao populismo de Portinari, ao sensualismo lasso de Di Cavalcanti, seus contemporâneos. Antes, muito antes, do surgimento entre nós de uma linguagem abstrato-geométrica, Goeldi já havia estabelecido uma poética sucinta, exata, lúcida, avessa ao prolixo, distante dos clichês e lugares-comuns. Suas xilogravuras e desenhos nunca apresentam o fato consumado, mas a interrogação, a iminência do que vai acontecer. No entanto, especialmente as xilogravuras nos atingem de imediato, como flashes fotográficos. Provocam um sobressalto incômodo. As ruas desertas, os casarões, os transeuntes solitários, os pescadores, os urubus povoam anonimamente suas obras, habitam um espaço incerto, interrogativo, entre parênteses. Parece distante, mas é muito próximo. Os indivíduos vagam um tanto sem destino, acossados pelo destino de todos: vida e morte. Não há solidariedade entre os homens, apenas entre eles e uns poucos animais. A natureza ainda atemoriza, uma tempestade está sempre presente, ameaçando – ainda hoje – a desamparada cidade brasileira que foi o habitat de Goeldi, o Rio de Janeiro.
“Irmão” de Edvard Munch nos trópicos, amigo e correspondente de Alfred Kubin, Goeldi foi artística e existencialmente um autêntico expressionista – não há expressionista que não seja autêntico. Inseparáveis são a vocação e o destino. Como expressionista, ele também é implacável: há o mundo do trabalho, do contato e da compreensão da natureza que é o dos pescadores, e o mundo da angústia urbana da cidade inacabada e ameaçadora. Há uma frase de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil que se aplica com perfeição à obra de Goeldi: “A transição do convívio das coisas elementares da natureza para a existência mais regular e abstrata das cidades deve ter estimulado, em nossos homens, uma crise subterrânea, voraz”. Pois a obra de Goeldi fala dessa “crise voraz” ainda presente, ainda sentida em nosso dia a dia. Ela está aí para lembrar que aqui, especialmente aqui, o Sol também lança uma sombra.
Oswaldo Goeldi nasceu em 31 de outubro de 1895 no Rio de Janeiro, cidade em que viveu sua vida de artista, indissociável de sua obra. Seu pai foi o naturalista suíço Emílio Goeldi, que se estabeleceu no Brasil a serviço do imperador d. Pedro II. Aos seis anos, mudou-se com a família para a Suíça, onde estudou e serviu como sentinela durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, retornou ao Brasil. Em 1951, recebeu o Prêmio de Gravura Nacional na 1ª Bienal de São Paulo. Morreu em 15 de fevereiro de 1961.
Paulo Venâncio Filho e Lani Goeldi
Curadores

O retorno da coleção Tamagni: até as estrelas por caminhos difíceis
Que museu é este? O Museu de Arte Moderna de São Paulo, fundado em 1948, veio para a marquise do Ibirapuera em 1969, após a doação de todo seu patrimônio à Universidade de São Paulo, em 1963.
Depois da doação do patrimônio, o MAM vagou por diversos endereços, onde se reuniam membros da associação de amigos do MAM que teimaram em acreditar na sobrevivência de seu espírito, que de próprio guardara apenas o nome: Museu de Arte Moderna de São Paulo. Era um museu sem corpo.
Um desses amigos falecendo deixou a própria coleção para o MAM: Carlo Tamagni. Assim, em 1967, um conjunto de 81 pinturas, gravuras e desenhos transformou o MAM novamente em um museu com patrimônio artístico. Ainda sem casa, o museu mostrou a Coleção Tamagni em um saguão emprestado no Conjunto Nacional, na avenida Paulista. A exposição em que o MAM ressurgiu foi seguida do oferecimento deste pavilhão público na marquise do Ibirapuera, onde você está agora.
Desde então, o MAM compôs uma nova coleção, que hoje é de mais de cinco mil obras. Como um sobrevivente, o MAM pode arriscar-se até a incorporar obras que transformam a própria natureza do museu num lugar de encontro com o inesperado.
Esta exposição reúne documentos do período em que o MAM vagou por São Paulo em busca do próprio retorno, a Coleção Tamagni na íntegra e obras contemporâneas que desafiam o museu a renovar-se continuamente.
Felipe Chaimovich e Fernando Oliva
Curadores

Itinerários e itinerâncias
Mais que uma exposição, o 32o Panorama é uma plataforma de discussão e decantação de processos artísticos. Trata-se de uma reflexão sobre o estado da arte contemporânea que pressupõe, especialmente na última década, um tempo cada vez mais acelerado. A consolidação de programas institucionais, desde a elaboração das leis de incentivo à cultura, a multiplicação de editais, projetos de residências nacionais e internacionais, além de um superaquecimento do mercado, interferiram e conviveram com transformações no fazer artístico.
Itinerários, itinerâncias aborda duas temporalidades: a resposta rápida, imediata a um percurso, e a decantação de processos a longo prazo, como residências, convivência em grupos, formação de redes. A exposição é uma das instâncias em que essa pausa se dá. Entre as propostas do Panorama 2011 está o convite para alguns artistas trabalharem em conjunto com o Educativo do MAM, visando discutir o papel do trabalho pedagógico em museus. Os educadores não são apenas prestadores de serviço e fornecedores de conteúdo para o público, mas agentes fundamentais na reflexão sobre os trânsitos entre os vários papéis que as pessoas assumem – artista, curador, visitante, educador – e do modo como a arte, ela mesma, possui um papel formador. Os artistas entram no papel de educadores e o Educativo no espaço da exposição.
Algumas questões centrais orientaram a pesquisa: Quando a itinerância entre os papéis de educador e de artista decanta experiências relevantes? Quando a itinerância decanta resíduos, restos, sobras e percursos? Quando a itinerância decanta tramas, redes, circuitos e colaborações? Quando a itinerância decanta trabalhos de arte e fatos estéticos? Em que medida a facilitação do deslocamento indiretamente proporciona uma homogeneização da produção contemporânea? Em que sentido o fluxo contínuo dilui algumas especificidades e identidades locais na arte contemporânea? A especificidade das artes visuais se desfaz na medida em que o artista contemporâneo viaja constantemente, trabalha com toda e qualquer matéria, tema ou ideia, assim como dialoga com o cinema, o som ou a literatura?
Em vista dessas questões, a curadoria investigou as noções de permanência e movimento na arte, bem como intensidades de tempo nas ações artísticas e posturas diante da urgência de se estar sempre em deslocamento. Mapear algumas noções de circulação e deslocamento na prática artística, do corpo dos artistas e do pensamento nos permite uma visão ampla da multiplicidade da arte no Brasil.
Cauê Alves e Cristina Tejo
curadores
Artistas: Alberto Bitar | Amanda Melo | André Severo e Maria Helena Bernardes | Ateliê Aberto | Breno Silva e Louise Ganz | Bruno Faria | Cadu | Capacete | Chiara Banfi e Kassin | Cildo Meireles | Detanico Lain | Ducha | Gaio Matos | GIA (Grupo de Interferência Ambiental) | Héctor Zamora | Jailton Moreira | Jarbas Lopes | Jonathas de Andrade | Jorge Menna Barreto | Letícia Cardoso | Lourival Cuquinha | Lúcia Laguna | Marcelo Coutinho | Marco Paulo Rolla | Nicolás Robbio | Oriana Duarte | Pablo Lobato | Paula Sampaio | Pedro Motta | Raphael Grisey | Raquel Garbelotti | Ricardo Basbaum | Rodrigo Bivar | Rodrigo Matheus | Romano | Sara Ramo | Virginia de Medeiros | Wagner Malta Tavares

Num ensaio escrito em 1939, Mário de Andrade assinala em Candido Portinari a união íntima do artista e do artesão, dando-lhe o nome de “plástica”. Dela se originam os dois elementos principais de sua personalidade artística: a riqueza técnica e a variedade expressiva. Em Portinari convivem o “artesão”, interessado em experimentar todos os processos, em desvendar todos os segredos do ofício, e o “artista”, capaz de infundir um sentido poético no que poderia ser um simples virtuosismo técnico.
Apesar de o crítico ter como parâmetro a obra do artista maduro, a análise da primeira produção portinariana (1920-30) permite afirmar que ambos os traços já se faziam presentes durante a aprendizagem e a formação. Nesse momento, o artista-aprendiz demonstra buscar a configuração de um léxico próprio, lançando mão de diversas fontes (Ingres, Zuloaga, Manet, Whistler, Sargent e Boldini, entre outros) e testando as possibilidades das diferentes linguagens artísticas (figura humana, cenas mitológicas e de gênero, paisagem, nu e, sobretudo, retrato).
Descrente de “escolas” e de “individualidades uniformes”, defensor do classicismo como “uma gramática”, como “um elemento de ordem”, o jovem Portinari embarca para a Europa em junho de 1929, animado por uma decisão inabalável: fazer da estadia a oportunidade para “observar, pesquisar, tirar da obra dos grandes artistas […] os elementos que melhor se prestem à afirmação de uma personalidade”. Fiel a esse roteiro, Portinari frequenta assiduamente museus e galerias, encantando-se com os exemplos de Giotto, Masaccio, della Francesca, Signorelli, Fra Angelico, del Castagno, Michelangelo, Leonardo, Veronese, El Greco e Goya. São em menor número os artistas modernos que despertam seu interesse: Modigliani, Matisse, Picasso e Carena.
A pequena produção europeia não significa, contudo, que Portinari não tenha afinado seu instrumental artístico e técnico. É o que demonstram as obras executadas a partir de 1931, nas quais estão presentes preocupações de caráter construtivo (geometrização, dinâmica espacial, agenciamento das figuras), aliadas a deformações anatômicas e a um gigantismo que se fundem harmoniosamente com o processo de racionalização. As inúmeras cenas brasileiras realizadas após o regresso ao Brasil, em janeiro de 1931, colocam-se sob o signo de uma ideia de pintura estimulada pela observação das obras de Veronese: a realização de “grandes telas, com muitas figuras agrupadas em enormes composições, com estruturas variadas”.
Tendo aprendido com Picasso que todos os estilos são contemporâneos, que o artista deve abrir-se para todo tipo de experimentação, transitando de um registro para outro, Portinari não hesita em inspirar-se nas lições dos primitivos italianos, combinadas ao uso de deformações expressivas, na realização dos Ciclos econômicos (1936-44) encomendados pelo ministro Gustavo Capanema para a sede do Ministério da Educação e Saúde. Entre 1936 e 1938, o artista realiza centenas de estudos em diferentes técnicas (crayon, têmpera, guache, carvão e aquarela, dentre outras) e experimenta escalas variadas, desde representações diminutas a desenhos em tamanho natural para transporte na parede.
Caracterizado pelo equilíbrio conseguido entre a deformação das figuras humanas e o rigor geométrico da composição, o primeiro empreendimento muralista de Portinari será seguido por outras obras de vastas dimensões. Dentre elas, destacam-se as quatro têmperas na Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso (Washington, D.C., EUA, 1941), nas quais o artista demonstra, mais uma vez, o próprio virtuosismo e a capacidade de experimentação, como assinala oportunamente Mário Pedrosa. Outra realização importante localiza-se na igreja de São Francisco de Assis da Pampulha (Belo Horizonte, 1944-5). Nesta, Portinari dá livre vazão a uma veia expressionista – temperada, porém, por uma concepção clássica, que Sérgio Milliet reporta a uma “humanização do cubismo”, em virtude do equilíbrio entre uma estruturação geométrica fluida, mas rigorosa, e a deformação expressiva das figuras.
Portinari leva sua experimentação também para o campo das artes aplicadas, como demonstram os azulejos executados para o exterior do Ministério da Educação e Saúde (1941-4), caracterizados pela superposição de planos. Outro exemplo são os azulejos da igreja de Belo Horizonte, em que o artista joga com dois registros: sintético e simplificado no batistério; expressionista no exterior, de maneira a criar uma continuidade com o painel do altar.
É esse artista múltiplo que o Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta na exposição No ateliê de Portinari: 1920-45, norteada pelo objetivo de apresentar ao público os dois aspectos centrais da poética do artista: processos compositivos e recursos estilísticos variados, que incluem experiências com a abstração, veementemente criticada por ele.
Annateresa Fabris
curador

Morada ecológica sedimenta seu eixo curatorial, concebido por Dominique Gauzin-Müller, na arquitetura que trilha a defesa do meio ambiente por meio de projetos que podem ser qualificados como ecológicos, verdes e sustentáveis.
A mostra sela parceria entre o MAM e a Cité de l’Architecture et du Patrimoine parisiense, instituição referencial nessas duas áreas e organizadora de Morada ecológica. Dominique Gauzin-Müller apresenta precursores da arquitetura moderna como autores de projetos decisivos em sua relação com a natureza. Frank Lloyd Wright (1867-1959) e Alvar Aalto (1898-1976), por exemplo, são considerados realizadores de uma arquitetura “orgânica”, integrando a edificação e a natureza, além de utilizarem materiais como madeira e pedras.
O foco de Morada ecológica não se está nas propostas pioneiras de arquitetos históricos. Nomes fortes da contemporaneidade nesse campo, como o chileno Alejandro Aravena, Leão de Prata na Bienal de Veneza em 2008, e a dupla radicada em Paris Jakob + MacFarlane tem projetos exibidos na coletiva. Numerosos profissionais jovens também ganham a oportunidade de ter a obra discutida e surpreenderão o público brasileiro com suas produções.
Dominique Gauzin-Muller
Curador

No momento em que o Brasil experimenta a transição democrática da Presidência da República, o Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta uma seleção de seu acervo para refletir sobre as expectativas para o país. Seguimos uma linha reta ou vivemos imersos na informalidade?
Desde os anos 1950, a abstração geométrica implantou-se entre nós como sinônimo de uma arte universal. A racionalidade abriria os caminhos para o desenvolvimento nacional. Brasília foi a maior das realizações dos geômetras brasileiros e atestou a vocação nacional para um construtivismo capaz de vencer até o árido vazio do cerrado.
Entretanto, a incerteza, o acaso e as singularidades logo apareceram, desviando o rumo triunfante do construtivismo desenvolvimentista que havia criado a nova capital federal do nada. A realidade de nossa história tem sido feita de avanços e recuos, hesitações e utopias.
Reunimos aqui cerca de oitenta obras que criam uma tensão entre a ordem geométrica e a desconstrução informal. Desse contraste, vai-se fazendo o Brasil.
Felipe Chaimovich
Curador

O ambiente de Ernesto Neto convida ao encontro. Diversas ilhas de convivência escorrem de um teto contínuo de crochê, formando diferentes situações coletivas: uma praça com bancos, uma sala de música, uma biblioteca. Nunca estamos isolados: há sempre lugar para mais alguém, mesmo que ainda não tenha chegado.
A estrutura tecida leva o visitante de uma ilha a outra, como se o museu fosse um grande rio abraçado por uma tarrafa oceânica. A paisagem vai se definindo conforme avançamos, pois cada agrupamento tem cores específicas, cheiros próprios, sons peculiares.
A obra de Ernesto Neto expande a forma dos objetos escultóricos para a experimentação sensorial, pois às vezes lhes esticamos as partes, outras nos sentamos sobre suas gotas, ou enfiamos o nariz em seus perfumes. O material elástico de redes e membranas que compõe a instalação é assim contaminado pela vida do público. Gentil e suave, Dengo é um convite ao mergulho numa forma incapturável, cuja liberdade está em mudar a cada novo encontro conosco.
Ernesto Neto e Felipe Chaimovich
Curadores

A paixão pelos mistérios da fotografia levou o casal Michel e Michèle Auer a se lançar, há quarenta anos, na aventura de constituir uma das mais prestigiosas e importantes coleções privadas do mundo. O MAM tem o privilégio de mostrá-la, pela primeira vez fora da Europa, em virtude das comemorações do Ano da França no Brasil.
Essa aventura tem seu centro irradiador justamente na França, país onde a fotografia foi inventada em 1839 e palco dos principais movimentos artísticos de vanguarda do início do século XX. Esses movimentos deram à arte e à fotografia, em particular, um caráter mais experimental.
Composta por obras produzidas ao longo de toda a história da fotografia, Olhar e fingir apresenta uma seleção de quase trezentas das cerca de 50 mil obras da coleção. As fotografias estão dispostas em quatro módulos, que trazem à tona experimentações, rupturas e revisões da função da fotografia, rompendo com a ordem cronológica para reapresentá-las a partir de conexões que tem a transgressão como fio condutor. Os módulos são: Transfigurações, Beleza convulsiva, Performance e Fantasias formais.
A curadoria procurou selecionar obras geradas a partir da inquietação de artistas que expandiram o repertório da fotografia para além de sua função documental. As obras expostas fizeram a fotografia alçar voo rumo à subjetividade e a complexidade da representação até a conquista de sua autonomia como expressão artística. Ao invés de mimetizar a realidade, estas fotografias propõem encenações, pontos de vista inesperados e experimentações sobre o registro fotográfico que apresentam aos nossos olhos a visão do fantástico.
Olhar além do aparente. Fingir, criar ficções a partir dos vestígios captados na realidade, para representar um mundo paralelo, não visível, no qual o homem possa investigar seus desejos, fantasias e inquietações. Olhar e fingir é a fotografia em estado transgressivo e questionador.
Elise Jasmin e Eder Chiodetto
Curadores

Por uma questão de justiça poética, já que o artista partiu tão cedo, as telas de Jorge Guinle decidiram permanecer jovens. Fisicamente até, elas passam a impressão de tinta fresca. Irradiam sempre a mesma vontade de pintar, a mesma vontade de viver, continuam a provocar, a agradar e a desagradar.
Passados vinte anos de seu desfecho prematuro, a obra de Jorge Guinle tornou-se quase sinônimo de pintura brasileira contemporânea. Ela traduz à perfeição a forma convulsa do mundo atual: belo caos.
Jorge Guinle vivia a pintura com tal intimidade que a fronteira entre vida e arte era quase indistinta. Passional, Guinle pintava a tela no chão, girando-a em todos os sentidos, ora relaxado, ora frenético, como se não fosse possível, nem desejável, acabar o quadro. O colorista virtuoso errava ao acaso pelo perímetro do quadro, com alegre desenvoltura ou angústia manifesta. Sempre haveria a próxima tela.
Enquanto atacava a tela, Jorge Guinle podia evocar Matisse ou De Kooning. Artistas de sua geração, como Julian Schnabel, Anselm Kiefer e Georg Baselitz, forneciam-lhe estímulos que redesenhavam um mapa da contemporaneidade onde a pintura voltava a ser relevante. Em comum, havia o desafio da revitalização do instinto de pintura. Jorge Guinle não se furtou a esse desafio.
Um mérito incontestável na curta e fulgurante trajetória artística de Jorge Guinle foi o de liberar a pintura brasileira da tradição modernista. O artista tinha muita familiaridade com essa tradição, por sua educação francesa, mas era dotado da nativa desinibição ianque, que lhe permitia assimilar os opostos e contrários inerentes à vida contemporânea. O produto final era brasileiro, desprovido da inércia da tradição e do espírito competitivo estressante.
Jamais tantas telas e desenhos de Jorge Guinle foram reunidos num mesmo lugar. Somente agora eles confrontam a dimensão pública que sempre perseguiram. Com esta exposição, os curadores buscam recuperar o processo histórico e cultural em que a obra de Jorge Guinle está inserida. Com seus títulos divertidos ou tocantes, suas pinceladas aleatórias ou intencionais, as pinturas de Guinle deflagram o belo caos, abrindo um mundo à nossa frente e falando de uma vida que merece ser vivida.
Vanda Klabin e Ronaldo Britto
Curadores
Em cima da sua Prostituta da Babilônia − uma moto velha BMW, que só pegava depois de muitas aceleradas −, Walter Smetak percorria as ruas de Salvador. Músico, filósofo, artista plástico, homem de teatro, lunático, poeta e, sobretudo, professor, Smetak cruzou fronteiras musicais, místicas e estéticas. Fez muita coisa a um só tempo.
As plásticas sonoras refletem sua tendência de integrar artes e conhecimentos. Da mistura da música com as artes plásticas, Smetak propõe uma imersão no mistério do som. Constrói novas instâncias de percepção e cria híbridos de instrumento e escultura. São instrumentos que despertam novas faculdades de percepção.
Walter Smetak desconstrói a música para alcançar o som. Do som surge a forma que avança no tempo e no espaço para fundar uma arte espiritual transformadora de mentes, cabaças e cabeças.
A obra foi criada para ser tocada pela imaginação, ou, como dizia Smetak, para ser ouvida com o olho, uma vez que o seu som é virtualmente invisível.
A exposição Smetak: Imprevisto foi idealizada a partir dos vestígios deixados pelo artista em páginas datilografadas e nos inúmeros rolos de gravação das suas experiências sonoras. Propõe-se, assim, um retorno ao espírito almejado pelo artista: manter abertas novas possibilidades de diálogo, estimular novas reflexões, proporcionar releituras imprevistas e atuais.
Jasmin Pinho e Arto Lindsay
Curadores